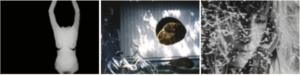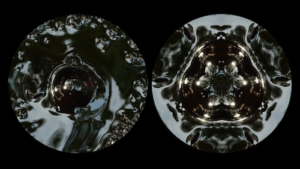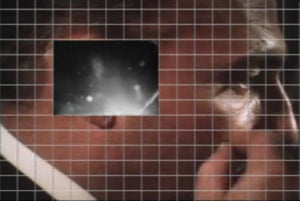Editorial
Há quase três anos, nós — Letícia, Glênis e Amanda — sentávamos no chão de um pequeno apartamento em Brasília para tentar decidir as estruturas de nosso projeto de 12 meses. Não sabíamos que o projeto só viria a acontecer em 2021. Enquanto propúnhamos que o filme do terceiro ciclo das Sessões Verberenas poderia ser um filme dirigido por uma mulher do século XX no Brasil, não sabíamos que, quando esse momento finalmente chegasse, viveríamos um presente em que a Cinemateca Brasileira seria vítima de um incêndio causado por negligência ativa dos responsáveis por essa instituição pública. Não sabíamos. Naquele momento, há três anos, a faísca para nossa curadoria era apontar para o que veio antes e possibilita o caminho construído até aqui.
“Primeiro, a gente ama a pessoa. Depois, quer se apossar do presente dela. Depois, quer se apossar do futuro dela”, escreve a protagonista Pity em Os homens que eu tive, de Tereza Trautman — o filme escolhido para esta Sessão Verberenas. Quando sua amiga chega e lê o texto, Pity o completa escrevendo: “E fica angustiada por não poder se apossar do passado”. Por sua estrutura interna, que é leal aos processos próprios de Pity, o filme remete à integridade do tempo. Por suas condições extrafílmicas, o filme remete à continuidade de um desenvolvimento histórico de construção de narrativas que escapavam à lógica hegemônica da ditadura militar. Por sua situação de exibição no momento atual, o filme estimula uma espectatorialidade que remete às ameaças constantes de destruição da memória no Brasil em nome de um ideal de progresso traidor. Trata-se do progresso que, próximo ao destino do anjo da história de Walter Benjamin e do anjo da geohistória de Bruno Latour, nos tornará ainda mais horrorizados quando virarmos as costas e dermos de cara com o lugar ao qual chegamos.
Em outra chave, os textos desta edição da revista Verberenas desestabilizam noções de passado, presente e futuro. Neles, o tempo não se satisfaz com essas três categorias isoladas. Não são olhares que encaram fixamente uma única direção. Pelo contrário, seus corpos livres, ouvidos abertos, olhos em busca se movimentam por essas três noções em um esforço, procurando uma aposta.
Escrever, ver um filme, fazer um filme, fazer planos e tomar quaisquer ações de construção: tudo isso é sempre uma aposta. No ato do gesto, do risco, naquele segundo se reúnem os três tempos da vida. Neste movimento, o texto de Waleska Antunes, sobre a obra Surname Viet Given Name Nam (1989), de Trinh T. Minh-ha, chama atenção ao permanecer no tempo do entre e, nesse limiar, abranger múltiplas vozes que tornam impossível uma verdade única sobre a mulher vietnamita. Já Ana Júlia Silvino escreve sobre fabulações que vibram através de ruídos, imagens que existem em função das temporalidades sonoras e sensoriais presentes nos filmes de Paula Gaitán.
A pesquisadora Isabella Poppe traz cenas da autobiografia da cineasta Marilu Mallet no exílio após a deflagração da ditadura militar chilena, e apresenta um isolamento histórico capaz de alienar uma pessoa do presente e da ideia de futuro, ao separá-la da construção coletiva de seu país. Trazemos ainda mais uma entrevista de Lygia Pereira, dessa vez com a cineasta Viviane Ferreira — em que a artista pensa o tempo como uma energia que a orienta, e o cinema que produz como meio para transmitir “modos de viver”. O texto conta com ilustração de Hana Luzia. Nesta edição, trazemos também os trabalhos visuais das artistas Isabella Pina, ilustradora, e Ana Luíza Meneses, fotógrafa que idealizou e produziu a capa da revista e do editorial.
Em uma carta a Juliano Gomes — e a todas que porventura quiserem tomar parte na conversa, Lorenna Rocha se posiciona como pensadora de um cinema negro em infindável processo de invenção, e propõe um olhar que contemple o abismo. Letícia Marotta entrevista a cineasta Anita Leandro, diretora de Retratos de Identificação (2013), que fala do processo de trazer arquivos à vida, em um tempo em que as ruínas da ditadura militar brasileira ainda estão à espera de ressignificação. A memória, no entanto, é feita também do presente cotidiano, e Camilla Shinoda compartilha em seu texto como as trocas de ideias e referências entre uma professora e seus alunos de audiovisual podem dar continuidade à produção das imagens que formarão o amanhã.
Também a fabulação pode ser um ato de subversão do tempo. Ao escrever sobre Os homens que eu tive, Roberta Veiga aponta que o filme de Trautman abre “uma fenda para uma vida possível” ao proporcionar imagens de gozo e autonomia no Brasil de 1973. Os homens que eu tive é o filme do terceiro ciclo das Sessões Verberenas, exibido de 24 a 26 de setembro e tendo seu debate com a pesquisadora convidada Roberta Veiga às 18h do dia 26.
Quando pensamos em Os homens que eu tive como marco histórico — considerado o primeiro longa-metragem moderno dirigido por uma mulher no Brasil — somos obrigadas a pensar também no que significa pensar nos filmes em termos de “primeiros”. Mais de quarenta anos separam Os homens que eu tive de O mistério do dominó preto, de Cléo de Verberena, de 1931, aquele que é considerado o primeiro longa-metragem clássico brasileiro dirigido por uma mulher. Em ambos os casos, o risco e a realidade do apagamento assombram: o filme de Verberena foi perdido, não se sabe de uma cópia que reste; o de Trautman foi censurado semanas depois da sua estreia em 1973. Face a esse constante perigo, não podemos evitar pensar na concretização desse medo e nos perguntamos: quantos filmes foram perdidos nesses quarenta anos? Quantos foram perdidos antes de 1931?
Resgatar as materialidades, os vestígios, agir e tecer um fio é uma decisão consciente. E, ao mesmo tempo que a continuidade é uma construção e um esforço, ela é também inevitável. Resta compreender o que levar conosco nesse processo e o que pode nos auxiliar a desvendar os desafios que o tempo determina. Esperamos que os textos publicados aqui, junto com a escolha curatorial, possam caminhar nessa direção.
Letícia Bispo, Amanda Devulsky e Glênis Cardoso
PENSAR OS FUNGOS: REFLEXÕES ATRAVÉS DE NAUSICAÄ DO VALE DO VENTO E OS COGUMELOS DE ANNA TSING
A divisão entre natureza e cultura é uma máxima existente no Ocidente Europeu-estadounidense. Essa separação coloca o ser humano, e sobretudo o homem branco, como modelo de superioridade no planeta, seja no que se chama de natureza seja no que se entende como cultura. Esse entendimento que visa monopolizar toda e qualquer natureza custa caro à nossa sobrevivência, e não é à toa que entre as separações existentes entre eras geológicas, a que estamos vivendo tem sido chamada pelos filósofos e antropólogos como Antropoceno, a Era dos Humanos, ou ainda, Capitoloceno, a era do Capitalismo e das catástrofes.
Pensar que fazemos parte de uma era nos remete ao fato de que ela pode acabar com a nossa própria extinção devido às ações de exploração natural exacerbada, uma das causas inclusive da grande quantidade de arboviroses e doenças outras presentes entre nós humanos. Donna Haraway elabora: “Trata-se de mais do que “mudanças climáticas”; trata-se também da enorme carga de produtos químicos tóxicos, de mineração, de esgotamento de lagos e rios, sob e acima do solo, de simplificação de ecossistemas, de grandes genocídios de pessoas e outros seres etc., em padrões sistemicamente ligados que podem gerar repetidos e devastadores colapsos do sistema. A recursividade pode ser terrível.” (HARAWAY, 2016)
Pensando nisso, proponho pensar além do nosso mundo, em um mundo inventado por Hayao Miyazaki que muito tem a acrescentar nessa reflexão. A animação Nausicaä do Vale do Vento, de 1984, foi dirigida por Hayao Miyazaki, sendo ele cofundador do famoso Studio Ghibli. A animação em questão, a primeira dirigida por Miyazaki, apresenta elementos que vemos em seus filmes posteriores: protagonismo de meninas como Chihiro em A Viagem de Chihiro, de 2001, amadurecimento e aprendizagem como em O serviço de entregas de Kiki, de 1989, convivência com outras espécies e embate entre culturas dominantes e tradicionais como em Princesa Mononoke, de 1997, entre outros exemplos.
Nausicaä é uma lição sobre a resiliência de um povo que tem sua pequena parcela de natureza intacta para sobreviver em meio ao caos. Esse pequeno reino sobrevivente me lembrou muito Ailton Krenak em seu livro “Ideias para adiar o fim do mundo” não apenas quando ele nos apresenta as estratégias de povos indígenas brasileiros frente à colonialidade da sociedade abrangente, mas como estes grupos se relacionam com outros seres não-humanos. Isto é, na cosmologia Krenak, o rio Doce é um parente muito presente no cotidiano e que por essa razão não deveria ser explorado e devastado pela mineração. Krenak nos indaga sobre como explicar isto às grandes corporações humanistas, como a ONU (Organização das Nações Unidas), por exemplo. Enquanto para os Krenak esses seres não-humanos são parentes concretos, tais organizações os veem como elementos em que se basta preservar pequenos espécimes ou pedaços de biomas com um fim quase museológico. A luta do povo da Vila do Vento, portanto, me lembra essa passagem, pois não estavam apenas salvando um tipo de ambiente e sim garantindo um meio e forma de viver milenar baseado no vento e nas histórias sobre o vento.
O que proponho aqui é uma reflexão sobre relações presentes na animação de Miyazaki que representam boas figuras para pensar a antinomia natureza versus cultura. Aqui, no entanto, sem querer utilizar dessa separação ou embate entre duas esferas, uso naturezasculturas para falar sobre a relação que personagens constroem com pessoas, insetos e outros animais e fungos a partir do texto “Margens Indomáveis: cogumelos como espécies companheiras”, da professora e antropóloga pesquisadora do antropoceno Anna Tsing.
Domesticação fúngica: aqui e no Vale do Vento
Em “Margens indomáveis”, Tsing apresenta uma visão sobre os cogumelos e nossa relação com eles, de primeira vista pela grande quantidade de espécies comestíveis e terapêuticas são considerados “fungos úteis” para os humanos. Os seres humanos percorreram milhares de anos e continuam a procurar pelas paisagens por esses seres não-humanos. Dito que os fungos são incríveis companheiros interespécies, Tsing apresenta como eles atuam em simbiose com outros seres, o que é demonstrado pela renovação de ecossistemas e nutrientes que a existência de fungos companheiros possibilita (TSING, 2015, p. 185). Eles protegem o solo, levam água às plantas e recebem tudo em troca. Algumas espécies são mais perigosas para nós, outras tomam gosto por alimentos estranhos – como os fungos que entopem os tanques de gasolina do avião – mas é certeza que é inevitável a presença de fungos perto de nós.
Como nos apresenta Tsing, é o excepcionalismo humano – a ideia de que somos os únicos seres do mundo que não se relacionam mutuamente com outras espécies – que não nos deixa enxergá-los por perto, entender nossas relações de interdependência e, ainda mais, não perceber a força de colonização dos fungos nas atividades humanas. Por conta de fungos, nos obrigamos a criar alternativas a eles, seja a troca de navios de madeira por navios encouraçados, seja a imigração para outro país pois fungos não permitiam o plantio, entre muitas outras ocorrências. Além do mais, sendo os fungos renovadores do ecossistema, eles são os principais inimigos da monocultura, eles querem uma paisagem multiespécies para continuar colaborando com todos os seres do mundo. Dado todo esse poder de nos colonizar, os fungos são uma ameaça para a ideia de domesticação do natural, é impossível domesticar o indomável.
A partir disso, penso nas relações entre humanos e fungos no mundo de Nausicaä. Como já dito, o Vale do Vento trata-se de uma comunidade beneficiada pelas ações do vento e por seu cuidado ao pouco de território e natureza que existe em um ambiente pós-apocalíptico. O apocalipse em Nausicaä, decorrente de grandes guerras e armas potentes bem como pela devastação de recursos do planeta em um colapso industrial, ocorreu há mil anos de distância do período em que se passa a história.
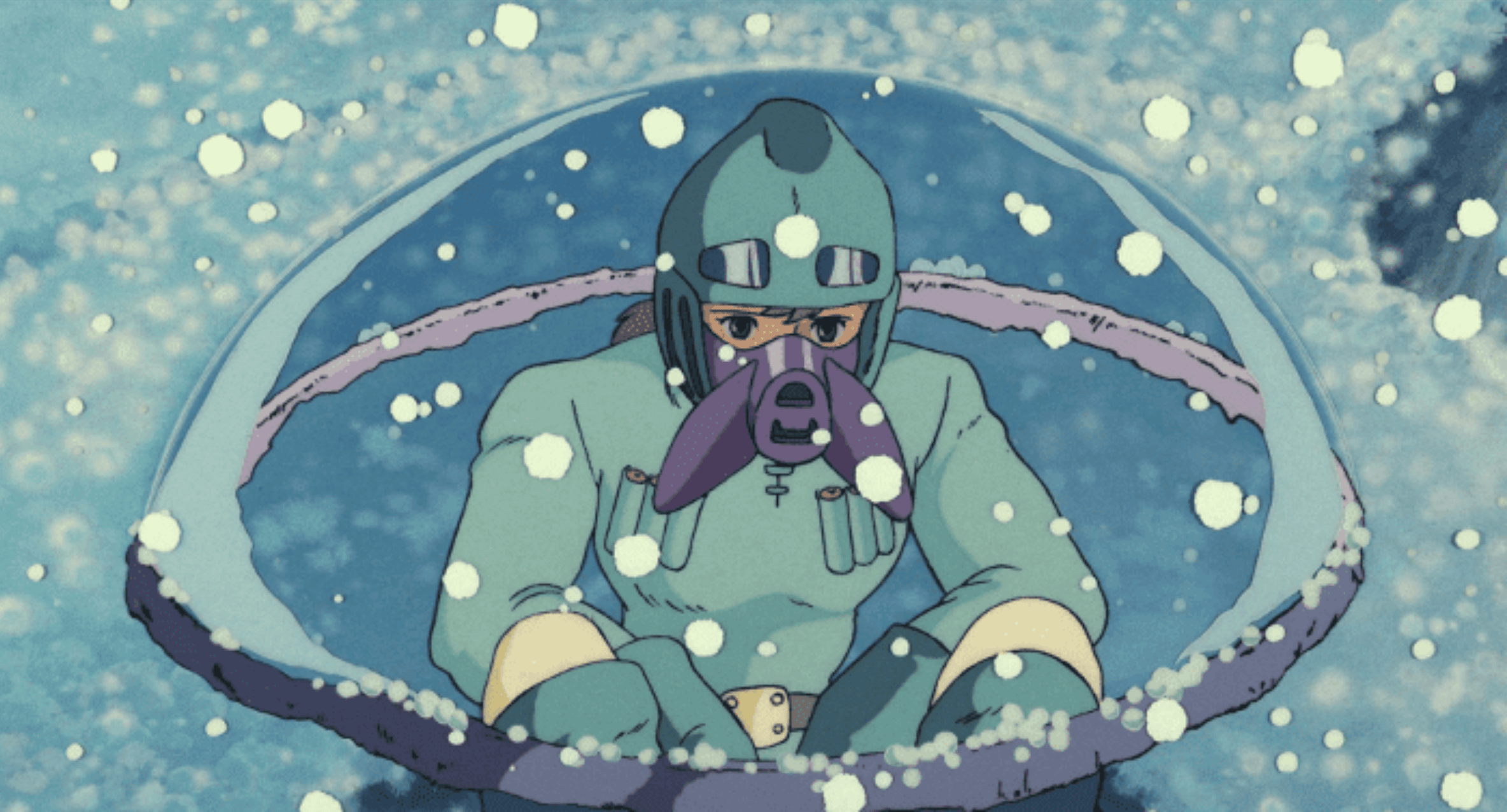
Nesses mil anos, vestígios dessas guerras e devastações ainda são aparentes. O maior fragmento aparente é o “Mar da corrupção”, uma floresta infestada de insetos gigantes e fungos com esporos mortíferos aos humanos. Esse mar cresce à medida que infesta outros reinos e vilarejos e por isso, o vento do reino de Nausicaä exerce um papel de proteção que se torna objeto de interesse e disputa. Nessa floresta existem também insetos muito temidos chamados de Ohmu, animais gigantes que, quando enfurecidos, em bando possuem grande poder de destruição de comunidades humanas.
Dessa forma, o que no nosso mundo parece pequeno, como os insetos e os fungos, no mundo de Nausicaä esses seres se mostram como predadores e colonizadores da humanidade. Levando em conta o que Tsing salienta sobre a condição humana ser uma relação entre espécies das mais variadas, na animação a importância atribuída aos fungos evidencia duas possibilidades de vínculo com esses seres: de um lado se procura entender a floresta fúngica e seus perigos, de outro se pretende destruí-la. A primeira forma representada por Nausicaä e sua curiosidade e respeito pela floresta tóxica, e a segunda forma representada por outro personagem, a princesa Kushana, do reino de Turumekia. Reino que, por sua vez, é reconhecido pela truculência contra seres humanos e não-humanos.
A ideia de dominação naturalcultural presente em animais humanos, e que segue o filme todo com a violência da princesa Kushana, é própria de humanos que vivem em sociedade ocidental, muitas vezes caracterizada como sociedade viral, isto é, que querem e pensam que podem transformar, domesticar e replicar seus sentidos e costumes para quaisquer naturezasculturas deste mundo. Como destaca Anna Tsing, mal sabem que são eles mesmos colonizados por micorrizas que crescem em um mundo invertido como árvores no solo.
Nausicaä: a heroína de trajes azuis e os fungos
A partir dessa vontade de dominação de algo indominável pelo reino Turumekia, a animação nos orienta por um embate entre dois tipos de sociedade. O reino do Vale, comandado pela princesa Nausicaä, trata-se do que se chamaria de uma sociedade fria, em que o povo e o modo de vida estão baseados em uma historicidade cíclica, em que se preza a continuidade, parecida com um relógio com ponteiros. Já o reino de Turumekia é uma sociedade quente, baseada na entropia, na geração de mais desigualdades e nas grandes transformações, que mais se parece com uma máquina a vapor.
Essa ideia é interessante para pensar como as duas princesas comandam as humanidades em questão em relação ao Mar da Morte. Kushana gostaria de subjugá-lo, por mais que Anna Tsing nos diga que são mesmo os fungos que nos colonizam, afinal, enquanto estamos em casa, eles nos visitam mas também estão livres na imensidão da Terra. Nausicaä, por sua vez, gostaria de entendê-los para garantir um bom convívio, para entender como causam doenças e desvendar os mistérios daquela floresta.
Mesmo a fúria dos Ohmu só é contida quando alguém os compreende, Nausicaä é a única que consegue mandar os insetos ferozes de volta para a floresta porque entende o que é se sentir ameaçada. Os Ohmu sentem a ameaça humana quando chegam perto de suas florestas, Nausicaä sente medo do poder destruidor dos Ohmu em seu vilarejo e sente o adoecimento de seu pai por causa dos esporos venenosos da floresta. Não digo que o que houve entre Nausicaä e os não-humanos foi uma pedagogia baseada no medo ou na fúria, mas sim, uma compreensão de que as interações precisavam ser interpretadas de outra forma para que o relógio de ponteiros da sociedade de Nausicaä, dos insetos e dos fungos pudesse continuar a adiar o fim do mundo.
Os fungos colonizaram a vila do Vento a tal ponto que Nausicaä procurou compreendê-los. Sobre essa mudança por meio das interações com não humanos Anna Tsing nos lembra “que tais relações podem também transformar os humanos é algo frequentemente ignorado.” (p. 184). Os que são próximos de Nausicaä não entendem como ela pode ter compaixão por aqueles que causam tanta destruição, pois em uma lógica de colonização da natureza pelos humanos “tende-se a imaginar a domesticação como uma linha divisória: ou você está do lado humano, ou do lado selvagem”. (TSING, 2015, p. 184)

Encaminhando-se para o fim da animação, essa curiosidade destemida de Nausicaä para aprender a conviver com os fungos mortíferos é a salvação. Os fungos em Nausicaä são até então mortíferos para os humanos, pois precisavam de tempo para restaurar um ambiente devastado pelas guerras e impactos humanos. Sobre essa proteção, Tsing exemplifica em seu texto com a apresentação de uma série de micorrizas que acumulam metais pesados para proteger plantas, ou ainda fungos que captam radioatividade de acidentes nucleares e servem de alimento para animais que moram nesses ambientes. O que teria acontecido então caso os planos de devastação do reino Turumekia tivessem sido colocados em prática?
Em nosso planeta, a nossa falta de identificação com os fungos nos custa caro. Sobre isso, Anna Tsing nos diz que está difícil a sobrevivência para o reino fungi que habita as margens de nossas casas e cidades, que tem sido difícil para se posicionarem, tomarem partido junto de nós. Em Nausicaä, Miyazaki apresenta um mundo onde os fungos se posicionam junto de humanos e preparam humildemente uma floresta livre de venenos, um lugar onde se é possível respirar depois de tanto tempo. Mas só há posicionamento desses companheiros quando uma humana consegue desvendar os mistérios desse companheirismo, que vai além dos ambientes domésticos e que mostra a vastidão do mundo.
Por isso, pensemos sobre os cogumelos, sobre os fungos, caminhemos para encontrá-los às nossas margens, o que será que nos dirão?
Referências
“Margens indomáveis: cogumelos como espécies companheiras” de Anna Tsing
“Ideias para adiar o fim do mundo” de Aílton Krenak
“Antropoceno, Capitaloceno, Plantationoceno, Chthuluceno: fazendo parentes” de Donna Haraway
Entrevista com Claude Lévi-Strauss presente no livro “Arte, linguagem e etnologia”
PIPILOTTI RIST NÃO SENTE FALTA
No presente ensaio são consideradas três instâncias do corpo: o corpo teorizado por estudos filosóficos, o corpo em cena da artista aqui estudada e o corpo da pesquisadora: meu corpo. Para isso, foi preciso, por alguns momentos, superar minha vergonha de ter um corpo.
A partir da minha visita à Exposição ELLES: mulheres artistas na coleção do Centro Pompidou, que ocorreu em 2014 no CCBB em Belo Horizonte, minha visão sobre o espaço ocupado pelas mulheres nas artes foi definitivamente alterada. Uma das obras ali expostas me perturbou mais do que as demais. De longe ouvi que alguns garotos gargalhavam na sala da exposição, atraindo curiosos: o riso, aqui num tom de deboche e desaprovação masculina. Me aproximei das cortinas vermelhas, sem fazer ideia do que me esperava – e lá estava ela, descabelada, desfocada e gigante no telão.
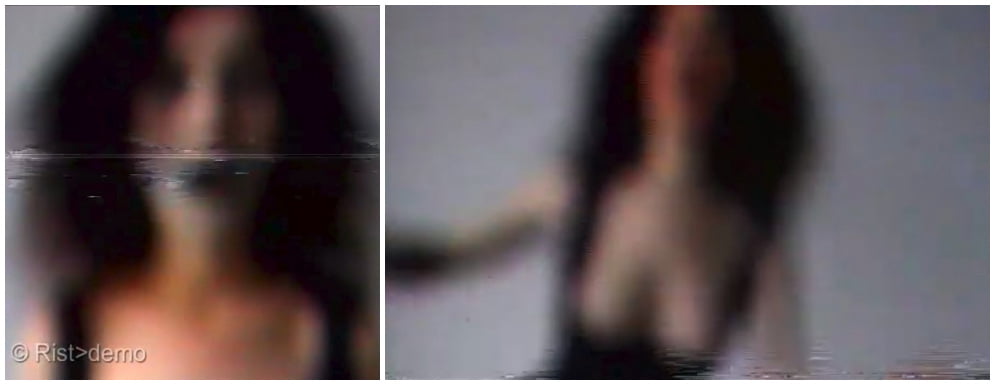
Em 1962, nascia Elisabeth Rist – e minha mãe também. No mesmo ano, Charles Schulz lançou um livro com os personagens de Peanuts, chamado Happiness Is a Warm Puppy (A felicidade é um cachorrinho fofo), frase da Lucy em uma das tirinhas da turma do Charlie Brown. Em 1968, John Lennon vê o slogan de um artigo numa revista sobre armas, uma paródia à tirinha do Snoopy, e assim batiza uma música nova dos Beatles: Happiness Is a Warm Gun. O músico nega que as metáforas da letra se refiram a seu vício em heroína. Segundo ele, a composição é sobre a adrenalina de ter acabado de atirar em algo, como reforçou Belchior ao inserir a tradução “a felicidade é uma arma quente” em uma de suas canções. Em 1980, Lennon foi assassinado.

Seis anos depois, em 1986, ano anterior ao meu surgimento no líquido amniótico, aos 24 anos, Pipilotti Rist1, então estudante universitária, gravou um vídeo para participar de um festival. A introdução da música dos Beatles: “She’s not the girl who misses much” é apropriada e reescrita para primeira pessoa e se torna o título do curta: I’m not the girl who misses much, verso que Rist canta repetidamente, como uma espécie de mantra macabro do qual ela faz questão de se convencer.
Ao longo de sua carreira, Rist sempre teve uma ligação forte com música: ela foi integrante da banda Les Reines Prochaines e frequentemente canta nas trilhas sonoras de seus trabalhos. Sua voz distorcida no curta de 86 é mais um elemento que oculta e difunde qualquer ideia de identidade: o som que ela emite varia do extremamente agudo e feminino/infantil ao gutural grave masculino/adulto. Tais distorções fazem lembrar o efeito que modificava vozes em depoimentos de suspeitos de crimes ou de testemunhas anônimas em noticiários de TV dos anos 90. A sonoplastia é incômoda por remeter a figuras estereotipadas, como uma criança birrenta ou uma mulher histérica, com toda a carga pejorativa patriarcal que o termo evoca.

Rist está usando um vestido preto decotado, que ela posiciona de modo a deixar seus seios descobertos, além de um vívido batom vermelho em seus lábios: sistema muro branco/buraco negro da rostidade de Deleuze.2 Os poucos elementos perceptíveis em seu aspecto a ligam a um estereótipo de feminilidade sexualizada – por ela mesma ou por outrem? – e provocante, como uma boneca de corda, brinquedo que precisa ser manipulado para funcionar. Seus cabelos negros bagunçados formam mais um signo ligado à histeria, delicada palavra para esta doença mental.
O efeito esmaecido e sem nitidez causa o desconforto pela indeterminação do ser. Nas imagens monocromáticas – que evocam uma fita VHS proibida e maldita – em contraste com o azul, blue movie, o vermelho adiciona um filtro de sangue, horror, quando Rist se posiciona com os braços abertos, como que crucificada na parede. Ela dança em momentos ritualísticos, de possessão – semelhante aos espasmos da tarantela – e sorri um sorriso sardônico. Seu corpo não forma uma imagem assimilável, o que a torna a evidência de um movimento aberrante: uma aberração. Quando ela sorri, também afirma, de forma subversiva. Seu rosto é como um corpo sem órgãos, desorganizado, monstruoso.

A respeito da nomenclatura para se referir a I’m not the girl who misses much, as distinções entre vídeo e curta – terminologia que adotei aqui – são exploradas por Philippe Dubois em Cinema, vídeo, Godard3:
um sistema de imagens tecnológicas que sempre teve problemas de identidade: o vídeo, esta ‘antiga última tecnologia’, que parece menos um meio em si do que um intermediário, ou mesmo um intermédio, tanto em um plano histórico e econômico (o vídeo surgiu entre o cinema, que o precedeu, e a imagem infográfica, que logo o superou e alijou, como se ele nunca tivesse passado de um parêntese frágil, transitório e marginal entre dois universos de imagens fortes e decisivos) quanto em um plano técnico (o vídeo pertence à imagem eletrônica, embora a sua seja ainda analógica) ou estético (ele se movimenta entre a ficção e o real, entre o filme e a televisão, entre a arte e a comunicação, etc.). Os únicos terrenos em que foi verdadeiramente explorado em si mesmo, em suas formas e modalidades explícitas, foram o dos artistas (a videoarte) e o da intimidade singular (o vídeo familiar ou o vídeo privado, o do documentário autobiográfico, etc.). Ele constitui, portanto, um ‘pequeno objeto’, flutuante, mal determinado, que não tem por trás de si uma verdadeira e ampla tradição de pesquisa.
Me pergunto quais técnicas Pipilotti dispunha quando criou sua primeira obra. Àquela época, creio na possibilidade de uma destruição de negativos originais, como fazia Man Ray de forma artesanal nos anos 20. Salvas as devidas proporções tecnológicas, Rist interferiu na película, desenhando em sua velocidade, num movimento de rebobinar (RWD) e avançar (FFWD) permanente. Tais interferências realizadas na pós-produção deixam suas expressões e formas indistintas. A ausência narrativa e as imagens de Rist também se assemelham às de Man Ray em seu curta Estrela do Mar (1928), pois são difusas e têm algo de pictóricas, impressionistas. E assim, é como se ela segurasse um controle remoto em suas mãos, ela se apropria do controle sobre a performance de seu corpo, filmado em primeiro plano. A quebra da quarta parede é um recurso utilizado por Rist para criar certa cumplicidade com o espectador, além de conferir uma certa materialidade à fita: o que nós vemos, o que nos olha.4 Ela sabe que estoy aqui, o que aumenta meu pavor diante dela.
A música original é inserida ao final, rumo ao terceiro ato. Os primeiros versos da introdução suave promovem uma breve descrição distanciada de um ser feminino: “Ela conhece bem o toque da mão de veludo, como um lagarto na vidraça de uma janela”, emoldurada pelas guitarras distorcidas que logo surgem. A voz de Lennon proporciona um conforto, um alívio, pois soa familiar e possibilita um ritornelo diegético. A realidade normativa invade a cena do vídeo e Rist veste sua camiseta. Quando seu rosto torna-se mais visível e ao vestir outra roupa, a obra faz rizoma com o real. Ela cobre o corpo nu e sai do ambiente branco e vazio, mostrando que outros movimentos são possíveis: está pronta para criar novas linhas de fuga. Árvores balançando ao vento são mostradas através da janela, recorte de cena da natureza que afirma possibilidades da vida além das imagens perturbadoras.

Tenho me defrontado com este curta desde aquela época. As poucas pesquisas nacionais que encontrei apresentam alguns fragmentos de interpretação, mas quase nada sobre o dispositivo e as técnicas de vídeo utilizadas por Rist. Entre elas, Gomes (2009), em seu estudo O retrato e a relação com os dispositivos, destaca no curta de Rist “a distância de anos entre o momento em que a música foi lançada e o momento em que foi reinterpretada; a separação entre a performance ‘desengonçada’ da artista e a suavidade da interpretação da versão original; a paródia performática das gestualidades típicas das dançarinas dos anos 60”. Já Fortuna (2012) lembra que a artista “usa efeitos visuais, como o desfoque, para desgastar a imagem e tornar o reconhecimento impossível”.5
O vídeo me provoca uma perturbação e fascinação diante das imagens, semelhante ao que senti quando ainda criança me deparei com Convenção das Bruxas (1990), com Anjelica Huston: meu medo infantil se tornou uma obsessão que me levou a assistir à fita diversas vezes. Sinto algo próximo ao assistir produções como o curta dentro do terror mainstream O Chamado (2002), de Gore Verbinski, como se o telefone pudesse tocar a qualquer momento. As primeiras jovens que aparecem na tela resumem a proposta crítica do longa, a ameaça de morte, leitmotiv de quase toda produção horrorífica, em uma conversa diante do aparelho televisivo. “Detesto televisão, me dá dor de cabeça” – inicia a primeira delas, que continua:
Há tantas ondas magnéticas no ar por causa da TV e dos telefones que estamos a perder dez vezes mais células cerebrais do que deveríamos. As moléculas da nossa cabeça estão todas em desequilíbrio. Todas as companhias sabem disso, mas não fazem nada. É como uma conspiração. Você faz ideia de quantas ondas eletromagnéticas passam pela nossa cabeça por segundo?” – conclui, ao que responde a amiga: “Tenho uma história melhor: Já ouviu falar da fita de vídeo que te mata quando você a assiste? As pessoas a alugam, parece. É como assistir a um pesadelo de alguém. De repente, aparece uma mulher, que te sorri, que está te vendo através da tela. Quando acaba, seu telefone toca: alguém sabe que a viu, e te dizem: “Dentro de 7 dias, você vai morrer”.
She’s got a ticket to ride
Em uma das poucas entrevistas que encontrei sobre o vídeo, realizada em 2011 e transcrita abaixo, Rist nos convida a refletir sobre o conforto nas sociedades contemporâneas – isso claro, a partir do lugar de fala de uma mulher branca em um país como a Suécia, em um contexto muito diferente do atual. A artista alega que ainda considera I’m Not the Girl Who Misses Much (1986) o seu melhor trabalho, este que mais tarde a consagrou como a pioneira suíça da videoarte: “Acho que é o único trabalho bom que já fiz”. Ela inicia sua fala assim, e ri, muito.
Naquela época eu não pensava em me tornar uma artista, eu enviei o vídeo para o National Film Festival com o único motivo de conseguir um ingresso grátis para ver o Festival de Cinema. Metade do som estava na faixa de áudio 1 e o restante estava na faixa de áudio 2, mas eles só conectaram a faixa de áudio 1 no momento da exibição. Então quando estava na metade eu me levantei na sala de projeção e fiz tudo isso sozinha [ela se levanta e imita os gestos das mãos, querendo dizer que dublou a si mesma, para preencher o som que faltava]. Eles reagiram muito emocionados, disseram “você me tocou extremamente”. Foi nesse momento que fui notada pela cena do cinema experimental, mas eu ainda estava muito longe das Belas Artes ou algo do tipo, era um filme experimental. Isso aconteceu antes da MTV, […] não havia distribuição, exceto no Festival de Cinema. Para mim, a memória desse trabalho está ligada às centenas de reações que recebi. Me disseram que se viram de forma absoluta nele e isso é o que eu espero da obra de arte: a identificação completa dos espectadores. É como uma boa canção, você não consegue mais distinguir entre você e a canção ao ouvi-la. No contexto que temos na sociedade moderna, muitas vezes tenho a sensação de que somos como fantoches […]. Se pensamos que não fomos nós que seguramos as próprias cordas, então nos perguntamos: ‘Quem diabos foi que nos guiou?’ Então, se esse vídeo nos ajuda a pensar que estamos sendo forçados a nos mover dessa forma, que poderíamos fazer de forma diferente, se você considerar sua situação e quais serão seus próximos passos, então acho que este trabalho tem uma razão para existir […]. Há outras camadas no trabalho, claro, há a parte do exorcismo. Nós somos muito bons em nos colocarmos para baixo. Vivemos em sociedades muito confortáveis, mas temos a tendência de tornar nossos pequenos problemas ENORMES […]. Não estamos num momento crítico que teremos que abrir mão de todo esse conforto. Este vídeo nos ajuda a nos colocar pra cima. Não devemos pensar no que nos falta, mas no que temos. Este vídeo nos ajuda – e ajudou a mim mesma – a fazer um exorcismo positivo (tradução nossa).
Ainda nessa entrevista, quando Rist lembra que seu primeiro trabalho é anterior à MTV, é possível pensá-lo como uma espécie de vanguarda do videoclipe, linguagem influenciada pela videoarte de modo geral. Há quebras e fases diferentes no curta, como na música, que em vários momentos foge ao compasso 4/4, padrão musical ocidental. “O conhecimento e a arte podem iluminar as pessoas e fazê-las pensar democraticamente e torná-las menos vulneráveis ao uso indevido de poder. Quero contribuir com um centímetro para essa tendência”, disse a artista. Nesta outra declaração sobre o curta, feita em 2007 ao centro Pompidou, Rist é mais específica quanto à sua intencionalidade:
Neste vídeo as figuras flutuam no ar […]. Com uma espécie de soberania, se redescobre o estado primitivo da existência. Com esse trabalho, pretendo criar um flash de consciência na mente dos espectadores que deveria fazê-los sentir um tipo de suavidade em relação a eles mesmos, com o intuito de relativizar seus problemas pessoais. O vídeo flutua entre o microcosmo e o macrocosmo de forma tal que novas abordagens se abrem para temas tão complexos como a digestão de impressões, nossas origens no líquido amniótico, a hipótese do purgatório e o sistema econômico. Espera-se que os espectadores cheguem a um estado de incerteza em que de repente muitas [outras] coisas parecem possíveis.6
O vídeo completo tem pouco mais de 5 minutos, mas está sem áudio no YouTube – parece parte da maldição da fita mal assombrada – o que a torna muito menos perturbadora. Não temos Rist para levantar na sessão e dublar a si mesma. Tive o privilégio de assistir a obra completa e na tela grande da exposição. Apesar de considerá-lo um objeto de fascinação, meu primeiro contato com este vídeo visceral me deixou agoniada por muitos dias, tendo visões noturnas da protagonista. O vídeo que está disponível com áudio no YouTube tem 2:46, uma amostra fragmentada da minha experiência. A lembrança fiel é impossível e ilusória, resta trabalharmos com as sobras.
José Gil (1980) define a espontaneidade como “a manifestação da energia num corpo não codificado” e lembra que nos estudos corporais se comete uma “violência real sobre o corpo: quanto mais sobre ele se fala, menos ele existe por si próprio” 7Gil considera que “a gratuidade e o carácter de jogo absoluto da dança só são obtidos a preço de uma libertação dos constrangimentos corporais” e para Nóbrega (2010), “nem tudo na linguagem é consciente ou pensado, porém, precisa ser vivido para adquirir sentido”. 8Para colocar tais conceitos em prática, durante a disciplina Poéticas do Corpo, ministrada pela professora Olga Valeska em 2017 no mestrado em Linguagens do CEFET, no intuito de superar meu pânico relacionado ao curta, me propus a não apenas encarar o objeto de frente como estudá-lo e incorporá-lo.
No momento da recriação do curta, mantive meu celular fixo por um tripé que segurava o aparelho a determinada distância e gravei alguns vídeos individuais de teste para posteriormente selecionar os melhores trechos na montagem. Adaptei filtros físicos, não digitais, como uma tampa vermelha transparente e um plástico que envolvia a lente deixando a tela azul clara. A câmera de qualidade baixa que eu tinha disponível me renderia imagens intencionalmente nebulosas. Nesse sentido, em defesa de produções que não estejam necessariamente em alta resolução, Hito Steyerl STEYERL,9 critica a hierarquia contemporânea de imagens: “O foco é identificado como uma posição de classe, uma posição de facilidade e privilégio, enquanto estar fora de foco diminui o valor de uma pessoa como imagem” (tradução nossa).
Como trilha sonora, escolhi a faixa Bull In The Heather, do Sonic Youth, que teve uma importância na minha juventude bem maior do que os Beatles, além de ser cantada por uma mulher, Kim Gordon. Em meados de 2004 eu tinha um CD pirata e arranhado da banda, que começava a pular em determinado momento, e retomar a faixa corrompida me traz nostalgia desses tempos. Além disso, as distorções de guitarra combinam com a textura destruída do vídeo de Rist, que eu procurei emular no meu. Cantei a tradução para o português da primeira parte “ten, twenty, thirty, forty” e a partir do refrão continuei em inglês. A edição no After Effects simulou efeitos como o glitch e demais interferências na fita de vídeo cassete. Rodrigo Bomfim Oliveira (2011), em Hibridismo das linguagens audiovisuais, considera o vídeo como “importante artefato cultural na construção de uma estética imbuída de características impuras, não normativas”:
Com os dispositivos das novas tecnologias, o cinema parece bem mais próximo do público, que imprime suas avaliações por meio de comunidades virtuais, parodia as obras no YouTube e cria vídeos de tipografia cinética com diálogos dos filmes editados em softwares básicos. Assim, embora ainda haja diversos problemas quanto à produção e distribuição de longas-metragens no cenário brasileiro, o cinema tornou-se factível. Afinal de contas, habitam em blogs e sites de compartilhamento audiovisual curtas-metragens de iniciantes, feitos com equipamentos de baixo custo e editados em casa. Além do mais, muitos desses filmes ganham destaque em festivais alternativos em torno do mundo.10
Meu vídeo tem alívios cômicos que me fazem gargalhar – principalmente das minhas vozes fininhas distorcidas (pelo programa Audacity). O riso aqui é afirmativo e foi catártico no sentido de me lembrar de que Rist também era uma humana de carne e osso em processo de criação e não um espírito assustador de uma garota presa numa fita de vídeo, como Samara n’O Chamado.

Depois desse processo, me desespero menos ao ler o nome do curta de Rist, que descobri mexer comigo principalmente devido ao horror do corpo feminino fragmentado, jovem e efêmero, não presente em toda sua previsibilidade no espaço tempo, e não presente em corpo físico para sempre. A partir disso, notei como o link com o verso por mim cantado (“10 20 30 40”) foi eficiente, pois mostra a passagem do tempo inscrita no corpo da mulher que envelhece. Dessa forma, reuni dança, canto e performance no meu caótico e catártico vídeo intitulado 101 2 304 0.
Sinto um misto de vergonha e orgulho ao reassistir meu experimento, quase 4 anos depois. Confesso que esperava algum comentário de choque de alguém que esbarrasse acidentalmente nele em algum vídeo relacionado no YouTube (algo como “estou na deep web?”), mas não obtive mais que 69 visualizações até o momento em que escrevo. Nessa espécie de fracasso bem sucedido, reconheço minha coragem e ousadia no empenho de uma criação de algo diferente, que reverencia11 a obra de Rist, sem propor uma repetição desta. Não foi intencional, mas ao final do vídeo, filmada em preto e branco, me pareço mais com Thom Yorke, do Radiohead, dançando Lotus Flower, uma das partes mais dissociadas do original.

I need a fix ‘cause I’m going down
Por fim, considero o primeiro trabalho de Rist como um curta de terror experimental. Para Carroll (1999), o horror “é uma força de atração, pois convida à interrogação (…) uma parte suficiente é deixada na ambiguidade para que não possamos, em sã consciência, aceitá-la com plena convicção (…) Queremos ver o incomum, ainda que ele seja, ao mesmo tempo, repelente”.12Desse modo, na construção do horror, muito é deixado irresoluto, sem resposta, e assim, I’m not the girl who misses much conserva a eficácia estética e continua a carregar toda a violência e a virulência de quando foi concebido.
A presença criada por Rist é monstruosa, pois em sua indeterminação se afasta do humano, ainda que ela afirme a condição de mulher. As imagens não têm sentido, são etéreas. A personagem vira pixel, aparição transcendental, um fantasma digital eternizado na película. Continuo sem respostas, continuo me perguntando: por que ela continua a me aterrorizar tanto? Meu medo é o medo da vulnerabilidade a que me expõe o riso alheio?
É possível discutir o horror, mas não é preciso compreender a simbologia dos signos evocados pela obra para uma experiência completa de apreciação. Aqui não são muitos, pois o curta prioriza a opacidade: “Não há nada a explicar, nada a interpretar”.13 Nesses tempos distópicos em que meu cérebro parece funcionar flutuando em um jarro e meu corpo está quase atrofiado pelo sedentarismo compulsório do confinamento pandêmico, eu quis retomar essa história corpórea também pelo medo da morte, eu quis tirar potências de escrituras e danças das gavetas virtuais e enviá-las para as nuvens.
CONTRA O CAPITALISMO, MISO PEDE MAIS UMA DOSE DE UÍSQUE
A estreia da diretora Jeon Go-woon em um longa-metragem ganhou uma tradução em inglês que imediatamente invoca a relação entre a protagonista do filme e os espaços minúsculos aos quais ela pode habitar. Microhabitat é a versão estrangeira para So-gong-nyeo, algo que poderia ser lido como “uma jovem princesa”. Mas o título original do filme, não aprovado pela distribuidora, era MisoSeosikji, que poderia ser traduzido literalmente como “o espaço onde Miso vive”, sendo Miso a personagem que acompanhamos em uma peregrinação de moradias ao longo dessa história.
É curioso observar o modo como esses títulos se alteram carregando juntos a tensão entre a ideia do que é habitar um espaço e o que é viver esse espaço, dois verbos que, não coincidentemente, são sempre colocados como sinônimos. Quão alto pode ser o “teto todo seu” das mulheres quando aquilo que está entre o “habitar”, o “viver” e mesmo o “morar” diz respeito não apenas a um espaço material que é negado, mas sobretudo ao direito a um espaço também abstrato de existência e sobrevivência em realidades materialmente precárias?
E se “habitat” são as circunstâncias físicas e geográficas que oferecem condições favoráveis à vida, quais as circunstâncias emocionais que nos permitem viver em sistemas capitalistas de concentração de renda? Duas sequências em Microhabitat parecem explodir essas questões para todos os lados pelo modo como são encenadas e montadas.
O Teclado:
Na primeira, Miso, interpretada com sofisticação pela atriz Esom, recebe a notícia de seu namorado de que ele vai trabalhar na Arábia Saudita e o tempo mínimo previsto para ficar lá é de dois anos. Miso está profundamente triste. Cigarros, uísque e seu namorado são suas únicas fontes de prazer em uma vida cada vez mais tomada por um trabalho como faxineira que mal consegue pagar seu acesso a esses “luxos”.
Mas então ele fala: “Vamos usar nosso poder de imaginação.” Ela pergunta: “Para imaginar o quê?” E ele responde, com toda sinceridade e ingenuidade do mundo: “Que eu estou perto de você.” O filme poderia conter e estender esse momento no rosto do rapaz ou na expressão de resposta de Miso. Teríamos aí uma curva pelo romântico ou pela possibilidade da imaginação romântica. Mas em lugar disso, a câmera, que até este momento filmava essa conversa ora em um plano médio com os dois corpos em quadro, ora em planos e contraplanos fechados, decide então se afastar completamente e filma o casal de uma segura distância panorâmica.

O filme responde ao utópico “estar perto de você” no silêncio frio de um olhar distante, estabelecendo uma relação cética com as promessas de finais felizes desenhados por peças publicitárias. “Estar perto” para Miso precisa de concretude, de materialidade imediata, de toque. Não de um horizonte longínquo em ganhar dinheiro na Arábia Saudita. Mas, mais do que isso, como seria possível “estar perto” dela quando ela mesma não pode reivindicar um espaço que seja seu na cidade de Seul?
A Bateria:
Mais adiante, já sozinha na cidade, Miso entra no mesmo bar de sempre e pede a mesma dose de uísque de sempre. A atendente, já ciente das dificuldades financeiras da cliente, avisa que o valor do uísque aumentou porque o aluguel daquele imóvel subiu. A essa altura do filme, já estamos familiarizadas com a política de inflação imobiliária da cidade de Seul porque Miso simplesmente não consegue alugar nenhum cubículo em qualquer periferia. Diante da funcionária do bar, ela fica então em silêncio por um momento e depois de alguma reflexão interna, suspira, sorri e fala: “Tudo bem. Traga uma dose.” O enquadramento permanece fixo nela e, no canto esquerdo da imagem que captura uma janela para fora do ambiente, vemos em algum momento a neve cair. A câmera se desloca e passamos e ver Miso de fora pra dentro, a neve agora em primeiro plano e uma janela entre nós. A taça com o uísque chega.
Em um sistema que insiste em estabelecer como cada pessoa deve morrer em vida (viver/morrer para pagar o aluguel, viver/morrer para comprar comida, viver/morrer para ter energia elétrica), essa mulher decide olhar nos olhos do Capital e pedir mais uma dose de uísque, nem que para isso ela abdique completamente da possibilidade de ter um teto, a despeito de sol, chuva e… neve.
A Guitarra:
Nesse sentido, Microhabitat talvez seja um dos filmes mais sofisticamente anticapitalista do que outro título conterrâneo que ficou famoso por assumir um lugar mais evidentemente crítico a esse sistema enquanto se servia de um esquema alegórico de ‘o de cima sobe e o de baixo desce’: Parasita, de Bong Joon-ho. No trabalho de Jeon Go-woon, os modos como a personagem central vai inscrevendo nela mesma a resistência a um certo padrão de vida que nega o viver se servem de jogos: entre a ironia disfarçada de ingenuidade e entre o mínimo múltiplo comum da dignidade humana e algo que algumas pessoas mais rapidamente leriam como hedonismo.
Miso enfrenta o capitalismo abdicando progressivamente de tudo que a sociedade costuma ler como “escolhas”, mas que na verdade se trata de direitos básicos que esse mesmo capitalismo não fornece. Leia-se: entre pagar o aluguel e pagar por seus cigarros e uísque, nossa heroína bravamente decide ficar com os últimos itens, e isso não é uma “escolha” irresponsável, é uma tática de sobrevivência dentro dos códigos satíricos do filme (e, portanto, várias vezes propositalmente exagerados) e um enfrentamento à ideia de que itens como “cigarros” e “uísque” só devem ser usufruídos por classe sociais mais próximas do topo da pirâmide.
O Vocal:
E como esses códigos são postos em movimento? Sim, porque estamos cá falando não exatamente de um road movie, mas de uma narrativa que se desenrola à medida em que a personagem vai se mudando de casa em casa, dormindo sob o teto de amigas e amigos que, anos atrás, faziam parte da mesma banda de rock. Em lugar de paisagens diferentes, o que acompanhamos nessas viagens entre bairros são casas diferentes e dentro de cada uma delas, um universo de símbolos que localiza essas amigas e amigos em distintos territórios na escala de acesso aos bens capitais, mas de semelhantes adaptações que terminaram sendo feitas por todas e todos em nome de um ajustamento social: casamento, propriedade privada, emprego. E aqui uma ressalva:
Na comédia de costumes que vai sendo costurada desses encontros entre Miso e seus ex-companheiros de banda, o filme escorrega em algumas fórmulas fáceis de achatar essas figuras secundárias como pessoas que, em maior ou menor medida, são infelizes nos pactos que fizeram para que suas vidas fossem “normalizadas”. A infelicidade delas em si não é o problema, mesmo porque a estrutura do filme demanda que essas personagens sejam testemunhas de um sistema falido. Mas quando todas elas se tornam somente acessórios para reafirmar as “escolhas” de Miso em permanecer vivendo o espírito da “banda” enquanto as demais parecem ter abandonado os instrumentos no palco, o filme termina reduzindo a própria Miso a uma resposta, quando em vários outros momentos ela é plena afirmação, puro verbo intransitivo.
O Baixo:
Nesse aspecto a complexidade que o filme consegue estabelecer entre a protagonista e seu namorado é bem mais interessante. Rende conversas sobre as possibilidades de relacionamentos afetivos quando a busca dele por um status quo não nega seu apaixonamento por ela e o apaixonamento dela por ele reconheça a procura do namorado por alguma estabilidade financeira que a ela não interessa como horizonte prioritário. O momento de despedida em que ela e ele se amam nessas diferenças, filmado em um azul ainda mais frio que todo o frio do resto do filme, abre essas duas pessoas em suas zonas de vulnerabilidade sem transformá-las em essências opostas.

É também a partir dessa cena que temos o último ponto de virada do filme. Agora sem namorado, Miso decide não abrir mão dos cigarros e do uísque e, além de desistir de pagar o aluguel, desiste de comprar o remédio que mantinha seu cabelo preto, deixando com que os fios grisalhos se espalhem por sua cabeça. Aqui vale um adendo contextual que ajuda a perceber por que o filme decide trabalhar com esse código: em uma das entrevistas, a diretora explicou que na Coreia do Sul, onde quase 100% da população tem cabelo preto, as mulheres e homens mais velhos que começam a apresentar fios brancos quase sempre decidem pintar seus cabelos como uma forma de manifestar pertencimento à população economicamente ativa. Ser jovem e não ter cabelo preto é necessariamente um desvio de normas nesse habitat visual de Seul.
A Dissonância:
Há então uma morte no filme, os amigos da banda se reúnem para um velório e todos vestem: preto. Mas Miso, ao contrário do que o sistema prevê para alguém que se recusa a cumprir com suas regras, vive e habita em si mesma. Ela, que passa o filme inteiro limpando a casa de outras pessoas e, portanto, é imediatamente lida como uma força de organização do caos externo, só pode se organizar dentro de si mesma reconhecendo a vida como um direito, não como um dever. Jeon Go-woon não revela mais o rosto da personagem no desfecho da história, é exatamente pelo código do cabelo grisalho que a reconhecemos, um vulto cruzando o quadro como uma ideia sem corpo, em desajuste com tudo, menos consigo mesma.
O CINEMA, A MAGIA E AS MULHERES DE NELLY KAPLAN
“Posso imaginar um filme sobre uma bruxa que ateia fogo em todo mundo — e não é queimada”
Nelly Kaplan
“‘a natureza as fez feiticeiras’. — É o gênio próprio à mulher e seu temperamento. Ela nasceu fada. Pela volta regular da exaltação, ela é Sibila. Pelo amor, ela é Mágica. Por sua fineza, sua malícia (muitas vezes fantástica e benfazeja) ela é Feiticeira, e faz sorte, ou, pelo menos, adormece, engana os males.“
A Feiticeira, Jules Michelet
Em A debutante (The Debutante), pequeno conto de Leonora Carrington, uma jovem desgastada pela ideia de participar do próprio baile propõe a uma hiena do zoológico que ocupe o seu lugar. A hiena topa a empreitada afirmando: “não sei dançar, mas pelo menos posso ficar de conversa fiada”. Na noite da festa, usando vestido e máscara feita com o rosto destrinchado de uma das criadas, a hiena não se segura e faz um comentário escandaloso e autodepreciativo sobre seu cheiro, para logo em seguida devorar o disfarce de carne humana e fugir pela janela, deixando horrorizada a mãe da homenageada.
Trago aqui essa história por dois motivos: primeiro porque acredito que Leonora Carrington (1917-2011), artista e escritora surrealista inglesa radicada no México, se aproxima do objeto central deste texto — a diretora e também escritora Nelly Kaplan (1931-2020) — não só pela relação estreita com o surrealismo, mas pela forma com que conseguiam promover um tipo próprio de imaginário mágico, partindo muitas vezes do absurdo e do humor. E a segunda razão é que me parece ser um exemplo perfeito para o que Picasso, ao se deparar com a obra de Kaplan, teria afirmado: “Isso é insolência elevada ao estatuto de belas artes”. A Debutante carrega uma dupla insolência: da garota misantropa que empreende um plano mirabolante para fugir de um compromisso social que julga vazio, tedioso, cheio de pessoas com quem definitivamente não quer conviver, e da hiena, que no fim das contas não consegue sustentar a fantasia humana bem-comportada e se rende aos seus instintos selvagens primordiais. Carrington e Kaplan, ambas mulheres são exemplos de insolência feminina transmutada em arte, mas quero agora me deter na segunda.
“Haverá poetas! Quando a infinita servidão da mulher for quebrada, quando ela viver por si e sozinha, o homem — até agora abominável —, tendo-a libertado, ela será poeta, ela também! A mulher descobrirá o desconhecido! Seus mundos de ideias divergirão dos nossos? Ela encontrará coisas estranhas, insondáveis, repugnantes, deliciosas; nós as teremos, nós as entenderemos.”
A citação acima corresponde a um trecho da carta de Rimbaud para Paul Demeny datada de 15 de maio de 1871, na qual o poeta apresenta a Demeny sua “prosa sobre o futuro da poesia” e deixa transparecer uma ânsia profunda pela ascensão feminina na área. Mais tarde, a passagem com ares de vaticínio será repetida por uma jovem diretora na revista Positif (1964, no. 61-63) através do texto/manifesto Na Mesa das Mulheres Guerreiras, que entre outras coisas conclama por um maior envolvimento das mulheres no cinema e na produção de imagens eróticas. A autora do ensaio é Nelly Kaplan, que em vida, indubitavelmente, conseguiu encontrar e concretizar coisas estranhas, insondáveis, repugnantes e deliciosas.
Nascida em Buenos Aires numa família de origem judaica russa, Kaplan cursou Ciências Econômicas na universidade da capital, mas foi no cinema que encontrou uma via atraente. Aos 22 anos partiu para a França com uma carta de recomendação da Cinemateca Argentina endereçada a Henri Langlois, pouco dinheiro no bolso e quase nenhum conhecimento de francês — aprenderia mais tarde, pelo rádio, em seu quarto de hotel: “aprendi a falar escutando”. Como jornalista correspondente, frequentava os mesmos ambientes que a cinefilia local e fez seus primeiros contatos com figuras como Mary Meerson, Marie Epstein, Lotte Eisner, André Breton e Abel Gance, de quem receberia um convite para trabalhar como assistente quinze dias depois de serem apresentados por Langlois.
Da relação com Breton vem a confirmação do lugar de destaque que o surrealismo ocuparia naturalmente na vida de Kaplan. Além de ter seus manifestos e ensaios circulando em periódicos de cunho surrealista, posteriormente, sob o heterônimo de “Belen” irá publicar uma série de romances eróticos, insólitos e fantásticos, incluindo um “cine-romance”, Le collier de Ptyx (1971), cujo formato experimental conta com descrições de cena e posicionamentos de câmera. Com Gance as coisas tomam outros rumos, mais intensos talvez. Nelly passa quase dez anos numa relação profissional e romântica ao lado do diretor francês (que nunca chegou de fato a deixar a esposa), trabalha como assistente de direção e em alguns momentos atua em pequenos papéis — uma cortesã em La Tour de Nesle (1955) e Juliette Récamier em Austerlitz (1959), filme no qual também contribui com o roteiro e assistência de produção. O relacionamento entre os dois só começará a esmorecer em meados de 1962, quando Kaplan conhece o futuro colaborador, produtor de alguns de seus filmes e parceiro por toda a vida, Claude Makovski.
Foi Makovski quem produziu o primeiro longa-metragem de Nelly Kaplan, La Fiancée du Pirate (1969) (A Very Curious Girl na versão americana do título e Dirty Mary na inglesa), uma comédia sobre vingança e o moralismo fajuto que em certas ocasiões assombra pequenos povoados, como o vilarejo fictício de Tellier. Em La Fiancée du Pirate, Marie, interpretada por Bernadette Lafont, é uma jovem serviçal constantemente explorada pela patroa latifundiária. Após perder a mãe num atropelamento e ver os homens de poder da cidade recusarem o mínimo de subsídios para o enterro, dá início a um plano astuto que envolve seduzi-los um a um, extorqui-los e por fim revelar publicamente seus desvios morais. Marie se torna prostituta, estipula seu preço e seleciona seus clientes, mas não existe elogio ao gesto, nem a celebração da descoberta de uma sensualidade reprimida que agora poderá ser usada para outros fins. O corpo, explorado desde que chegou à cidade com a mãe — ambas sem documentos, ambas ciganas e bastardas, forçadas a trabalhar por um prato de comida — é um meio para um fim, uma teia que lança para capturar quem um dia a teve por menos que nada.

Quando entrevistada, Kaplan conta que a motivação inicial para o projeto veio de uma ideia aparentemente banal: “um filme sobre uma bruxa que ateia fogo em todo mundo — e não é queimada”. A imagem de uma bela jovem que maliciosamente grava as conversas que teve na cama com o prefeito, o dono da mercearia, o boticário e outros homens de destaque na comunidade, para depois, durante a missa de domingo, tocá-las através dos alto-falantes do gravador, é a imagem incendiária ideal. Mas se existe fogo, no final ele queimará lentamente a pequena cabana de madeira, isolada numa clareira, na qual Marie e sua mãe sempre fizeram morada. Os aldeões aparecem para consumar o linchamento, mas só encontram a casa tomada por chamas e um tipo de totem feito com os pertences da jovem adquiridos num longo processo de acumulação material. Roupas, lingerie, bolsas, tecidos, telefone, mangueiras para água corrente — empilhados e descartados, compõem um desmanche simbólico dos vínculos que ela ainda possuía com a cidade. Marie então parte caminhando sem sapatos em direção à liberdade que é sinalizada pelo pôster da exibição do filme A noiva do pirata.
Não se trata de um filme de fácil categorização e talvez seja um grande erro tentar enquadrar a obra da diretora em algum estatuto permanente como “surrealista” ou “feminista”. Num olhar mais detido, é possível ter um ou outro vislumbre de um tipo de comédia feita à sombra da hipocrisia burguesa, bem como as comédias de Buñuel, ou de uma “fantasia feminista”, na qual a transposição para a realidade feminina se faz quase impossível, como vai afirmar a acadêmica Linda Greene. O fato é que, escapando de definições, Nelly Kaplan conseguiu, em seu longa de estreia, tratar de temas tão densos como a exploração braçal e sexual, de uma maneira flutuante, leve na medida em que a crueldade é diluída na sátira e na vingança feminina. Marie é a bruxa que vive na floresta, conversa carinhosamente com seu bode preto, coleciona relógios dos homens com quem deita e os espeta na parede ao lado de um morcego empalhado. Tudo parece fazer parte de uma brincadeira ou um grande sortilégio: quando ateia fogo na cidade, ela não esquece de se divertir.
Já em Néa (Young Emmanuelle, 1976), terceiro filme de Kaplan e adaptação de um conto de Emmanuelle Arsan (a fonte dos inesgotáveis soft-porns “Emmanuelle”), somos apresentados à outra face da feiticeira. Se em La Fiancée… o que move suas pulsões é a fúria e a necessidade de instituir o caos, em Néa é o amor na sua forma mais aniquiladora que impera sobre o arbítrio da protagonista. Sybille Ashby (Ann Zacharias) é uma garota rica de 16 anos que, frustrada com a vida em família, passa os dias consumindo todo o tipo de literatura erótica numa espécie de abrigo secreto abarrotado de livros roubados e acompanhada de seu único amigo, o gato “Cumes”. Um dia, Sybille é pega em flagrante e levada a Axel Thorpe (Sami Frey), o belo dono da livraria que costuma desfalcar com seus furtos. Numa conversa reveladora, a jovem se gaba de ter talento no campo da escrita erótica e Axel, que também é editor, decide dar à adolescente a chance de ver seu trabalho publicado. A partir daí ela se torna obcecada pelo homem de 40 anos e insiste que precisa ter experiências sexuais com seu interesse romântico para poder escrever com propriedade. Em casa, as coisas são tão caóticas quanto seu universo interior: o pai rígido mantém o lar sob um regime sufocante, a mãe é apaixonada por sua cunhada e a irmã de Sybille caminha para se tornar parte indissociável dos jogos de poder do domínio paterno, ora nos negócios, ora no campo da sedução.

Comparado à obra de Catherine Breillat e ao tratamento que a realizadora dá a certos tabus, Néa também não deve ser condensado sem que haja um cuidado mínimo com os temas que alcança de maneira inconsequentemente juvenil. Após sofrer por um amor irreparável e contribuir para que a mãe possa viver ela também uma história de amor em liberdade, Sybille descobre que Axel assumiu a autoria de seu livro e a traiu com sua irmã. Ela então forja um estupro para castigá-lo, mas acaba se entregando ao desejo e foge com o editor e o dinheiro arrecadado com seu trabalho – um best-seller a essa altura.
Nancy Joyce Peters, poeta, ensaísta e teórica do surrealismo, vai afirmar que as respostas paradoxais à obra — “controverso”, “reacionário”, “progressivo”, “uma sátira feminista” ou ainda “antifeminista” — provêm do fato de que Néa lida com uma “problemática explosiva”: “como o poder feminino — sexual e intelectual — é percebido, imaginado, experimentado, ou pode ser potencialmente realizado. Além disso, Kaplan toma a posição escandalosa de insistir no amor”. De certa forma, a inconsequência é a lei que governa toda a moral do filme e os sentidos de uma adolescente que arde em paixão. É a sexualidade em expansão convertida em forças modificadoras, como o orgasmo através da masturbação observado pelo gato Cumes que libera a descarga criativa na escrita. Afastando-se de qualquer julgamento, Kaplan talvez esteja deixando para as espectadoras e espectadores essa tarefa árdua (ou não).

No último filme de Nelly Kaplan, Plaisir d’amour (The Pleasure of Love, 1991), temas recorrentes na trajetória cinematográfica da diretora, como as situações cômicas que brotam de mal-entendidos ou segundas intenções, a relação entre natureza e sensualidade e o revanchismo feminino permeado por uma sorte de simbolismos, vão culminar numa fábula tropical sobre um sedutor charlatão que é enganado por seus próprios impulsos. Guillaume de Burlador (Pierre Arditi), prestes a se lançar à morte em um vulcão chamado “Caldeirão do inferno”, toma a identidade de um corpo em estado avançado de decomposição ali encontrado e parte para uma ilha paradisíaca com a função de tutelar uma jovem desconhecida de 13 anos de idade — Flo — que vive com sua avó, tia e mãe: Do, Jo e Clo. Enquanto Flo não retorna de suas aventuras pela Europa, Guillaume, apresentando-se como Willy, seduz uma a uma as mulheres da família, acreditando que as relações estão em segredo e que é ele quem tira o maior proveito da situação. Gradativamente, “Willy” começa a perceber que a ilha e toda a dinâmica que as três mulheres estabelecem com o ambiente e os poucos criados do palacete em que vivem são recobertas por uma camada impenetrável de estranheza.

A constatação final é a subversão da malícia mantida até então pelo hóspede: Flo nunca aparece porque é uma fantasmagoria conjurada para atrair homens à ilha. Do, Jo e Clo se satisfazem com a companhia e as carícias dos tutores convidados, para logo em seguida substituí-los num ciclo contínuo. Guillaume enlouquece, entra num delírio convulsivo enfeitiçado pela imagem de pureza e aventura que a garota de 13 anos criada pelo trio evocava. A última gargalhada é doce e amarga, pois de que vale o esforço por parte dessas mulheres fascinantes se o objeto de desejo é tão volúvel a ponto de se deixar levar por um encantamento tão simples quanto a imagem de um quarto de menina e um manequim com vestido e chapéu?
“A inspiração, em todas as formas de arte, tem um toque de magia porque a criação é uma coisa absolutamente inexplicável. Ninguém sabe nada a propósito dela. Não creio que a inspiração venha de fora para dentro, de forças sobrenaturais. Suponho que ela emerge do mais profundo ‘eu’ de uma pessoa, do mais profundo inconsciente individual, coletivo e cósmico. Mas também é verdade que tudo o que tem vida e é chamado por nós de ‘natural’ é na verdade tão inexplicável como se fosse sobrenatural.”
Na sua relutância em tentar definir o que seria a magia, Clarice Lispector, como convidada no “Primeiro Congresso Mundial de Bruxaria em Bogotá” (1975), vai afirmar de maneira contida que inspiração e criação artística são manifestações de um mistério profundo, não provocadas por fatores externos, destaca, mas algo inerente ao “inconsciente individual, coletivo e cósmico”. A criação é tão natural quanto sobrenatural. Acredito que sua fala se alinha perfeitamente à citação de Kenneth Anger (talvez o bruxo produtor de imagens mais velho vivo hoje) que magicamente se revelou para mim na ocasião de seu aniversário no dia 3 de fevereiro, enquanto pensava sobre esse texto e no que pretendia ao afirmar que Nelly Kaplan, com sua obra, praticava uma forma de magia: “making a movie is casting a spell” (“Fazer um filme é lançar um feitiço”). Magia e cinema envolvem técnica, ritualização. Cinema é manipulação do tempo e da luz a fim de contar histórias, inventar mundos e criar imagens seguindo sempre vontades individuais ou somadas. Raúl Ruiz, quando fala a favor de uma noção de cinema experimental e “xamânico”, vai descrever as origens do registro da imagem em movimento como excepcionalmente ligadas à magia e alquimia:
“a mão de um homem das cavernas pressionada contra uma superfície levemente colorida, depois polvilhada com um sopro de pó vermelho brilhante, a primeira reprodução mecânica de uma imagem; simuladores (demônios do ar semi-transparentes, descritos por Hermes Trismegistus); sombras, pré e pós-platônicas; o Golem; o teatro de espelho de Athanasius Kircher; a névoa das montanhas que reproduz imagens maiores que a vida dos transeuntes (evocada por James Hogg nas “Confissões íntimas de um pecador justificado”); o céu acima do porto de Punto Arenas no Chile, que reflete imagens invertidas da cidade há meio século; o Fantascópio de Robertson; as borboletas mágicas em Coney Island. Todos prefiguram os filmes.”
Ao seu lado vejo Nelly Kaplan, aos 34 anos, traçando paralelos entre imagens e talismãs em seu texto O suficiente ou ainda mais (Études Cinématographiques no. 40–42, 1965): “A composição das imagens é um espírito num corpo”; ou ainda, fazendo um prenúncio-invocação no manifesto já citado Na Mesa das Mulheres Guerreiras: “Neste planeta há algumas poucas videntes, mulheres, que armadas com uma lente causariam uma grande agitação no mundo do teatro obscurecido”. Acredito que, além de vidente, Kaplan era uma bruxa autodeclarada com a habilidade de materializar, a partir de gêneros e abordagens supostamente populares como a comédia e o erotismo, um mundo inteiro repleto de mulheres poderosas em quartinhos abarrotados, objetos encantados, gatos, bodes, bolas de cristal, cartas de tarot e homens abobalhados. O amor e o desejo femininos como encantamentos supremos e o escárnio como artifício.
Nelly foi odiada desde o primeiro momento em que colocou os pés no set do diretor com quem manteve um affair amoroso e criativo por anos, esquecida (“criminosamente mal vista”, dizia o aviso no trailer da retrospectiva) e até tida como morta antes de vir a falecer de fato no ano passado. Nos obituários, a expressão reciclada inúmeras vezes — “anarcofeminista” — denuncia a falta de detimento em sua obra e vida. Aos 87 anos, diria: “Eu não gosto de movimentos! Eu sou uma pantera solitária. Não gosto que as pessoas me digam para assinar coisas. Gosto de viver em um galho na selva. O feminismo não me interessa. Não sou uma misógina, mas no feminismo, há um ódio aos homens e não posso aceitar isso. Existem os idiotas, mas os bons homens também. Se as pessoas são boas, eu gosto delas; se não, não. Eu sou uma bruxa. Eu sei disso”. Independente se a declaração nos atravessa ou não, é preciso aqui respeitar a história de mulheres que preferem ser vistas e lembradas trilhando um caminho solitário, longe do que considerariam uma perda da identidade. Kaplan era uma individualista, “pantera solitária”, nunca negou.
Quando a fotógrafa, escritora e artista andrógina Claude Cahun publica nas páginas do jornal Mercure de France suas histórias desvirtuadas de Eva, Dalila, Helena de Tróia e outras figuras femininas clássicas, o crítico Paul Léautaud, revoltado com versões mal-comportadas de mulheres que nos acompanham desde a mais tenra idade, vai descrever as narrativas subversivas de Cahun como “coisas abracadabrantes e transcendentais”. Gosto desse insulto que tanto parece enaltecimento e acho que não existe neste momento maneira melhor com que eu possa descrever o cinema de Nelly Kaplan em toda a sua mítica individualista, feminista, erótica, surrealista e a vastidão de implicações que já foram feitas a seu respeito: um cinema abracadabrante e transcendental. Que o interesse por ele possa se renovar para além dessas palavras.
Referências
CAHUN, Claude. Heroínas. A Bolha Editora, Rio de Janeiro, 2016.
CARRINGTON, Leonora. The Complete Stories of Leonora Carrington. DOROTHY PROJECT, 2017.
DUPONT, Joan. “Searching for Nelly Kaplan”. 08 de jun. de 2018. Disponível em: https://filmquarterly.org/2018/06/08/searching-for-nelly-kaplan/
FELINTO, Marilene. Lispector foi a congresso de bruxaria. Folha de S. Paulo, São Paulo, p. 6-7, 2 ago. 1992.
GREENE, Linda. “A Very Curious Girl: Politics of a feminist fantasy”. Jump Cut, no. 6, 1975, pp. 13-14. Disponível em:
https://www.ejumpcut.org/archive/onlinessays/JC06folder/VeryCurGirl.html
ROSEMONT, Penelope (Ed.). Surrealist women. A&C Black, 2000.
RUIZ, Raul (2005). Poetics of cinema (Vol. 2). Dis Voir Editions, 2005.
RETRATO DE UMA JOVEM EM CHAMAS: ENTRAR NA FLORESTA, COMER O FRUTO
“Sei agora, a duras penas,
por que os santos levitam.
Sem o corpo a alma de um homem não goza.
Por isto Cristo sofreu no corpo sua paixão,
adoro Cristo na Cruz.”Adélia Prado
“O estado policial me quer morta/o para se certificar que seus filhos não acabem como eu, então eu acho que toda vez que eu transo e estou feliz e faço o que eu quero, eu gostaria de chamar isso de uma ação antiestado.” (tradução nossa)
“The police state wants me dead to make sure their children don’t end up like me, so I guess every time I fuck and I’m happy and I do what I want I would like to call that an antistate action.”
T Fleischmann
Mais uma vez, volto ao desejo.
Ao longo dos últimos anos, ele tem me aparecido com diferentes nomes: o corpo, a monstruosidade, a narrativa, o banal, a fome, o prazer, o deleite. Só recentemente, entretanto, fui capaz de perceber que era sempre o desejo que me atraía e movia em todos esses temas. O desejo como forma, meio e destino.
Como mulher criada dentro de uma cultura cristã, o desejo me foi apresentado como algo sujo, o qual deveria negar ou, no máximo, despertar no outro — e, de preferência, de maneira discreta —, mas jamais em mim mesma. A abnegação era o melhor caminho para alcançar o que quer que fosse: o corpo perfeito, o homem certo, o sucesso. E, claro, o desejo pelo corpo perfeito, o homem certo e o sucesso também não deveriam ser manifestados, deveriam ser escondidos por trás de uma máscara, a versão idealizada do que deveria ser uma mulher.
Essa mulher idealizada não rejeita a comida que lhe é oferecida, mas também não pede para repetir. Ela jamais pede atenção ou afeto para não correr o risco de ser acusada de carente, mas também não pode estar sozinha para que não seja chamada de amarga. Ela não quer sexo porque isso é coisa de vagabunda, mas se o namorado — jamais namorada — exigir, ela transa mesmo sem desejo para satisfazer as vontades dele. O corpo dessa mulher não a pertence, ele é um templo que não fede, não tem pelos, não envelhece, não peida, não urina, não defeca e não deseja. Essa mulher não existe. E, ainda assim, quantas de nós somos sufocadas por esse vislumbre.
Eu demorei anos para me livrar da imagem dessa mulher, cada decepção a que eu submetia minha mãe — a saída da igreja, a entrada na faculdade de audiovisual, a decisão de não ter filhos, o término do primeiro relacionamento, a primeira tatuagem, a mera alusão à minha bissexualidade — era um passo para longe dela e para mais perto de mim mesma. Desejar, ocupar espaço, ter fome, manifestar ambições, possuir o próprio corpo, tudo isso diz respeito a existir no mundo inequivocamente, sem medo, sem ter de pedir desculpas, é um direito que deveria ser garantido a qualquer criatura. Desejar é estar viva.
Nem todo desejo, entretanto, é criado igualmente. Existe o desejo que só respeita a si mesmo, o desejo que consome indiscriminadamente, que canibaliza, que destrói. Em uma sociedade hierárquica e patriarcal, o desejo perde o erotismo, torna-se objetificação. Os modelos masculinos de poder se sobrepõem a todos os outros. Em Usos do Erótico: O Erótico Como Poder, Audre Lorde escreveu sobre esse sistema:
“O horror principal de qualquer sistema que define o que é bom em termos de lucro em vez de em termos de necessidade humana, ou que define a necessidade humana excluindo os componentes psíquicos e emocionais dessa necessidade — o horror principal de tal sistema é que ele rouba o valor erótico do nosso trabalho, seu poder erótico, sua atração e satisfação. Tais sistemas reduzem o trabalho a uma farsa de necessidades, um dever pelo qual nós recebemos pão ou alienação de nós mesmos e de quem nós amamos.” (tradução nossa).
Não é suficiente desejar, é necessário certificar-se de que o desejo seja erótico — diga respeito à alma, à psique, às emoções. É preciso pensar na questão política do desejo, desafiar as noções de que o erotismo estaria ligado apenas ao corpo e ao sexo, dicotomias tolas que separam o estético do político, o poético do revolucionário.

Há uma cena em Retrato de uma jovem em chamas, de Céline Sciamma, em que a Jovem do título, Heloïse, corre em direção a um penhasco e para repentinamente, antes que possa cair. Finalmente, ela se vira para Marianne, para a câmera e para nós, o público. É a primeira vez que a vemos de frente.
Uma jovem aristocrata prometida em casamento a um nobre milanês, Heloïse se recusa a posar para um quadro que levará sua imagem ao futuro marido. Ela recusa o quadro, recusa o olhar do pintor que levará sua imagem ao homem que a possuirá como esposa. O olhar é uma violência, ele a torna um objeto, uma mercadoria para ser avaliada, vendida e enviada. E Heloïse o rejeita. Rejeita o olhar do pintor, rejeita a câmera que a persegue até o penhasco, quando, não tendo mais para onde fugir, se volta para o nosso olhar.
Mas aqui, o olhar se disfarça. Marianne, a nova pintora contratada para retratar a jovem noiva, chega sob o falso pretexto de ocupar o cargo de dama de companhia. A pedido da mãe de Heloïse, ela a observará ao longo dos seus passeios à praia e a pintará, depois, em segredo em seu quarto. O olhar aqui, pelos olhos de uma mulher, comissionado por uma mãe, não segue uma lógica menos perversa.
Após a finalização do quadro, descoberto o subterfúgio, inesperadamente, Heloïse não se enfurece com a traição de Marianne. Em vez disso, ela a desafia. “Essa sou eu? É assim que você me vê?” O quadro retrata um Heloïse corada, risonha, uma sombra da verdadeira Heloïse. Marianne responde, “Não só eu. Há regras, convenções, ideais,” ao que Heloïse retruca, “Você quer dizer que não há vida?”. A raiva não teria desconcertado tanto Marianne. Com sua obra colocada à prova, Marianne é confrontada com o fato de que suas escolhas estéticas são também políticas. E mais, que são escolhas estético-políticas que empobrecem sua obra. Seguir as convenções que lhe foram ensinadas por seus mestres, convenções essas que vieram de séculos de uma tradição artística dominada pelo olhar masculino, é uma escolha estético-política conservadora que não abre espaço para a vida, para o erótico, para novas potências do olhar.
Como escreve Amanda Devulsky em seu texto O vazio e a penetração, sobre o filme Mate-me por favor, de Anita Rocha da Silveira, “a experiência feminina [é] acostumada a se dissociar e a enxergar a si própria como um outro, como objeto de observação.” A rejeição de Heloïse a seu retrato é uma rejeição estético-política. Aqui a rejeição de Heloïse é do olhar feito coisa, o objeto do olhar olha para o que foi feito dele e recusa. Heloïse não é mais apenas objeto da arte, é crítica da arte. Mais tarde, posando agora voluntariamente para Marianne, Heloïse a desconcertará novamente: “Se você me olha, para quem você acha que eu olho?”. Sujeito e objeto se olham, se confundem, ambas são objeto, ambas são sujeito.
Há nesse momento uma desconstrução da lógica da arte, e do cinema em particular, que coloca o corpo feminino numa posição de algo para ser olhado, tocado, desejado. Não é suficiente apenas trocar o sujeito que olha por uma mulher se o aparato do olhar, seja ele um pincel ou uma câmera, ainda é usado como uma arma e o objeto é apenas um alvo a ser acertado. Um quadro pintado por uma mulher criada e educada por uma sociedade que opera dentro da lógica patriarcal está sujeito a reproduzir essa lógica independentemente do quanto sua pintora seja massacrada por essa estrutura. É necessária uma nova linguagem, uma nova forma.

Penso em outras obras que mapeiam e fabulam novas possibilidades sobre como o desejo pode ser manifestado, representado e sentido. Procuro a passagem que dá nome ao livro Digo te amo pra todos que me fodem bem, de Seane Melo. Ela escreve na voz de sua narradora-personagem Vanessa: “Só sei que digo te amo pra todos que me fodem bem. Porque, no duro, quando eles fazem direitinho, fico achando que entenderam alguma coisa muito íntima sobre mim e meus desejos.” Diferentemente de Heloïse e Marianne, a protagonista do livro de Melo é heterossexual e nos relata sobre seus encontros íntimo-romântico-sexuais com homens, mas aqui também podemos ver ideais normativos serem questionados.
Melo explora ideia de que o sexo, mesmo que casual, não está descolado dos sentimentos e que isso não implica em um relacionamento monogâmico ou exclusivo, de que o caminho para o amor pode ser pelo prazer e, aliás, que o próprio prazer é uma forma de manifestar o amor e que este amor nada tem a ver com ideais de posse ou dominação do outro. Por um caminho diferente, mas que também desafia noções tradicionais sobre sexo e intimidade, a roteirista e atriz Phoebe Waller-Bridge explora questões sobre sexualidade, culpa e desejo em sua série Fleabag. Na primeira temporada da série, sua protagonista apresenta um comportamento autodestrutivo, usando o sexo como uma forma de se autoafirmar e encontrar validação no mundo, explicitando experiências fisiológicas em contextos inesperados. Nada disso, entretanto, constrói uma conexão verdadeira com as pessoas ao seu redor, porque, na realidade, o sexo, os palavrões, sua fala franca, tudo que aprendemos que se relacionariam com a intimidade, é usado por Fleabag para se esquivar de falar sobre o que realmente a está ferindo. Ela faz uso do obsceno para se esconder, faz dele uma armadura para proteger seu centro vulnerável, muito frágil. Quando, na segunda temporada, Fleabag encontra alguém que a vê profundamente, pela primeira vez, o olhar aqui é finalmente íntimo e intensamente erótico, mais do que em qualquer encontro sexual que ela tinha tido até então.
Isso porque erotismo não diz respeito apenas ao sexo, trata-se de uma intimidade na forma de ver o mundo e se relacionar com ele. Em The book of delights, o poeta estadunidense negro Ross Gay escreve uma série de pequenos ensaios em que ele investiga o deleite, a alegria e o prazer. No prefácio, Gay cita temas a que ele retorna com frequência: “Minha mãe me vem sempre à mente. Racismo me vem sempre à mente. Generosidade me vem sempre à mente. Política. Cultura pop. Livros. O espaço público. Meu jardim me vem sempre à mente” (tradução nossa). O desejo e o deleite, para Gay são formas de se engajar com o mundo, de observá-lo através de uma lente mais viva, mais pulsante, mais generosa e honesta, sem jamais negar o que existe de aterrador e doloroso.
É também uma afirmação: estou aqui, vivo, e mereço estar. É algo que deveria ser óbvio, mas que ainda não é quando se habita um corpo como o de Gay, homem negro, nos Estados Unidos, onde — assim como no Brasil — afirmações óbvias como “vidas negras importam” ainda são desafiadas. Existir de forma plena — erótica, feliz, desejante — quando se vive em um corpo desviante é um ato de subversão. Em seu livro-ensaio Time is the thing a body moves through, autore não-binárie T Fleischmann escreve: “As pessoas que eu amo vivas — sim, nós enfraquecemos o Estado. Mas também toda vez que eu sinto prazer, jogo sinuca com um bando de transexuais, como um taco e vou para casa, quando meu corpo está em seu melhor estado, então eu preciso me colocar como alguém que contribui para a aliança, que já existe, que me manteve viva/o até aqui, o trabalho da libertação sendo uma das coisas incessantes” (tradução nossa).
Para cada exemplo de novos caminhos possíveis para falar de desejo há, entretanto, um n número de obras que reafirmam as mesmas hierarquias já conhecidas não só em seus discursos, mas na própria forma de trabalho que se dá para que sejam realizadas.
Avanço aqui para outro filme francês que conta a história de um romance sáfico, Azul é a cor mais quente, de Abdellatif Kechiche. O filme ficou conhecido por suas longas cenas de sexo entre as protagonistas, Adèle e Emma, interpretadas por Adèle Exarchopoulos e Léa Seydoux. Muito se discutiu sobre a potência do filme, sua representação do amor entre mulheres e, claro, sobre a exploração da imagem de mulheres lésbicas por uma câmera obsessiva e voyeurística. Viralizaram as imagens da atriz Léa Seydoux chorando durante uma conferência no Festival de Cannes. O choro, a princípio, foi interpretado como despertado pela emoção de realizar um filme profundamente sensível. Depois foi revelado o contrário, que o choro aconteceu pela experiência traumática no set de filmagens. Exarchopoulos e Seydoux passaram por momentos de abuso físico e psicológico, obrigadas pelo diretor Abdellatif Kechiche a gravar cenas gráficas de sexo por horas, independentemente das feridas que se abriam, da exaustão que sentiam.
Existe uma idealização no mundo do cinema que vemos expressa nesse caso que diz respeito à ideia de que é o sofrimento dos atores que cria bons filmes. A ideia de que quando diretores geniais são abusivos conseguem extrair grandes performances de seus atores. É possível citar inúmeros diretores — Hitchcock, Kubrick, Von Trier, Bergman e tantos outros — que têm casos conhecidos de colocar atrizes em situações de risco à sua saúde física e mental. Há algo no pensamento ocidental-cristão-patriarcal que põe o sofrimento, em particular o sofrimento de corpos desviantes — corpos femininos, negros, indígenas, gordos, LBTQI+, não-binários, pessoas com deficiência —, não apenas como um “mal necessário” (o que já seria ruim o suficiente), mas como algo excitante. É uma lógica perversa e sádica que encontra prazer na degradação, que se excita com o que é tomado à força, que goza com a violência e o poder.
A obra e o seu processo de criação são inseparáveis, a forma como se escreve um roteiro, como as realizadoras — sejam elas diretoras, editoras, figurinistas, eletricistas, contra-regras etc. — se relacionam, como o trabalho acontece, como as escolhas são feitas, tudo está ligado ao filme que será visto na sala de cinema. Em um modelo de sociedade em que tudo é violência, competição, conquista e dominação, não é de se estranhar que se tenha definido que o que movimenta nossos processos e nossas narrativas seja o sofrimento. A escolha de Sciamma por contar a história de Marianne e Heloïse focando na possibilidade do amor entre elas em vez das dificuldades que enfrentariam, é, por si só, subversiva. Seu processo criativo também. Em uma masterclass para o BAFTA, Sciamma falou sobre sua escrita de roteiro como um processo ditado pelo desejo, todas as cenas que compõem seus roteiros precisam, em primeiro lugar, estar ali por serem imagens desejadas, depois por avançarem a história. É o desejo erótico como ethos principal do fazer artístico.
Em Retrato de uma jovem em chamas, o desejo é processo e destino. O prazer e o deleite representados por Sciamma partem de uma fonte diferente daquele nascido do sofrimento e da violência. A partir do momento que Heloïse toma consciência do olhar de Marianne e o aceita — quando ela posa voluntariamente, quando ela olha de volta —, ela deseja de volta. Há algo profundamente radical nisso. O desejo que é alimentado pela reciprocidade, o erotismo que nasce do consentimento, uma lógica que subverte todo um imaginário patriarcal sobre o prazer.
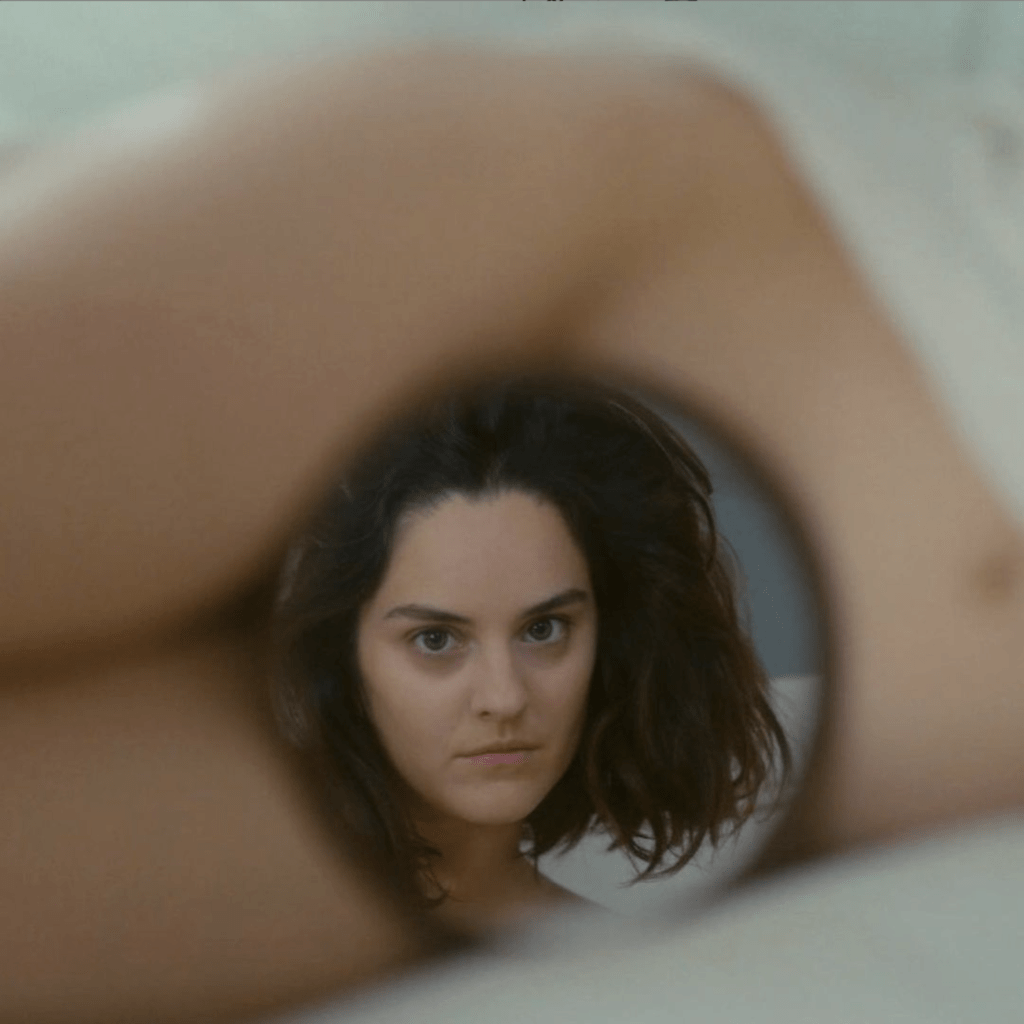
Reclamar-se um ser que deseja é tornar-se agente, é ser sujeito ativo. Percebo agora que uma das minhas antigas e recorrentes obsessões que dura até hoje se relaciona a isso também: em julho de 2019 tatuei uma romã e uma árvore, uma referência a mitos e contos de fadas e reconfigurações em que vemos a história pelos olhos das mulheres, e seus destinos, mesmo quando trágicos, são resultado de suas escolhas. A Perséfone que pula no buraco de Hades, a Eva que come o fruto com plena ciência de que será expulsa do Éden, a Medusa que escolhe a monstruosidade à impotência. Nas versões mais conhecidas dessas histórias, as mulheres são joguetes de deuses, demônios, de homens, do destino. Há um mundo de possibilidades quando começamos a pensar nós, mulheres, como agentes de nossas histórias ao invés de objetos passivos.
Faz todo sentido que Heloïse e Marianne, ao lerem o mito de Orfeu e Eurídice, confabulem sobre possibilidades de interpretação. O músico e poeta, Orfeu, em seu desespero pela morte da esposa, vai para o mundo inferior onde convence Hades a deixá-lo trazer Eurídice de volta para o mundo dos vivos. Hades permite com uma condição: no caminho para sair do mundo dos mortos, Orfeu não deve olhar para trás, caso o faça, Eurídice ficará presa para sempre. Chegando ao fim do caminho, entretanto, Orfeu olha para trás e Eurídice é puxada de volta, morrendo pela segunda vez.
Para Marianne, Orfeu fez “a escolha do poeta”, preferiu ver pela última vez, conservar a imagem da mulher amada à mulher de carne e osso. Voltamos à ideia do olhar como violência, o olhar que mata. Heloïse pensa também em outra possibilidade. E se foi Eurídice que falou para Orfeu “vire-se”? Quando pensamos na ação final como uma escolha de Eurídice, sua forma de decidir seu destino, de fazer parte do processo de criação de sua imagem para Orfeu, vislumbramos que ela é a mesma escolha feita pela própria Heloïse ao permitir que Marianne a pinte voluntariamente. Mas a morte de Eurídice, mesmo que resultado de sua própria escolha, ainda é um destino cruel.
O ideal da mulher que morre por amor voluntariamente é um autoapagamento a que estamos acostumados historicamente. Falando sobre o que nomeia de ficção ocidental sobre a feminilidade, Amanda Devulsky escreve: “À mulher era oferecido o destino supostamente natural de sacrifício, doação e o que foi chamado de amor — elementos que desmanchavam qualquer possibilidade de constituição de si. A mulher poderia ser tudo, menos uma pessoa. Tudo, menos sua própria realidade material.”
Tenho, portanto, uma desconfiança em relação ao último olhar de Orfeu — mesmo que sob o direcionamento de Eurídice. A morte, a imaterialidade, o sacrifício de Eurídice me dói. Marianne em algum nível se identifica com Orfeu, quando ela se refere à morte de Eurídice como a “escolha do poeta” a expressão poderia ser substituída pela “escolha do/a artista”, mas, de uma forma fundamental, ela não é nem nunca poderá ser Orfeu. Primeiro, pela sua condição como mulher; segundo, porque, na relação em que se estabelece entre elas, Marianne não nega a materialidade da pessoa de Heloïse. E, assim, eu sou seduzida pela troca de olhares entre elas.
Quando Heloïse toma a decisão de posar para Marianne, desconfigurando a dinâmica Heloïse-objeto/Marianne-sujeito, algo novo surge ali, abre-se a possibilidade de um caminho mais complexo e potente. A tensão sexual, que já existia desde o começo do relacionamento das duas, a partir daqui — com o olhar que olha de volta, o desejar que deseja de volta — cresce de forma tão exponencial a ponto de ser quase palpável. Heloïse e Marianne estão em chamas, o desejo as consome, as erotiza.
Penso se é possível nos reapropriarmos das representações das nossas imagens como uma forma retomar o desejo erótico, penso na forma como Sciamma escolheu fazê-lo em seu filme reapropriando-se do olhar, como eu escolhi fazê-lo reapropriando o meu próprio corpo ao marcar minha pele de forma permanente. Penso na segunda parte das tatuagens, duas frases: “entrar na floresta” e “comer o fruto”. Eu não deveria ter que me reapropriar do meu corpo. Ele já era meu, desde o princípio, mas aqui estou, lutando por ele a cada dia, sem encontrar uma resposta ideal ou definitiva. Parafraseando Jia Tolentino: por muito tempo, a liberdade foi corrosão e não havia forma para que uma mulher fosse livre e boa. Entre ser vítima das circunstâncias ou arquiteta da minha própria destruição, eu escolheria entrar na fogueira de novo e de novo. Mas, ainda assim, me pergunto: por que preciso fazer essa escolha?

Referências
DEVULSKY, Amanda. Superfícies/feminilidades: O imperceptível como estratégia sobre o olhar. Revista Concinnitas. 2019.
DEVULSKY, Amanda. O vazio e a penetração: Mate-me por favor. Verberenas. 2016.
FLEISCHMANN, T. Time is the thing a body moves through. Coffeehouse press. 2019.
GAY, Ross. The book of delights. Algoquin books. 2019.
LORDE, Audre. The uses of erotic: Erotic as power.
MELO, Seane. Digo te amo pra todos que me fodem bem. Quintal edições. 2019.
PRADO, Adélia. O Pelicano. Poesia reunida. Record. 2015.
TOLENTINO, Jia. Trick mirror: Reflections on self-delusion. Random house. 2019.
ZIMMERMAN, Jess. Hunger makes me. Hazlitt. 2016.
POR UMA HISTÓRIA DIALÓGICA DO CINEMA EXPERIMENTAL FEITO POR MULHERES
O chamado cinema experimental ou de vanguarda é muitas vezes descrito como difícil de definir, relacionado a uma investigação formal não comercial e, frequentemente, não narrativa. Costuma-se delimitar dois períodos principais dessa produção, um nos anos 1920 e 1930, centrado principalmente na França e outro, no pós-guerra, com seu ápice durante a década de 1970 nos Estados Unidos. Essa convencional demarcação temporal revela o caráter colonial da historiografia oficial do cinema experimental, que não identifica outras vanguardas fora do eixo Europa-Estados Unidos.
Seus filmes inaugurais foram marcados por experimentações dadaístas e surrealistas, resistentes à formalização narrativa predominante da época e com o interesse de reconhecer o cinema como arte. Nos interessa aqui o segundo período, principalmente a partir de 1960, quando o termo “cinema experimental” se difunde na teoria cinematográfica e se consolida como um gênero — ou ao menos um nicho. Esse segundo ciclo aprofunda as buscas do primeiro, com experiências com o cinema abstrato, o handmade cinema, o filme caseiro, o found footage, etc. A chegada da videoarte e do cinema expandido também amplia o campo dessas experimentações fílmicas. Consideramos que esse momento se estende aos dias de hoje, visto que muitos cineastas desse período seguem produzindo e outros novos ampliam as temáticas e formalizações iniciadas.
Há uma clara predominância masculina na escrita da História oficial do cinema. No experimental, isso não é diferente. Quando se pensa nos cânones dessa cinematografia, surgem com facilidade nomes como Stan Brakhage, Jonas Mekas, Kenneth Anger e Michael Snow. Alguns desses ainda carregam títulos típicos do patriarcado como “o padrinho do cinema experimental” (Mekas) ou “o pai do cinema experimental” (Brakhage). O nome feminino que aparece com mais facilidade é o de Maya Deren — e, claro, descrita como “a mãe do cinema experimental”. Com menos frequência, podem surgir nomes como Marjorie Keller, Peggy Ahwesh, Barbara Rubin ou Chick Strand. Todas elas, cineastas europeias ou norte-americanas, sendo raro encontrar alguma referência a cineastas do chamado Sul Global, à exceção de estudos específicos.
Em resistência a esse quadro geral de exclusões, este texto é resultado de uma pesquisa realizada ao longo do fatídico 2020, que também deu origem a um curta-metragem 1e a um longa em processo de finalização. Motivadas por uma urgência de referências experimentais realizadas por mulheres, tomamos como ponto de partida o livro Women’s Experimental Cinema, de Robin Blaetz, que reúne textos sobre o trabalho de quinze cineastas experimentais. Após buscas por suas filmografias, muitas vezes restrita a coleções de arte ou a distribuidoras de cinema experimental, realizamos uma troca de vídeo-cartas inspiradas por tantas formas e conteúdos encontrados. Ao longo do processo, sentimos falta de cineastas latino-americanas que, apesar da relevante contribuição ao campo, são frequentemente excluídas da tal historiografia oficial. Sendo assim, fizemos uma pesquisa alternativa para incluí-las nessa história.
A escolha das seis cineastas analisadas nesta correspondência deu-se por critérios históricos, geográficos e afetivos. Começando no auge da vanguarda dos EUA nos anos 1960/1970, chegamos a uma produção contemporânea, não sem passar pela criação latino-americana. Gunvor Nelson e Joyce Wieland representam o início desse caminho, duas imigrantes que começam suas carreiras nos anos 1960 nos EUA. Já Leslie Thornton e Abigail Child são representantes da vanguarda estadunidense dos anos 1970 e 1980 e seguem trabalhando ativamente. Terminamos o percurso na América Latina, com a mexicana Ximena Cuevas e a alemã-argentina Narcisa Hirsch.
A escrita epistolar costuma ser considerada um gênero menor de literatura, praticado sobretudo por mulheres 2. Vista como algo pouco objetivo, por ser em primeira pessoa e muitas vezes emotivo, a escrita em cartas nos pareceu adequada para construir uma comunicação à distância entre duas amigas cineastas, onde análise fílmica se mistura a sensações e trocas pessoais, em pleno confinamento da pandemia.
×
São Paulo, data indefinida, entre 2020/2021.
Amiga,
Espero que esteja se protegendo no inverno californiano. Engraçado pensar em você passando frio nas praias de Los Angeles, enquanto sofro de calor no asfalto de São Paulo.
A descoberta da sueca Gunvor Nelson salvou meus primeiros meses de isolamento. Cineasta prolífica, Nelson fez filmes por mais de 40 anos (de 1965 a 20063) e viveu durante 30 no East Bay dos EUA, perto de onde você está agora. Seu trabalho é difícil de classificar e ela própria explica que cada filme começa com uma estratégia ou atitude em mente, para em seguida realizar uma investigação do que deve ser feito4. Imaginei-a muitas vezes fazendo sua quarentena aos 90 anos em Kristinehamn, cidade sueca de 18 mil habitantes onde vive hoje, olhando para o lago com sua filha Oona, personagem de um de meus curtas preferidos, agora uma senhora de 60 e poucos anos.
De alguns de seus primeiros filmes, como Schmeerguntz (1965) e Take Off (1975), retenho a experiência de uma colagem analógica e radical aplicada a filmes explicitamente femininos. Em um contexto de cultura de massa dos anos 1940-1960 onde a figura da dona de casa é recorrente por um lado, e a dominância masculina no campo do cinema da vanguarda por outro, seus filmes são radicais tanto por sua experimentação formal quanto por seu conteúdo. Uma mulher retirando um OB em primeiro plano é algo ainda hoje raro de se ver em um filme. O desmembramento de Magda em Take Off, enquanto faz um strip-tease, reflete sobre a objetificação do corpo feminino de forma cômica, com um humor e leveza que talvez possam nos inspirar para pensar um cinema feminista.
Em Old Digs e Kristina’s Harbor, duas partes de um mesmo filme de 1993, o aspecto arqueológico de seu trabalho se destaca. Utilizando sobreposição de imagens e animação com riscos e recortes em cima de imagens filmadas, Nelson procura pelas camadas escondidas da realidade visível. O som também realiza uma busca solta por elementos reveladores, onde escutamos trechos aleatórios de conversas, algumas vezes repetidos em cartelas escritas. Essa sobreposição em camadas de som e imagem revela aspectos do passado, da memória e do imaginário, em um reencontro de Nelson com Kristinehamn, onde nasceu e para onde retornou após sua estadia nos EUA.
A experimentação sonora assume sua forma mais interessante em My name is Oona (1969). A filha de Nelson, então uma criança, fala repetidamente em off o título do curta (“meu nome é Oona”). A repetição em diferentes tempos origina uma trilha sonora experimental e única. O dispositivo imita os jogos infantis em que se repete uma palavra até que ela deixe de fazer sentido. Oona afirma sua identidade ao mesmo tempo em que essa parece perder sentido. Eu sou o meu nome? O que ele significa?
O interesse de Nelson pela linguagem me parece relacionado ao fato da cineasta ter feito seus principais trabalhos radicada nos EUA, fora de seu país natal e em uma língua que não era a sua — assim como você agora.
Take off / Old Digs / My name is Oona
Me espanta como o nome dela ainda é pouco reconhecido, mesmo nos meios do experimental. Penso em nossas trajetórias de cineastas não convencionais. Os tempos são outros, mas ainda parece difícil conseguir uma estabilidade nesse caminho. Você acha que nossa sina será trabalharmos extensivamente como Nelson e chegar aos 90 sem sermos devidamente reconhecidas? Nelson ainda tem a vantagem de viver na Suécia, país com recursos para a cultura e que entende a importância de preservar sua memória cinematográfica. Seus filmes estão preservados e são distribuídos digitalmente pela FILMFORM5. No Brasil de hoje, nem podemos contar com uma cinemateca para depositar nossos filmes.
Termino com os desejos de que Nelson esteja vacinada e volte a fazer filmes em breve, como tantos cineastas com sua idade ainda o fazem.
F.
Los Angeles, noite fria hollywoodiana.
Olá, amiga,
Te escrevo do inverno daqui pensando no calor daí e a saudade do encanto caótico de São Paulo começa a transbordar.
Curioso pensar que o mergulho nestas mulheres nos trouxe uma sensação de alívio e aproximação em tempos como estes. Ler tuas palavras sobre a Nelson me fez pensar muito na Joyce Wieland, a primeira mulher do cinema experimental que me intrigou a procurar similaridades. Alguém que, à diferença de Nelson, teve uma carreira “breve” como cineasta e que é vista hoje como uma das incompreendidas e ignoradas de seu tempo. Isso me faz ver que talvez essa sina que você comenta seja uma característica muito comum desse cinema não convencional — que é reconhecido em outro tempo, depois de muitas e muitas tentativas, provando uma insistência que só após anos é observada por alguém. E que é uma trajetória muito mais árdua sendo mulher.
Handtinting
O interessante de Wieland é que ela começou sua carreira como pintora e é nítida essa experiência manual em seus filmes. No caso de Handtinting (1967-68) fica clara a referência da pintura, ao usar tinturas de tecido para colorir esse filme silencioso de 5 minutos sobre mulheres dançando em loop. Me chama muito a atenção este recurso da imagem e o ritmo sonoro repetitivo, insistente. É recorrente essa representação do cíclico e variações diversificadas nos seus filmes, como em Sailboat (1968) e Catfood (1968)6, que te fazem ver uma mesma imagem de distintas formas, encontrando detalhes e leituras que à primeira vista quiçá estavam despercebidos. Uma proposta de trazer uma extravagância no ritmo e não linearidade que acaba sendo mais visualmente expressiva.
Wieland, sendo canadense e trabalhando na maior parte nos EUA7, trouxe a relação das temáticas culturais e identidade nacional no seu trabalho e visão como cineasta, declarando notoriamente sua posição política sobre esse país que ela chamou de casa. Um exemplo seria Patriotism (1964), onde um homem se encontra perdido no sono e uma avalanche de hot-dogs “patriotas” invadem sua cama em uma marcha por meio do efeito de stop motion. As salsichas começam a despedaçar os pães levando a bandeira dos Estados Unidos, talvez uma referência à “invasão imperialista”, até que finalmente o homem acorda e come as salsichas que chegaram até ele. Essa breve peça está atualmente exposta no MoMA8. Ala David Geffen, o que me deixa reconfortada ao ver a Joyce ocupando hoje alguns espaços de reconhecimento. Outro exemplo sobre sua crítica ao “sonho americano” é Rat Life and Diet in North America (1968), curta que mostra a jornada de um grupo de ratos – inusitadamente, ratos de verdade – que são prisioneiros nos EUA por um gato e que fazem uma fuga heróica para o Canadá, idealizado como um destino utópico de abundância e lazer. O filme centra-se nas imagens dos ratos perambulando pra lá e pra cá, enquanto o gato os observa como presas através de uma grade. Letterings carregam a narrativa, com frases que detalham as ações e aventuras dos ratos, transformando o filme em uma parábola e alegoria de um país que se encontrava na época em grande conflito de protestos contra o militarismo (diante da Guerra do Vietnã) e o capitalismo. Não à toa, foi um dos filmes mais reconhecidos de Wieland, sua construção é realmente única e genial como um filme experimental político em tom humorístico.
Patriotism / Rat Life and Diet in North America
O cinema como processo de colaboração, interlocução e trabalho coletivo é um aspecto de Wieland com o qual me identifiquei muito também. No caso de A and B in Ontario (1984), o filme consiste em um jogo improvisado de retrato entre duas câmeras, uma na mão de Wieland, e a outra na mão de Hollis Frampton. O curioso desse filme é que ele foi concluído 18 anos após sua filmagem, sendo Wieland quem editou esse filme criando um belo diálogo cinematográfico de forma epistolar entre as imagens.
Entretanto, assim como Nelson, Wieland foi outra mulher que não conseguiram encaixar em uma definição pragmática — definição a ser feita por um homem, evidentemente. Lembro de ler uma frase muito infeliz de Jay Scott sobre ela: “Tem sido difícil para a Wieland porque ela é uma mulher, e tem sido difícil para os críticos porque ela tem sido muito feminina… muito imprudentemente fértil”9. Me faz pensar que essa incompreensão também está relacionada ao fato dela ter sido companheira de um homem de reconhecimento: Michael Snow, uma figura chave do cinema estrutural. Sem dúvida, essa carreira “breve” se deu muito por conta dela ser mulher, às sombras de uma figura masculina que era muito mais predominante naquele tempo. A versatilidade do trabalho dela, esse estilo policêntrico, foi difícil de classificar e, portanto, ignorado pela maioria. A propósito, é o que mais me interessou nela, o fato de ter criado esse estilo de “Muitas Joyces” e, em cada trabalho, ser possível reconhecer uma parte de sua identidade e trajetória. Essa “imprudência” de estilos.
Me encontro agora pensando sobre nós mulheres cineastas, tendo companheiros homens que também trabalham com artes visuais. Estamos também fadadas a ter menos reconhecimento que eles? E termino, por ora, com mais algumas perguntas difíceis. Como evitar esse mesmo lugar em que os cânones da validação do cinema colocaram essas mulheres antes de nós? Como conseguir ser imprudentes livres de definições como as de Jay Scott?
A.
São Paulo, quarentena infinita, 2020/2021.
Chica querida,
É curiosa essa recorrência de mulheres cineastas difíceis de categorizar. Parece haver uma busca por uma liberdade formal extrema ou talvez uma relação mais intrínseca entre forma e conteúdo, sem seguir uma fórmula.
A Julia Teles, nossa companheira do som experimental nessa empreitada, postou um artigo do The Guardian que falava sobre as mulheres artistas que perderam o reconhecimento de suas carreiras ao se casarem. Para além de serem recordadas apenas como as “musas” de tal ou tal artista homem, há ainda a estranha tradição de virar uma propriedade do marido ao trocar o sobrenome, perdendo assim a continuidade da trajetória de um nome artístico único.
Por isso, queria falar agora de uma cineasta que não foi ofuscada pelo casamento com um artista homem, mas que ainda assim costuma ser referenciada por ter estudado com Stan Brakhage, Peter Kubelka e Hollis Frampton, que, como você citou, trabalhou com Joyce Wieland. A estadunidense Leslie Thornton começou seus trabalhos na mesma época que Wieland, mas segue viva e ativa, para nossa felicidade. Seu último trabalho foi uma exposição na Alemanha chamada Ground em 2020, em plena pandemia.
Em um primeiro momento, Thornton me chama a atenção justamente pela força da continuidade de seu trabalho. Ela constantemente reutiliza trechos de seus próprios filmes, encarando-os como found footage. Uma imagem ou som feito por ela nos anos 1980 cria novos sentidos ao aparecer novamente nos 2000. Sua série mais conhecida, Peggy and Fred in Hell, começou em 1983, antes de nascermos e continua até hoje. Nela, acompanhamos duas crianças brincando e criando jogos em um mundo pós-apocalíptico, influenciadas pela cultura de massa: Fred imita Jack Nicholson e usa uma camiseta do Superman, Peggy sabe a letra de Billie Jean de cor. Os cenários caóticos, construídos com acumulações de objetos e dejetos, sempre revelam uma televisão, um rádio ou telefone. Esses filmes me fizeram pensar em como as crianças estão vivendo a pandemia, assistindo TV e YouTube, criando mundos imaginários para fugir do tédio.
Peggy and Fred in Hell – The Prologue
A infância também aparece em Jennifer where are you (1981), onde vemos uma menina pequena passando batom exageradamente e brincando com um fósforo, enquanto uma voz masculina a chama ao longe e repetidamente “Jennifer, onde você está?” Thornton nos dá acesso a imagens de um mundo infantil de liberdade e subversão que é interrompido pela voz adulta que tenta controlá-la.
Essa junção entre imagens livres e sons que fazem o papel da autoridade se repete em muitos de seus filmes. Em um mais recente, They were just people (2016), Thornton usa o arquivo sonoro de uma testemunha da bomba de Hiroshima sobreposto a duas formas redondas e poéticas, que lembram bolhas aquáticas se formando e explodindo repetidamente. A voz mantém um tom neutro e científico, em contraste com o conteúdo chocante da fala. A imagem estereoscópica10, que parece bonita em suas texturas e cores, se transforma em algo aflitivo quando a testemunha descreve as consequências físicas do ataque nuclear. A junção de som e imagem nos faz imaginar o terror do que é difícil compreender.

They were just people
O som é o contraponto que torna as imagens mais complexas, nunca apenas comentando ou explicando o que vemos. Filha de um físico e neta de um engenheiro elétrico, o discurso científico reaparece muitas vezes em sua obra. Um que me chama a atenção nesse sentido é Strange Space (1993), em que vemos imagens de uma cirurgia médica mescladas com imagens do espaço sideral. Ouvimos o som dos médicos e enfermeiras discutindo a situação de saúde do ator Ron Watke, paciente da cirurgia, enquanto ele recita um poema de Rilke. Watke luta por sua sobrevivência, mas também pelo direito de não ser definido por aquele discurso científico sobre seu corpo.

Strange space
Oposições entre imagem-som, adulto-criança, homem-mulher, ocidente-oriente permeiam suas obras e Thornton parece ter a convicção de que nunca é possível captar o Outro em sua totalidade. Isso fica claro em X-TRACTS (1975), que poderia ser apenas um portrait documental com imagens em close-up, não fosse a edição de off entrecortada, formada por curtos pedaços de palavras ou frases com durações que variam de 3 segundos a ¼ de segundo. O discurso é impossível de ser entendido em seu todo e isso faz com que o espectador tome uma posição atenta, tentando juntar os pedaços de informação que o som nos joga.
Te deixo com uma frase de Thornton sobre seu próprio trabalho que acredito que você vai gostar: “Eu posiciono o espectador como um leitor ativo, não um consumidor. O objetivo não é um produto, mas um pensamento compartilhado”. Parece um bom caminho, não?
F.
Los Angeles, lockdown permanece, entre 2020/2021.
Amiga,
Que bela forma de concluir a tua última carta com essa impactante frase de Thornton. Compactuo do mesmo pensamento dela e acredito que não devemos nunca subestimar a sensibilidade do espectador para a autenticidade.
Nessa busca de radicalizar e repensar a forma, relembro da cineasta e poeta Abigail Child, alguém que tem feito filmes por 20 anos e que também para nossa alegria, continua muito na ativa, lançando inclusive um novo filme no ano passado que circula em diversos festivais de cinema. Vejo seus filmes claramente como uma contrapartida dessa lógica mercantilista do cinema e uma busca incessante de trazer liberdade às suas próprias imagens, como se propondo a olhar por todas as direções delas, desatá-las para concedê-las múltiplos sentidos.
Podemos perceber alguns traços dessa performatividade da imagem e os conteúdos que claramente Child se interessa em Is this what you were born for? (1989), que Child descreve como um mapa de sete filmes que resultam de reflexões sobre o mundo no final do século XX. Há uma correspondência entre o found footage e as imagens que ela mesmo capta, criando uma composição prismática de imagens e variações de sons como uma poesia. Não à toa, Child se denomina também como poeta, porém não utiliza-se de uma poesia tradicional lírica. Sua particularidade é a forma como utiliza versos e palavras como elementos que interpretam a sua própria imagem e que criam uma construção narrativa em fragmentos. A composição rítmica não linear também é uma característica bastante recorrente nos seus filmes, fazendo com que o som seja um elemento que libera a imagem para diversas interpretações. Por vezes a montagem de imagens é inescrutável, mas a riqueza de elementos e efeitos faz com que eu acompanhe e tente capturar atenta todos os alvos de significado.
Outro projeto composto por filmes como capítulos é Trilogy of the Suburbs (2011)11, uma leitura sobre a experiência migratória desde a infância até a senioridade nos subúrbios dos EUA e o que resulta dessa procura do “sonho americano” em um período pós segunda guerra mundial. Iniciando com Cake and Steak (20 min), novamente o found footage incorpora-se às imagens de Child, construindo uma montagem de rituais visuais entre garotas se preparando em uma cerimônia de comunhão na igreja e famílias se divertindo em um parque de diversão. Aqui, vejo uma característica recorrente de Child em filmar pela janela, como se fosse um voyeurismo da imagem, do que se retrata e como se retrata. Me chama a atenção também o uso da tela dividida em duas ou três imagens, mostrando uma similaridade em diferentes planos ou cenários.
A seguir temos The Future is Behind you (21 min), que constrói uma narrativa completamente diferente à anterior, utilizando o home movie de uma família da Bavária dos anos 30 para ficcionalizar uma crônica familiar entre duas irmãs que discutem sua origem e a ideologia política de sua família. Child introduz os personagens, as complexidades e discursos através de letterings que constroem a narração do filme, embora não tenham sempre uma relação direta com a imagem. A ficção, biografia e linearidade se misturam em fragmentos, quando a narração de repente volta-se ao espectador: “Por que a câmera convida a uma despedida?”, “Memórias são somente confiáveis quando servem como explicação?”
Ao concluir com Surf and Turf (25 min), Child nos mostra uma perspectiva peculiar da costa Jersey, retratando uma comunidade misturada de novos e antigos imigrantes, entre judeus, irlandeses e italianos. Imagens do cenário do subúrbio americano: as ruas, as casas, os jardins, se repetem mostrando uma similaridade. Em diversas entrevistas, misturadas entre idosos sentados num clube e jovens surfistas procurando por liberdade, Child nos expõe a esta disputa e ambiguidade entre gerações e imigrantes em uma composição de vozes, ecos e imagens piscantes do cenário suburbano numa América capitalista. Esse filme se tornou uma grande referência de um retrato em fragmentos da experiência imigrante, e me fez entender muitas questões sobre o ser mexicana neste país e numa cidade que foi literalmente fundada por mexicanos. Entendo como as contradições existem até os dias de hoje, quando ainda há uma resistência às pessoas de origem humilde que migram para bairros mais nobres e a discriminação entre próprios latinos e imigrantes. O brasileiro aqui não quer se confundir como um latino mexicano. Curioso e trágico, não?



Cake and Steak / The Future is Behind You / Surf and Turf
Algo que vejo claramente em Child é o interesse pela história mundial e a necessidade de reescrevê-la nos seus filmes. Sendo uma mulher feminista e com convicções políticas ferrenhas à esquerda, vemos um filme que espelha novamente essa busca por um passado que é ainda presente: Acts & Intermissions: Emma Goldman in America.
Esse filme sobre “a mulher mais perigosa na América” é um ensaio em colagens sobre a trajetória da anarquista Emma Goldman durante seu tempo nos EUA. Os recursos de Child são similares, combinando títulos e vozes na narração, e a mistura de found footage antigo e recente com uma encenação ficcional que desvela a figura histórica que foi Emma Goldman. Child aborda as análises e polêmicas em torno de Goldman e cria uma relação com o presente, mostrando imagens documentais contemporâneas de mulheres trabalhando em fábricas de têxteis e vídeos de confrontos policiais durante protestos políticos. Assim como o nome do filme anterior: The Future is Behind You…
Falando em tempo, penso no processo criativo dela. Em alguns casos, a cineasta comenta que teve a ideia do filme há uma década, e só após esse período conseguiu concretizá-lo. Em tempos onde a “indústria” nos exige que aos 30 e poucos estejamos na transição de emergentes para estabelecidas, me pergunto se podemos esperar que nossas ideias nasçam sem a exigência da contemporaneidade. Tenho ideias que continuam em pensamento há 10 anos, e sinto culpa de não tê-las concretizado até agora. Após Child, a culpa diminuiu um pouco.
A.
São Paulo, não-carnaval, 2021.
Amiga,
A mexicana Ximena Cuevas alegrou minha impossibilidade de carnaval por aqui.12 Seu humor escrachado e sua liberdade de criação reafirmam minha motivação para seguir nesse caminho.
A carreira de Cuevas começa de forma curiosa. Seu primeiro trabalho foi na Cineteca Nacional da Cidade do México, cortando cenas que seriam censuradas pelo governo. Essa experiência parece ter influenciado bastante o trabalho autoral de Cuevas, principalmente no seu uso de found footage. Trechos de filmes clássicos mexicanos ganham novos sentidos, geralmente irônicos, em sua montagem, questionando o papel da cultura e das imagens na construção da identidade nacional do país. Há também uma crítica à colonização cultural muito presente. No filme Cinépolis (2003), reutiliza imagens da filmografia mexicana e estadunidense para inverter o sentido do termo alien (usado pelos americanos para caracterizar imigrantes ilegais, em sua maioria, mexicanos). Nesse filme, os invasores alienígenas são os estadunidenses, com sua cultura de massa e suas imagens cinematográficas que vendem o “american dream” para os países ao sul de sua fronteira —inclusive e fortemente o Brasil.
Vendo os filmes dela e ao tentar digerir tantas referências que seguramente são mais claras para quem cresceu assistindo filmes e TV mexicana, me senti muito próxima a você. Eu também cresci assistindo novelas e assistindo programas trash de televisão, mas há algo de muito especifico no melodrama mexicano, que Cuevas explora a fundo.
O videoclipe Corazón Sangrante (1993), uma parodia da iconografia nacionalista do México, é uma maravilha kitsch, com abuso de efeitos, cores e melodrama. Diversas representações da mulher mexicana são exageradas em cena, da ranchera à Santa, da mulher fatal à masoquista, enquanto a música conta a história de uma mulher sofrendo por um coração partido. É curioso que o videoclipe seja uma das formas comerciais que mais se aproxima e se apropria das características formais do experimental.
Em muitos de seus curtas, Cuevas se coloca em frente à câmera, ela própria se filmando. Em Diablo en la piel (1998), a cineasta realiza truques de atrizes para chorar em cena, entre eles, passar Vick VapoRub no globo ocular e pimenta na pele ao redor dos olhos. O vídeo é angustiante, mas o que fica é a atmosfera dramática de Cuevas com os olhos inchados, chorando. Vemos o dispositivo, o mágico revela seu truque, mas ainda assim, nos engana. Diablo me lembra a autoflagelação e a relação com o body art das primeiras videoartes aqui no Brasil, com Letícia Parente costurando o próprio pé em Marca Registrada (1975) ou Sônia Andrade deformando seu rosto com um fio de nylon em 1977.

Diablo en la piel / Corazón sangrante
Sua série contínua Dormimundo, composta por diversos vídeos curtos de 2 a 5 minutos, é um retrato peculiar do cotidiano mexicano. Cuevas registra momentos íntimos, banais, de alegria ou tristeza. Ela experimenta com a filmagem e o enquadramento para encontrar na edição e pós-produção o sentido e emoção que quer retratar. Uma limpeza de pele, férias à beira da piscina, uma canção que origina uma briga de casal. Qualquer fato corriqueiro é passível de transformação aos olhos de Cuevas. Usando trilha sonora carregada, máscaras de pós-produção, cartelas em fontes cafonas, a vida é registrada como uma sequência de sketches cômicos e ao mesmo tempo reveladores.
Uma de suas obras mais ousadas não é exatamente um filme, apesar de ter sido editada e lançada por Cuevas como tal. Trata-se de uma performance que a artista fez em um programa de televisão de fofoca e confusão chamado Tómbola (2001), uma espécie de Luciana Gimenez do México (você deve conhecer melhor do que eu). Cuevas participa do programa, em que subcelebridades expõem seus ridículos e são aconselhadas por “profissionais”. Quando chega sua vez, Cuevas tira uma mini câmera de sua maleta e a aponta para a lente do programa, se dirigindo diretamente ao espectador, dizendo estar à procura de alguém que esteja “interessado em sua própria vida.” Por um lado, a intervenção pode parecer elitista, como os “intelectuais” que julgam quem assiste BBB enquanto o Brasil desmorona. Por outro, a postura é de uma abertura e ousadia imensa. Que cineasta hoje teria coragem de “passar vergonha” participando de um programa desses?

Tómbola
Cuevas parece motivada por uma vontade de filmar tudo ao seu redor, sem se importar com um resultado ou um “plano de carreira”. Esse último é um assunto recorrente em seus vídeos. Em Contemporary Artist (1999), um vídeo curto, em preto e branco e com uso de fast forward, Cuevas se filma ensaiando para falar com um importante curador de arte. O off faz o papel de seu pensamento, onde reflete de forma irônica sobre o que é trendy ou cult na forma audiovisual. No espelho do banheiro, se enquadrando com a privada, ela ensaia como promover a si mesma e o seu trabalho. Quando decide finalmente falar com o curador, ele já foi embora. Para além do incômodo em ter que se autovender, situação ainda mais comum para cineastas e artistas hoje, o recado é claro: ao pensar demais em como se colocar no mundo das artes, a oportunidade foge.
Acho que Cuevas tem muito a nos ensinar com seu deboche, sua liberdade formal e seu desprendimento. Experimentalismo não é equivalente a sisudo ou a chato.
F.
Nova York, primeira nevasca na vida, 2021.
Amiga, te escrevo agora desde o inverno rígido de Nova York com a vontade de estar pulando o carnaval colada em uma imensidão de gente.
Começo a pensar sobre os espaços que queremos ocupar. Acredito que a prática do experimentalismo também vai além das telas de projeção. Às vezes, ele precisa extrapolar e ocupar espaços mais diversos. No caso de Cuevas, me impressiona o acesso que ela oferece do seu trabalho nos seus canais online. Um desprendimento de uma lógica de distribuição de filmes que o cinema experimental poderia também radicalizar. É algo que admirei muito da minha paisana e ter um portal aberto para conhecer seu trabalho e um pouco do seu mundo foi motivo de grande felicidade para nós.
Mantendo as referências latinas, compartilho agora sobre o mundo ao redor de Narcisa Hirsch, alguém que chegou da Alemanha a Buenos Aires no início dos anos 30 a passeio e, após a guerra impedir sua volta para a Europa, decidiu ficar. Considerada como uma das precursoras do cinema experimental na América Latina, Hirsch tem criado filmes há décadas que retratam temas existenciais como o amor, a materialidade do corpo, erotismo, o nascimento e a morte. Similar à Joyce Wieland, Hirsch começou como pintora nos anos 60 e também expandiu os espaços da tela de pintura em busca de um novo tipo de espectador. Ela começa a encenar happenings através de um trabalho coletivo em uma comunidade de artistas formada com integrantes da UNCIPAR, que na maioria foram os que iniciaram a formação do cinema independente e experimental da Argentina. A essência da criação coletiva foi algo crucial no trabalho de Hirsch naquele momento, na procura de fluir de uma linguagem para outra. Apesar de Hirsch não se declarar militante e nem seguidora de nenhum “ismo”, acreditava no papel político dos seus trabalhos como uma ruptura da tradição e na intervenção de espaços.
A partir dos registros fílmicos desse processo criativo e as performances dos happenings de Manzanas (1973), Bebés (1973) e La Marabunta (1967), ela começa a focar em filmes. Essa última foi a obra mais representativa da junção entre performance e filme, e consistiu em um esqueleto de uma mulher gigante recheado de comida e lixo onde pombas circulavam ao redor. O inusitado deste projeto é que ele foi apresentado no famoso Cine Coliseo de Buenos Aires junto com a estreia do filme Blow Up de Antonioni. O registro fílmico resulta em imagens de uma multidão da classe média se debruçando no esqueleto para devorar a comida, evidenciando uma crítica social de Hirsch sobre o público intelectual “ilustrado” de Buenos Aires em um cenário prévio à ditadura.

Retrato de una artista como ser humano
Ela realiza também o filme Retrato de una artista como ser humano (1973), que consiste em um compilado de happenings realizados com Marie Louise Alemann e Walther Mejía como um estilo de diário pessoal sobre experiência de criação coletiva. As imagens não seguem uma linearidade e por vezes criam um clima surrealista, sondando o formal e o pessoal, o íntimo e o coletivo.
O que me ressalta nessa obra é perceber a potência feminina nessa criação coletiva, e ver claramente que as cenas mais transgressoras são inclusive representadas por ela, como por exemplo quando ela come um fígado cru.
Taller
O que se vê e não se vê, o que se projeta e o que está por trás da projeção são conceitos que Hirsch explora em alguns dos seus filmes como Come Out (1971) e Taller (1975). Em Come Out, a imagem é introduzida fora de foco com o som de uma frase em loop e entrecortada, para que somente ao decorrer do filme o plano vá se abrindo para evidenciar a imagem “real”: uma vitrola tocando um disco. No final, um segundo plano revela a música que estávamos ouvindo em fragmentos: Come Out de Steve Reich. Já no caso de Taller, vemos apenas um plano sequência de uma parede do atelier de Hirsch, que utiliza da narração para descrever o que se encontra fora de quadro, fazendo com que o espectador reproduza mentalmente as imagens por conta própria.
Me interessa as relações que Hirsch cria em seus filmes, sobre o interno e externo, o doméstico e místico, o que permanece e a amplificação do lírico. Concluo então com Aleph (2005)13, uma adaptação livre do livro de contos do Jorge Luis Borges, onde nas palavras de Hirsch: “O Aleph é o ponto onde o tempo diacrónico e sincrónico se encontram, e nossa vida pode ser uma experiência de ‘toda uma vida ou de um minuto’”. Em uma sequência de imagens ditadas pelo tempo de um relógio que entra em cena como interrupção a cada segundo durante o período de 1 minuto, o filme faz alusão a instantes da vida como representação do infinito e eterno. O início mostra a morte de uma ovelha para depois seguir com o nascimento de um bebê, entrelaçando o tempo que passa com imagens de paisagens, uma criança crescendo, uma mulher sofrendo violência doméstica e o envelhecimento.
“Cada segundo representa uma instância da vida do nascimento à morte. O Aleph é o ponto que concentra essas instâncias.” Impressionante como por um minuto somos capturados neste ritual fílmico que Hirsch cria e ao tratar de temas como a morte — tema que me fascina como exploração fílmica — não poderia deixar de citar esta obra como uma das favoritas.
El Aleph
Me intriga também sua procura pela liberdade em seu trabalho além da forma. Hirsch indicava que existia uma emancipação ao trabalhar com um orçamento enxuto, pois se adicionava a liberdade de não ter que vender. Assim como outras cineastas que mencionamos, ela também não tinha pressa, “um frame por dia, ou a cada ano”. O experimental para ela era um ato subversivo, o que faz com que poucos consigam manter uma lealdade e muitos migrem para outro tipo de cinema)14
A.
×
Após um ano de trocas, chegamos aqui, inspiradas pela trajetória dessas seis mulheres cineastas e artistas que lutam por um cinema não industrioso e não tradicional, a partir de práticas experimentais que priorizam suas liberdades e autonomias criativas.
Essa imersão em andamento resulta de uma necessidade de pertencer como cineastas, como latino-americanas, como mulheres em um meio predominado por referências estéticas masculinas. Entre nós, traçamos novos caminhos e, ao mesmo tempo, valorizamos vozes que até então pouco conhecíamos. Agora, nesta tênue linha entre arte e vida, nos perguntamos: para onde seguimos?
Atualmente nos encontramos em um contexto social e político similar e distinto entre os EUA do recém-eleito Biden, mas ainda com o trumpismo vivo, e o Brasil de Bolsonaro. Com a dura realidade de uma pandemia global, nos deparamos com limitações de produção e financeiras no cinema. Nesse sentido, o radicalismo acaba tornando-se uma forma de afirmação para continuar fazendo filmes. Nossas limitações acabam sendo escolhas impostas e adaptam-se às características dos filmes feitos pelas mulheres que nos estimulam, como os filmes caseiros DIY (Do It Yourself), a câmera na mão e o cinema autodidata.
Existia e existe — para as ainda atuantes Child, Thornton e Cuevas — o objetivo de radicalizar a forma, derrubar as normas e criar uma arte do ponto de vista da mulher. Elas, entre tantas outras, não se tornaram apenas uma homenagem ou alusão estética para nós, mas sim um fio condutor de um passado que se torna muito presente — uma inspiração ativa. A partir disso, podemos começar a imaginar um caminho para uma história do cinema experimental escrita, feita e compartilhada por mulheres, incluindo nessa trajetória as latino-americanas.
Buscamos uma história de um cinema experimental presente que continue pelo mesmo percurso de rupturas e liberdades diante das amarras hegemônicas do cinema. Dessa forma, insistimos também em nos inserir como cineastas experimentais latinas nessa narrativa em (des)construção.
ME QUERO INTEIRA E INCONDICIONAL
“Sita Sings The Blues” (2008) é um longa de animação da auto-intitulada “a mais amada cartunista desconhecida da América”. Nina Paley, a cartunista, animadora e diretora deste trabalho, se apropria e remixa criativamente diversas referências que vão desde fragmentos auto-biográficos, até o livro sagrado hindu “Ramayana”, épico sânscrito de 500 A.C. Tudo isso temperado com o charme das canções de Annette Hanshaw, uma das primeiras cantoras de jazz nos anos 20.
Despedi-me de minha amiga Mari, depois dessas conversas longas no horário de almoço que parecem uma terapia no meio do dia. Lembro-me de ela dizer: “de alguma forma, ele fala de amor incondicional”. O filme em questão era Sita Sings the Blues (2008), da animadora e cartunista Nina Paley.
Existe um elo comum entre o ato de conversar comendo uma sopa tailandesa e de ouvir um mito antigo: o conforto que ambos trazem e as emoções primordiais que são tocadas. E, por outro lado, há uma a diferença cultural, as especiarias são leves e doces, um sabor anacrônico para um saturado paladar industrial-ocidental.
Isso me fez pensar na coexistência das diversas realidades sociais e raciais, que no caso cercam a existência de mulheres no sentido do feminismo interseccional, – para entender melhor indico Djamila Ribeiro. E, assim como a realidade necessita de uma leitura cuidadosa, os mitos também. Então busquei olhar para Sita Sings The Blues com algumas camadas, gosto de imaginar que um “bom filme” acontece quando conseguimos descascá-lo e encontrar mais de um significado. As camadas que escolhi para analisar foram a mítica, a estética e estrutura de gênero das personagens.
Como fala Joseph Campbell em A jornada do herói, os traços arquetípicos e a estrutura oral dos mitos atravessaram milênios levando em seu bojo uma moral, um ensinamento que retratam a ordem social de uma época. A moral, por sua vez, não é rígida, e se modifica ao longo da história da humanidade. Os costumes e valores podem ser tão anacrônicos quanto alguns sabores. O que acompanha a formação de um mito depende da cultura, do momento histórico e do contexto onde surgiu.
Durante muito tempo os mitos considerados “universais” transmitiram para outros formatos de narrativas (as literárias e cinematográfica) costumes pautados em sociedades patriarcais que repetiam o lugar objetificado das personagens femininas. Trabalhos como A Jornada da Heroína e o Mito da Virgem, assim como estudos da mitologia yunguiana sobre arquétipos femininos, nos trazem outro olhar frente às narrativas consagradas. O ponto diferencial de jornadas de arquétipos femininos é que a moral ou o devir pelo mundo passa antes pelo devir psíquico, uma jornada interior, rumo ao autoconhecimento. Uma transformação de si para poder transformar algo no mundo.
Em Sita Sings the Blues temos o antiquíssimo livro sagrado indiano de Ramayana. Em formato de poemas épicos, ele é uma estrutura mítica balizadora da cultura hindu. A diretora Nina Paley destacou o casal heterossexual romântico, Rama e Sita, que protagoniza o mito. Como esse mito reflete uma estrutura social fortemente pautada no patriarcado violento que, apesar das transformações políticas, ainda hoje é presente na Índia?

Afinal, de quem é a jornada?
Uma nova oportunidade de emprego em outro país. Um chamado divino para provar sua força. Por que essas são jornadas irrecusáveis para protagonistas homens?
Vemos os principais plots (enredos) de Sita Sings The Blues em paralelo: a história mítica de Sita e a própria história de Nina, como autora-personagem. Diferente do mito, a diretora coloca Sita como personagem principal da história no mito Ramayana. No entanto, Nina-diretora mantém certas estruturas na narrativa que condicionam o destino de ambas as personagens às ações dos seus parceiros.
Quando o namorado de Nina recebe uma proposta de trabalho na Índia, eles precisam encarar uma mudança radical. A partir daí, ele começa a se distanciar emocionalmente de Nina.
Durante a aventura de Rama, Sita é sequestrada e vive em um cativeiro com o rei Ravana. Rama volta de sua aventura e chantageia Sita, impondo que ela faça “provas de fogo e água” para que prove sua “pureza”. Ele a humilha, duvida de sua palavra e coloca a vida dela em em risco, para provar que não irá ferir sua honra masculina. O destino de ambas as mulheres escorrega entre suas mãos para as mãos dos maridos.
O movimento passivo esperado da mulher, no caso de Sita, não é apenas a espera passiva, mas também a naturalização da violência. Ela é mantida em cativeiro por um rei e, mesmo depois de liberta, enfrenta sentimento de culpa pelo abuso sofrido e pelo posterior isolamento e julgamento social. Ela não poderia constituir uma família nos parâmetros aceitos pela sociedade hindu.
Faço aqui uma pequena colagem mental, trazendo um fato atual sobre o movimento feminista indiano. Uma muralha de mulheres marginalizadas (castas baixas, trans, povos da floresta), Vanitha Mathi, foi a imagem que estampou os jornais em abril de 2019. Reforçando a importância do aprendizado da escuta pelo feminismo interseccional, o fato nos lembra da realidade que mulheres indianas vivem sob o poder do hinduísmo ortodoxo, pautado em ideias de castas sociais, sexismo e neocolonialismo.
Revisitar o mito que constitui essa tradição patriarcal é, portanto, chegar em sua raiz.
Múltiplos enredos e o remix da cultura livre
A oralidade no filme aparece marcada pelas personagens-sombras como a figura de narradores da antiguidade que caçoam e fazem pequenas mudanças interpretativas de contexto durante o desenrolar da história. Esse exercício torna-se uma demonstração de como as narrativas orais são suscetíveis a mudanças e interpretações, derrubando a ideia da verdade e da história única.
Nina-diretora defende a cultura livre (nada melhor do que Wikipedia para falar disso). Baseada na ideia da liberdade de modificação e distribuição, a ideia de Cultura Livre é encontrada também no manifesto “RIP: A remix Manifesto”, e no livro “Cultura Livre” do criador Lawrence Lessig que originou o selo Creative Commons. A cultura livre defende que obras culturais e criativas, depois de um período, se transformem em domínio público retornando benefícios à sociedade.
Ao utilizar sem a concessão dos direitos autorais as músicas de Annete Hanshaw, Nina-diretora provocou após o lançamento online do filme uma balbúrdia na indústria cultural. Essa história, ao invés de prejudicar ou “roubar” qualquer originalidade da obra musical de Annete Hanshaw, provocou o contrário. Trouxe sua obra repaginada e com uma releitura contemporânea, tornou-a viva novamente.
Nina-diretora traz para o modo de produção a ideia de propriedade/liberdade que também é tratada no drama da personagem de Sita. A trilha musical por si só é uma personagem do filme. A terceira integrante dessa narrativa, a cantora Annette Hanshaw, também aparece como representação de Sita. Ela foi uma estrela do jazz americano da década de 30. O blues traz seu aspecto trágico e melancólico.
É fundamental ressaltar a origem etnocultural do blues, que se originou da população negro-americana, e os traços melancólicos mostram a resistência e a tristeza diante da experiência da diáspora e escravidão. O blues sofreu apropriações de cantores e cantoras brancas, como no caso de Annette Hanshaw. A cantora retrata sofrimentos de sua condição de mulher falando sobre submissão, relações abusivas, o sofrimento decorrente de uma situação de opressão e violência.
O que impressiona no filme é a originalidade ao costurar tantos enredos e fazer um caldo cultural com diálogo entre tradição e relações modernas multiculturais. Nesse caldo, de forma utópica (ou como imaginação de um futuro possível), essas tradições poderiam ser vividas sem conflitos ou dominações.
Libertando os traços
No artigo ‘Whose Body Is It?’, dentro da coletânea Animating the unconscious, a pesquisadora e artista Alys Hawkins defende a singularidade da animação como linguagem que conecta-se com a linguagem do inconsciente. Permitindo que este se expresse de forma não linear e através do desenho, ganha-se espaço para metamorfoses, anamorfoses e exageros que não são vistos em filmes live action.
Nina, em sua animação tragicômica remixada, flui entre fronteiras dos gêneros fílmicos. No desenho das personagens, a animadora reforça os estereótipos de gênero e beleza lembrando cartuns americanos hipersexualizados. A ironia escancara as dores, mas não liberta seus personagens dos estereótipos. O estilo de desenho se altera e perde o caráter de cartum sexualizado, para um desenho mais fluido e em camadas, quando Sita começa a se libertar dos papéis (literalmente!) socialmente impostos.
O amor incondicional, a flecha que abraça
“A paixão amorosa, desde o princípio, não é capaz de uma visão objetiva do outro, de entrar nele, antes é, um entrar profundo em nós mesmos, uma solitude multiplicada”
– L. Andreas Salomé (1986)
O arco é uma arma e também um símbolo recorrente em mitologias, como em Ramayana ou em Penélope. Ligado ao movimento necessário de se arquear, de se desdobrar diante da vontade para conquistar o que se quer, o arqueiro no entanto, é o conquistadOR.
Divagando sobre o ato de amar, encontrei Coral Herrera, uma estudiosa feminista queer que, em Os mitos românticos na sociedade ocidental, aponta o amor romântico como uma espécie de religião pós-moderna coletiva que nos promete a “salvação”. Ela mostra como ficamos incrustados na idealização e na decepção enquanto não nos abrimos a outras formas de amar.
Mesmo depois de acontecimentos sofridos, Sita repassa sua tradição para os dois filhos, em um canto de adoração ao pai ausente e abusivo. Ela cria e transmite uma imagem do pai que as crianças não chegaram a conhecer. A maternidade é retratada como uma fase “blue”, triste e solitária pela qual Sita atravessa acompanhada apenas de seu guia espiritual. Com o tempo, Sita alcança sua individuação.
No fim encontramos o amor incondicional e a incapacidade de mudança da masculinidade de Rama. Vemos Sita, que criou os filhos sozinha e próxima do mentor espiritual, cantando sua adoração ao pai das crianças. Rama reencontra a família por acaso. Ele não é capaz de enxergar o amor incondicional e continua com a ladainha repressiva de que Sita precisa lhe provar fidelidade.
Nesse momento, Sita conclama a deusa-mãe e entrega a única coisa que a pertence, seu valor maior: sua verdade. Toda a força, dedicação, amor que transmitiu aos seus filhos e junto com eles a lembrança – mesmo que fabular – do “bom pai” são oferecidos à Mãe-terra. Ela simboliza na cultura hindu a origem do Universo, criadora da vida, que engole ou abraça Sita em seu bojo.
Me pergunto, ainda, se manter as características de receptividade e amorosidade apenas quando falamos de arquétipos femininos não seria uma manutenção da binaridade, e da função maternal ligada apenas a mulher? Talvez seja necessário uma discussão e distinção entre arquétipos femininos/masculinos/andróginos e a discussão sobre identidade de gênero nas narrativas. Papo para uma próxima vez.

Aberta a interpretação, a metáfora nos coloca em duas interpretações: seria essa a volta de Sita para seu “amor inteiro”, ao ser integral? Ou seria uma versão suicida da história de mulheres que encontram a liberdade na morte? Sita dança com o fogo e se metamorfoseia: sacrifício ou ritual de passagem?
Nina brinca com essas duas possibilidades, sem nos dar uma resposta certa ou errada. Ambas lidam com a esfera da passagem pela dor, seja pelo sacrifício da própria vida, ou por ser necessário ter que ofertar o que se tem de mais valoroso para si. Não é assim que nos sentimos quando temos que sacrificar algo em nome de um relacionamento, trabalho ou escolha pessoal? O que deixamos para trás era possível de abandonar ou leva consigo uma parte do nosso ser inteiro?
O machismo e a violência que fazem parte das relações afetivas e da intimidade costumam ser os mais difíceis de se pronunciar, pois a chantagem pela promessa de afeto, da manutenção de um laço baseado na ideia de propriedade, muitas vezes é a única forma de ser amada que nos foi apresentada até aquele momento. A chamada para o auto-conhecimento e processo de cura através dele se dá pelo “amor inteiro”, como diz bell hooks. E pergunta brota uma pergunta: é possível manter a ideia de “construir” uma relação juntos sem a ideia de propriedade?
Como diz bell hooks em Vivendo de amor: para que seja possível o despertar interior é necessário um espaço e boas memórias, que nos deem exemplos de amor inteiro e de se relacionar com o outro em uma relação sem dominação. Por isso, lutar pela igualdade de gênero e racial é uma via de mão dupla, é transformar a si e transformar o mundo. Prosseguir é um movimento contínuo de estar sempre em vias de se completar plenamente.
Reinventar nossas formas de amar e nos amar não é excluir as formas que já existem. É um convite para pensar uma educação não apenas sexual, mas sentimental e sensível. O amor pode ser uma transgressão espiritual, mas que ele funcione como alimento para a vida, e não como alienação de si.
Leia os outros textos de Ana Julia Cavalheiro em seu Medium.
Assista ao filme aqui.
FILMES ME ENSINARAM A COMER
Filmes me ensinaram a sentir.
Depois de seis anos, voltei à terapia. Tenho descoberto muitas coisas sobre mim e minhas relações com as pessoas e o mundo, e algo que tem me voltado à mente com alguma frequência é esta frase: filmes me ensinaram a sentir.
No final de 2018, outra frase me perseguia, repetida como um mantra na minha cabeça: “eu quero voltar a ser gente, eu quero voltar a ser gente”. O que, sim, estava relacionado ao ritmo louco de produtividade que nos é exigido atualmente, transformando tudo que nós gostamos/fazemos/somos em algoritmos capazes de gerar lucro enquanto consumimos conteúdo que não parece nunca preencher nosso vazio existencial. Mas, para além dessa ideia de seres humanos como máquinas dentro de uma cadeia de produção interminável, me peguei pela primeira vez questionando essa impessoalidade no contexto familiar e como ela alimentou e foi alimentada pela relação com os meus pais.
Com um pai militar que viajava com frequência durante a minha infância e cuja carreira nos fez morar longe de tios e avós, uma mãe muito jovem e solitária que não pôde ter outros filhos, minha educação emocional – no que diz respeito à construção de relações de afeto em uma comunidade – foi esparsa. Não consigo me lembrar, na minha infância e adolescência, de momentos de rotina do dia-a-dia em que passasse junto com meu pai e minha mãe para conversar. Apesar de meus pais sempre terem sido muito carinhosos, nunca construímos uma troca de pensamentos e diálogo que nos permitisse conhecer uns aos outros de forma profunda.
Pode parecer uma associação inusitada, mas acho que isso se relaciona de alguma forma com o fato de nunca termos, como família, nos importado muito com comida. Não tínhamos o hábito de comer juntos, eu ia para a escola cedo, meu pai trabalhava o dia inteiro, e ninguém dava muita bola para o jantar. Minha mãe nunca gostou de cozinhar e meu pai sempre preferiu requentar a comida no microondas a sair e ter que esperar pela comida por mais de dez minutos. Comíamos cada um numa hora, e a comida nunca era particularmente especial.
Apesar disso, muitas das minhas lembranças com meus pais na infância e na adolescência estão relacionadas a comida, mesmo que comida ruim. Pipoca de microondas no final de semana enquanto meu pai assistia ao futebol; as raras vezes que minha mãe fazia lasanha e eu comia a massa de macarrão com a mão, queimando os dedos e a língua; sorvete e outras besteiras de madrugada com minha mãe enquanto meu pai dormia; visitas mensais ao supermercado com o meu pai, uma das únicas coisas que fazíamos juntos, mesmo depois que eu me tornei uma adolescente mal-humorada. Quase todo o resto da minha memória afetiva foi construída por filmes e livros que caíam nas minhas mãos.

Little Forest (2018)
Não é tão estranho que eu tenha compensado a deficiência na minha formação afetiva com as artes, especialmente a literatura e o cinema. Acredito também que, apesar das peculiaridades do meu histórico familiar, não seja incomum, dentro de uma sociedade ferozmente competitiva e cada vez mais focada no indivíduo, que as pessoas se sintam mais e mais desconectadas de suas comunidades e redes de apoio, com poucas oportunidades para amadurecer emocionalmente. Nossa obsessão até mesmo na política por heróis e vilões tem nos mostrado isso.
Não que todos os filmes e livros caiam na velha dicotomia de bem contra o mal, longe disso. Mas, querendo ou não, essas são histórias que ocupam maior espaço e acabam por povoar o imaginário coletivo com enorme força. Pessoalmente, tenho pouco interesse nesse tipo de narrativa, embora entenda o seu apelo, em especial quando se enxerga a arte como escapismo.
Nos últimos tempos, tenho voltado a pensar sobre isso, como consumimos arte, o que ela representa para nós. Acho curioso que o audiovisual tenha se transformado em mais um utensílio no grande arsenal do tal “self-care” (ou, pelo menos, a ideia propagada nas redes sociais do que é o self-care), como se assistir a seis horas seguidas de uma série para tirar nossa atenção do estado em que se encontra a nossa vida fosse de fato uma prática de auto-cuidado. Confunde-se distração com satisfação, consumo com prazer. Para mim, essas coisas não poderiam estar mais distantes. Tem ficado cada vez mais claro que o que eu procuro é transcendência.
No ano passado, ouvi um episódio no podcast The New Yorker Radio Hour em que o roteirista e diretor Paul Schrader fala sobre sua relação com religião e o cinema. Criado por uma família da Igreja Reformista Cristã calvinista, Schrader, conhecido por ter escrito filmes como Taxi Driver e Touro Indomável, viu seu primeiro filme aos 17 anos de idade. Ele relata que só foi pensar no cinema de forma mais profunda quando entrou em contato com os filmes de Ingmar Bergman e percebeu que eles traziam as mesmas discussões que ele ouvia na sala de aula da faculdade e na igreja. Foi quando percebeu que o cinema e a religião não eram incompatíveis. Alguns anos depois disso, morando em seu próprio carro, sem falar com ninguém por semanas, com uma úlcera no estômago, Schrader sentia algo crescer dentro dele que, se não extirpasse, iria devorá-lo: Travis Bickle, o taxista violento e deprimido de Taxi Driver. Schrader não escreveu o roteiro de Taxi Driver porque queria fazer um filme, mas porque queria exorcizar seu próprio demônio.
O título do episódio, Movies as religion, “filmes como religião”, ressoou em mim. Eu tenho uma história complicada com religiões, há alguns anos não frequento nenhuma igreja e hoje oscilo entre o ateísmo e o agnosticismo, mas não gosto da ideia de que não haja nenhum tipo de magia no mundo.
Este ano, de volta à terapia, ao tentar explicar a alienação eu sentia e a conexão que buscava, eu voltava ao cinema de novo e de novo como uma pessoa religiosa voltaria a passagens do seu livro sagrado. Ao mesmo tempo, estava lidando com a crise da moda dos millenials: a síndrome do burnout. O segundo semestre de 2018 foi repleto de trabalho (parte dele remunerado, outra não) e desgaste emocional (cortesia, dentre outras coisas, das eleições) que acabaram por debilitar muito o meu sono e gerar uma série de crises de ansiedade.
Parte disso estava ligado ao fato de que muito do meu trabalho era feito online ou de forma muito desestruturada. Isso além de fazer trabalho “artístico” e “que eu amo”, o que dificultava muito a separação entre a minha vida profissional e pessoal. As redes sociais se tornaram um espaço de auto promoção e divulgação, o que acabou ainda mais com qualquer divisão entre o trabalho e a vida privada que pudesse existir. Momentos de descanso se tornaram escassos e carregados de culpa, a necessidade de produzir e ser útil me consumiam, minha existência se justificava pelo fazer e não pelo ser.
Quando finalmente percebi que estava doente – física e psicologicamente – uma das primeiras coisas que eu percebi que tinha de fazer era retomar meu senso de valor independente da produtividade. Escrever textos (bons ou ruins) que jamais seriam publicados. Ver filmes e ler livros que eu queria e não porque estava tentando bater uma meta arbitrária. Assistir a dramas coreanos que me davam vergonha. Passear com o cachorro devaneador da minha vizinha por uma hora e meia, duas. Entender que minha existência tinha valor, mesmo que eu não estivesse produzindo.

Something in the Rain (2017)
Nessa mesma época, eu já estava imersa numa intensa maratona, inicialmente acidental, de filmes sobre/com comida que a princípio associei com minha gulodice costumeira e com o conforto que os filmes me traziam já que a maioria deles eu havia assistido antes e gostava bastante. Conforme fui assistindo aos filmes, entretanto, comecei a perceber que talvez a minha obsessão tivesse outras raízes, o que ficou ainda mais claro quando entrei em contato com dois livros sobre prazer.
Um deles foi o Pleasure Activism, cuja tradução seria algo como “Ativismo do prazer”, da pesquisadora Adrienne Maree Brown, no qual ela defende o prazer como uma ferramenta política. Brown escreve: “Parte da razão pela qual tão poucos de nós têm uma relação saudável com o prazer é porque uma pequena minoria da nossa espécie acumula o excesso de recursos, criando uma falsa escassez e, depois, tenta nos vender alegria, tenta nos vender a nós mesmos” (tradução nossa). Vale sublinhar que uma “relação saudável com o prazer” diz respeito também à moderação, e não nos jogarmos aos excessos do consumo para nos distrair de nossas dores e tragédias. Não adianta buscar o prazer para nos desconectarmos do que nos fere; o prazer real, que nutre, é um exercício de conexão.
A ideia de sair da lógica da escassez, a ideia de que o prazer, o deleite e a alegria poderiam ser uma ferramenta de resistência em um momento de tanta agonia pessoal, profissional, social e política, me pareceu revolucionária. Mas não foi a primeira vez que me deparei com esse pensamento.
Quando assisti a Café com Canela de Glenda Nicácio e Ary Rosa em 2017, depois da belíssima sessão no Festival de Brasília, precisei de alguns minutos para entender a euforia que me invadia. Entender a potência de um filme sobre pessoas negras no interior da Bahia que ousam ser felizes, cuidar uns dos outros, nutrir e alimentar uns aos outros, literal e metaforicamente. Estava tão acostumada com o sofrimento a que estão relegados os corpos negros e os corpos de mulheres no cinema, que o choque do deleite, do prazer e das subjetividades representados em Café com Canela me tocaram profundamente.

Café com Canela (2017)
A rede de afetos que vemos no filme é vasta e cada uma é muito particular. Muitas delas são expressas através da comida. O churrasco com os vizinhos cheios de histórias contadas, as lembranças de festa de São João, a sopa dada na boca da avó acamada, a receita de família da coxinha que Violeta vende, o café com canela de Violeta que esquenta o corpo e a alma de Margarida.
O outro livro que eu li nessa época foi The Book of Delights, “O livro dos deleites”, uma compilação de pequenos ensaios (“ensaietes”) em que o autor, o poeta Ross Gay, se debruça sobre um deleite por dia ao longo de um ano (ele não escreveu 365 ensaios, um dos deleites era o deleite de furar compromissos).
Na introdução do livro, Gay escreve:
“Um ou dois meses iniciado o projeto, deleites estavam me chamando: Escreva sobre mim! Escreva sobre mim! Porque é grosseiro ignorar os seus deleites, eu dizia a eles que, embora eles talvez não se tornassem ensaietes, eles ainda assim eram importantes e eu era grato por eles. Em outras palavras, eu sentia a minha vida mais cheia de deleite. Não sem tristeza ou medo ou dor ou perda. Mas mais cheia de deleite.” (tradução nossa)
Em Café com Canela, a dor de Margarida é uma ferida profunda que provavelmente nunca se fechará por completo e isso merece ser honrado também. Não se trata de negar a tragédia, trata-se de se permitir continuar a viver não apesar dos mortos, mas por eles. Para honrar a vida que eles não podem mais ter, vivendo-a da melhor forma possível.
“O desejo e o prazer são duas formas pelas quais afirmamos que existe algo pelo qual viver.” (BROWN, Adrienne Maree. Pleasure activism: The Power of Feeling Good).
Existe algo muito potente em reconhecer nossa fome. Além de ser uma forma de perceber que se está viva, o desejo quando se é mulher é uma transgressão. Afinal, quando a escassez é regra, a abundância é transgressora.
Sempre me espanta que distúrbios alimentares como a anorexia e a bulimia sejam vistos como formas de chamar atenção. A falta de comida nos torna menores, cada vez menos visíveis. Mulheres são ensinadas a não pedir nada, nunca devemos querer mais do que nos é dado, seja comida, amor ou sexo; distúrbios alimentares são apenas mais uma forma de não causar incômodo com nossos desejos.
Reconhecer essa fome/desejo/vontade é voltar à carne, ao erotismo. Em Como Água para Chocolate, de Afonso Arau, quando os sentimentos de Tita transbordam para além do que lhe é permitido sob o controle tirânico de sua mãe, ela os transfere para a comida que cozinha, compartilhando suas emoções mais profundas com quem se alimenta de seus pratos. Em uma das cenas mais memoráveis do filme, a irmã de Tita fica tão consumida pelo desejo que Tita imbui na comida que ela literalmente rompe em chamas e foge nua com um homem a cavalo.
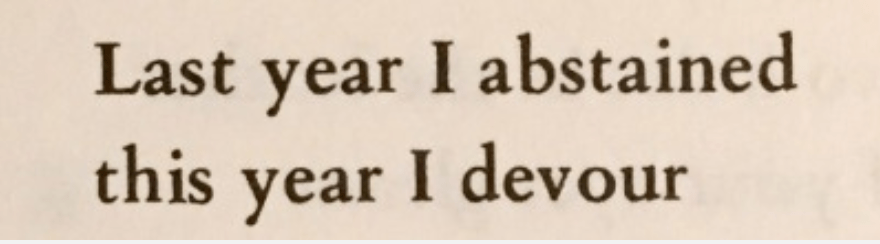
“Ano passado eu me abstive/este ano eu devoro” Mud/Circe poems de Margaret Atwood
A manifestação da fome feminina é libertadora. Na minissérie coreana 밥 잘 사주는 예쁜 누나 (a tradução literal seria algo como “irmã mais velha que me compra comida”, mas na Netflix a série está sob o título Something in the Rain, “algo na chuva”), a protagonista Jin-ah é uma mulher titubeante e recatada, que aguenta o abuso dos chefes calada e é rejeitada por um namorado que não a valoriza. Quando começa a sair para jantar com Joon-hee, o irmão mais novo de sua melhor amiga, a adoração que ele sente por Jin-ah a faz perceber pela primeira vez que seus desejos e vontades são dignos de serem saciados. A coragem de se satisfazer a fortalece.
Algo parecido acontece com Ila, protagonista do filme The Lunchbox do diretor Ritesh Batra. Por conta de um engano no complicado sistema de entrega de comida na Índia, o almoço especial que Ila prepara para tentar reavivar o casamento é entregue para Saajan, um funcionário público viúvo prestes a se aposentar. A partir daí, Ila e Saajan começam a compartilhar sentimentos e histórias muito pessoais em cartas diárias. A vulnerabilidade a que os dois se expõem os aproxima, e Ila continua a preparar comida para Saajan. Se toda carta é uma carta de amor, cada prato preparado sem obrigação para outra pessoa também o é.
A associação entre a fome e o desejo carnal é antiga e já foi muito explorada não apenas pelo cinema e pela arte, mas também por textos religiosos. Afinal, para muitos, o pecado original foi uma mulher comer algo que não devia. Em O Banquete de Babette de Gabriel Axel, vemos uma comunidade religiosa no interior da Dinamarca ficar muito inquieta com o iminente banquete que será oferecido por Babette, uma refugiada francesa que foi acolhida pela pequena vila. Os aldeões observam com crescente alarme enquanto os ingredientes sofisticados como tartaruga e vinhos caríssimos chegam à vila, convencidos de que um banquete como esse fará com que se entreguem ao mundo material e se afastem de Deus.
O que acontece, entretanto, é o contrário. Ao comer da comida de Babette, a pessoas da vila entram em comunhão umas com as outras, o prazer as torna mais generosas e tolerantes, e a comida é tão deliciosa que comê-la se torna uma experiência transcendental, um encontro com as outras pessoas da comunidade e com Deus.
Esse encontro do prazer e da comunhão é uma das coisas que mais me atrai nesses filmes, mas também me interesso pela comida de forma mais banal, uma necessidade do dia-a-dia. Sempre quando penso em comida e cinema, as imagens encantadores das comidas nos filmes do Studio Ghibli me vem à mente. Recentemente percebi que O Serviço de Entregas da Kiki de Hayao Miyazaki é quase um filme sobre comida, embora de forma discreta. Além de trabalhar em uma padaria, Kiki ajuda uma vovó a fazer uma torta para a neta, se preocupa com quanto dinheiro tem para fazer alimentar a si e seu gato Jiji e se emociona ao receber um bolo de presente como agradecimento. Tratam-se de momentos amáveis ou corriqueiros, mas que sempre nos lembram da ternura do cotidiano.

O Serviço de Entregas da Kiki (1989)
Filmes sobre comida se relacionam muito com o tempo. A hora de cada refeição, o tempo de preparo, a estação certa para plantar e para colher. Pequena Floresta, do diretor Jun’ichi Mori, nos faz sentir esse tempo. Dividida em dois filmes de duas horas cada, Pequena Floresta: Verão/Outono e Pequena Floresta: Inverno/Primavera, a trama é quase inexistente. Vemos Ichiko plantar, colher, cozinhar e refletir ao longo de quatro horas no que se torna quase um exercício meditativo. Da primeira vez que assisti aos filmes, fiquei inquieta, já na segunda, o tempo lento do filme me envolveu de tal forma que me senti repleta de calma. “Tudo ao seu tempo” é uma frase que nunca me deu muita tranquilidade, sou impaciente demais para isso – mas perceber que algumas coisas estão além do nosso controle pode ser algo surpreendentemente reconfortante.
A versão coreana de Pequena Floresta, Little Forest, da diretora Yim Soon-rye, também é um filme sobre o tempo, mas este foca mais no conflito da protagonista, na sua jornada interior para a plenitude, é um filme sobre atingir a maturidade, uma história de formação. Assistimos a Hye-won voltar para a casa onde cresceu, cozinhar os pratos que sua mãe a ensinou, mas do seu jeito, aprendendo a ser uma mulher adulta dona de si ao mesmo tempo que consegue, finalmente, entender e perdoar sua mãe por partir.
Cozinhar como ato de memória, de honrar e superar a tradição. Esse é um tema comum quando falamos de comida. Comer Beber Viver de Ang Lee também volta a ele, com a história de três irmãs que vivem na casa do pai chef de cozinha, reunindo-se a cada domingo em torno do ritual de almoço dominical. Cada uma das filhas enfrenta um momento crítico para alcançar a vida adulta e os almoços semanais funcionam como momentos para anunciar os surpreendentes novos eventos para o patriarca da família, o que acaba por alterar a dinâmica familiar e transformá-la em algo novo.
O chef e dono dos restaurantes Momofuku, David Chang, em sua série documental da Netflix, Ugly Delicious, retorna à temática da inovação versus tradição. Chang é conhecido por suas criações excêntricas e fusões de tradições culinárias distintas, mas ele sabe que, para chegar à originalidade e à inovação, é importante conhecer e respeitar as origens e tradições. Esse respeito não é apenas pelos ingredientes, pelas técnicas e nem mesmo pela cultura em que ele está se inspirando, mas pela memória afetiva de cada um.
No terceiro episódio da primeira temporada da série, Comida Caseira, Chang e outros chefs e críticos culinários falam sobre sua relação afetiva com a comida, suas famílias, seus parceiros e parceiras, amigos, filhos. Em um determinado momento, Chang relata que quando ele era mais novo, tudo que ele queria era se afastar da cultura coreana dos pais. Contudo, depois de ter se tornado um chef renomado, ele começou a associar a comida de tradição europeia ao ambiente tóxico e abusivo dos restaurantes onde passou seus 20 anos trabalhando e, cada vez mais, o que ele queria fazer era retornar à comida que sua mãe fazia em sua infância e levar isso para o restaurante. Trazer não apenas sabores deliciosos para os clientes, mas de alguma forma acessar esse lugar mágico da memória e do afeto com a sua comida.
Volto a pensar nos meus pais, em comida, em caminhos para o encontro e para o diálogo. Penso em horas gastas de forma improdutiva, na cozinha, rindo e cozinhando juntos, conversando e bebendo vinho. Essas não são memórias, são imagens forjadas pelos filmes que me ensinaram a comer e a viver. São desejos e há potência reconhecer desejos e em, quem sabe, saciá-los.
Existe um quê de utopia em todos esses filmes e séries sobre comida. São experiências sensoriais que nos fazem quase sentir o cheiro e o sabor de cada coisa, nos levam a pensar em um tempo mais lento, em construção em comunidade, em erotismo e desejo, em pontos de encontro entre gerações, em afeto, deleite, prazer. Pode parecer irresponsável falar em utopias quando parece que estamos caminhando para o abismo, mas, se distopias nos alertam para os perigos de como estamos vivendo, as utopias nos lembram de razões para continuar a lutar para viver.
Leia também:
Café com Canela, por uma espectadora negra entre a fruição e a crítica, de Letícia Bispo
PELO SENTIDO ABERTO: AS PEQUENAS MARGARIDAS
Em 1966, quando a diretora tcheca Věra Chytilová lançou seu filme mais conhecido, As pequenas margaridas (Daisies, no original), o Partido Comunista da Tchecoslováquia não viu com bons olhos a produção. Maria1 e Maria2, as Daisies, são duas jovens meninas que aprontam pela cidade diante um niilismo incomensurável. Acusado de indecente e pessimista, o filme de Chytilová teria cometido um grande absurdo: o enorme desperdício de comida (o filme é composto por cenas homéricas em banquetes) diante do cenário catastrófico do pós-guerra.
Além disso, o governo denunciava a diretora por não compartilhar dos ideais comunistas, criando uma ambiência de pessimismo em relação ao regime. Em atitude controversa (para bom leitor, meia palavra basta), Chytilová alegou que, na realidade, o que estava fazendo com seu filme era justamente uma crítica às suas heroínas, moças bobas que não pensavam em nada além de si mesmas e que, no final, ainda são punidas.
“Daisies era um jogo de moralidade mostrando como o mal não se manifesta necessariamente em uma orgia ou destruição causada pela guerra, que suas raízes podem estar escondidas nas brincadeiras maliciosas da vida cotidiana. Escolhi como minhas heroínas duas moças, porque é nesta idade que a pessoa mais quer se satisfazer e, se deixada a si própria, sua necessidade de criar pode facilmente se transformar em seu oposto.”
Carta de Věra Chytilová ao presidente Gustav Husák, em 1975.
A justificativa de Chytilová parece mais como uma desculpa, no sentido: “Deixa eu falar o que eles querem ouvir” do que uma leitura realmente crítica sobre o papel de suas protagonistas. Justificativa plausível, diante dos seus sete anos sem trabalhar, impossibilitada pela censura do governo no final dos anos 1960.
Proponho aqui uma terceira leitura para Daisies, que mescla a perspectiva subversiva da narrativa (temerosa aos governos totalitários), a resposta um tanto cínica de Chytilová (crítica a um certo hedonismo das protagonistas) e a busca por uma estética feminista no cinema.

Você se importa? Não, eu não me importo.
A abertura já nos dá um indício de que este é um filme fragmentado. Planos de um maquinário são entrepostos com cenas de guerra e explosão: o progresso científico não necessariamente trouxe a ordem, a paz, “os bons costumes”. A modernidade fracassou. Mas se tudo vai mal no mundo, que tal sermos maus também? Essa é premissa das Marias, que com o jargão “Você se importa?” x “Não, eu não me importo”, passam a agir de forma a quebrar a ordem social pré-estabelecida.
Há um niilismo em suas ações, mas não do tipo apático. Para as Marias, já que nada importa, nada é menos importante: qualquer situação é uma possibilidade para a criação, para o divertimento. Um passeio no jardim se transforma em uma bela dança coreografada, um jantar com um velho rico é uma ótima oportunidade para saciar a fome de anos, e ainda, testar as habilidades cênicas ao enganar o homem. “Estamos ficando cada dia melhor nisso”, revela uma das Marias, ao terminar com uma risada estrondosa.
Ainda, justificando o papel de suas protagonistas, Chytilová definiu o filme como um “documentário filosófico sob a forma de uma farsa”, uma “comédia bizarra com fios de sátira e sarcasmo”. Disse ainda que “nós [os cineastas] queremos desvendar a futilidade da vida no círculo errôneo de pseudorrelações e pseudovalores, que leva necessariamente ao vazio das formas vitais, na postura de corrupção ou de felicidade.” A crítica de Vera ao hedonismo das duas personagens se configura menos como uma questão de quebra da ordem social quanto à desimportância dada aos afetos, aos vínculos. Talvez Marias estivessem certas em questionar o status quo, no entanto, não o fizeram da “maneira mais adequada”. Afinal, existe maneira adequada de subversão?
Daisies não conta história alguma senão sobre destruição. Não há um “fio narrativo” ou “desenvolvimento dos personagens”. As Marias simplesmente existem. E destroem o que veem pela frente: seja enganando, roubando, seja picotando, seja dando boas gargalhadas no quarto. Mas por que esta obsessão pelas ruínas? É que as margaridas não se contentam com o velho. O sarcasmo infantil presente nas duas personagens não tem nada de inocente, mas sim perverso. O primeiro passo para o novo é o estrago do velho, daí a metáfora da guerra. As Marias não necessitam de armas, entretanto, de sua “feminilidade”.

Por uma estética feminista
Críticas feministas abordam o assunto da “feminilidade” por perspectivas diversas. Uma delas a vê não como um essencialismo, mas como uma parte estratégica do feminismo. Ao que ademais já está dado como certo que as perspectivas feministas, por vezes, destoam. Posicionamentos à parte, o que percebo no filme de Věra Chytilová é justamente o uso estratégico do discurso sobre o “feminino” para propor não apenas discussões feministas, mas uma estética própria.
Para além das desventuras amorosas das Marias, que seduzem os homens que encontram pela vida, a “feminilidade” é colocada de forma alegórica por Chytilová, principalmente, em certos momentos que escapam a narrativa, que estão fora do “discurso da ordem”: entre as sequências de As pequenas margaridas, nos deparamos com de planos de flores, borboletas, vestidos, etc. E por quê? Como forma de crítica, é claro, mas, paradoxalmente, como afirmação. Discordando da própria autora, penso que de “bobas”, as Marias não têm nada. Colocar em pauta no discurso fílmico as borboletas, as flores, os vestidos como reais significantes da trama e não apenas como adorno é a perversão em relação ao discurso lógico que preconizava esses elementos como “acessórios”.
Chamo a atenção para situações no filme que tocam explicitamente a questão do feminino, e claramente, se estabelecem sob uma leitura psicanalítica: em primeira instância, a fome insaciável das duas personagens, simbolizando uma falta – a famosa inveja do falo freudiana; aqui, entretanto, gostaria de apontar para uma segunda interpretação: a fome é mesmo por um sentido, a busca por um significado de “ser mulher” que já não é esse imposto pela sociedade patriarcal. E é, exatamente, por isso, que Daisies é um filme nonsense. Nonsense, pra quem?
Em outra cena, as personagens se deliciam ao picotar alimentos que possuem formas fálicas: um picles, uma banana, um ovo cozido. A fome é tanta que já não bastam os alimento reais. Em revistas de supermercado (um clássico da dona de casa), uma das Marias recorta a figura de um bife e mastiga o papel em sua boca. A picotagem não para. Chegando ao cúmulo de se automutilarem com a tesoura: as cabeças ficam para um lado, enquanto as pernas para o outro. Relembro Laura Mulvey, que disserta em seu famoso ensaio Visual pleasure and the narrative cinema sobre o aspecto fragmentado da mulher nos grandes clássicos do cinema hollywoodiano.
As pequenas margaridas não é um filme fácil. Claro que, lhe falta uma crítica interseccional em relação ao feminismo: a luta de classes, o racismo, – principalmente em pós-guerra, que elucidava estas questões. No entanto, mais do que sua narrativa, a sua estética transgride: propõe outras lógicas de sentido, em um discurso aberto, daí sua estética subversiva, pois então, feminista.
Vale lembrar, entretanto, como dito no início do texto, que Věra Chytilová é uma cineasta de afirmações constroversas. Em entrevista ao The Guardian, por exemplo, ela afirma não ser uma feminista per se, mas uma individualista. “Se há algo que você não gosta, não siga as regras – quebre-as. Eu sou uma inimiga da estupidez e do pensamento simplista, tanto em homens quanto em mulheres”, declara – fugindo do senso coletivista e político do movimento. Com Vera Chytilová negando ou não a alcunha de feminista, o fato é que Daisies encontra-se como uma expressão estética, que não sendo fechada em si mesma, reflete no campo político, quando atua na percepção e na interpretação do mundo.
Referências
Artigo sobre Věra Chytilová e o filme Daisies: Dolls in Fragments: Daisies as Feminist Allegory Journal Issue: Camera Obscura, 47(16.2) Lim, Bliss Cua, UC Irvine http://escholarship.org/uc/item/5mr9482p
Reportagem do NY: http://www.nytimes.com/2012/07/01/movies/daisies-from-the-czech-director-vera-chytilova-at-bam