FILMES ME ENSINARAM A COMER
Filmes me ensinaram a sentir.
Depois de seis anos, voltei à terapia. Tenho descoberto muitas coisas sobre mim e minhas relações com as pessoas e o mundo, e algo que tem me voltado à mente com alguma frequência é esta frase: filmes me ensinaram a sentir.
No final de 2018, outra frase me perseguia, repetida como um mantra na minha cabeça: “eu quero voltar a ser gente, eu quero voltar a ser gente”. O que, sim, estava relacionado ao ritmo louco de produtividade que nos é exigido atualmente, transformando tudo que nós gostamos/fazemos/somos em algoritmos capazes de gerar lucro enquanto consumimos conteúdo que não parece nunca preencher nosso vazio existencial. Mas, para além dessa ideia de seres humanos como máquinas dentro de uma cadeia de produção interminável, me peguei pela primeira vez questionando essa impessoalidade no contexto familiar e como ela alimentou e foi alimentada pela relação com os meus pais.
Com um pai militar que viajava com frequência durante a minha infância e cuja carreira nos fez morar longe de tios e avós, uma mãe muito jovem e solitária que não pôde ter outros filhos, minha educação emocional – no que diz respeito à construção de relações de afeto em uma comunidade – foi esparsa. Não consigo me lembrar, na minha infância e adolescência, de momentos de rotina do dia-a-dia em que passasse junto com meu pai e minha mãe para conversar. Apesar de meus pais sempre terem sido muito carinhosos, nunca construímos uma troca de pensamentos e diálogo que nos permitisse conhecer uns aos outros de forma profunda.
Pode parecer uma associação inusitada, mas acho que isso se relaciona de alguma forma com o fato de nunca termos, como família, nos importado muito com comida. Não tínhamos o hábito de comer juntos, eu ia para a escola cedo, meu pai trabalhava o dia inteiro, e ninguém dava muita bola para o jantar. Minha mãe nunca gostou de cozinhar e meu pai sempre preferiu requentar a comida no microondas a sair e ter que esperar pela comida por mais de dez minutos. Comíamos cada um numa hora, e a comida nunca era particularmente especial.
Apesar disso, muitas das minhas lembranças com meus pais na infância e na adolescência estão relacionadas a comida, mesmo que comida ruim. Pipoca de microondas no final de semana enquanto meu pai assistia ao futebol; as raras vezes que minha mãe fazia lasanha e eu comia a massa de macarrão com a mão, queimando os dedos e a língua; sorvete e outras besteiras de madrugada com minha mãe enquanto meu pai dormia; visitas mensais ao supermercado com o meu pai, uma das únicas coisas que fazíamos juntos, mesmo depois que eu me tornei uma adolescente mal-humorada. Quase todo o resto da minha memória afetiva foi construída por filmes e livros que caíam nas minhas mãos.

Little Forest (2018)
Não é tão estranho que eu tenha compensado a deficiência na minha formação afetiva com as artes, especialmente a literatura e o cinema. Acredito também que, apesar das peculiaridades do meu histórico familiar, não seja incomum, dentro de uma sociedade ferozmente competitiva e cada vez mais focada no indivíduo, que as pessoas se sintam mais e mais desconectadas de suas comunidades e redes de apoio, com poucas oportunidades para amadurecer emocionalmente. Nossa obsessão até mesmo na política por heróis e vilões tem nos mostrado isso.
Não que todos os filmes e livros caiam na velha dicotomia de bem contra o mal, longe disso. Mas, querendo ou não, essas são histórias que ocupam maior espaço e acabam por povoar o imaginário coletivo com enorme força. Pessoalmente, tenho pouco interesse nesse tipo de narrativa, embora entenda o seu apelo, em especial quando se enxerga a arte como escapismo.
Nos últimos tempos, tenho voltado a pensar sobre isso, como consumimos arte, o que ela representa para nós. Acho curioso que o audiovisual tenha se transformado em mais um utensílio no grande arsenal do tal “self-care” (ou, pelo menos, a ideia propagada nas redes sociais do que é o self-care), como se assistir a seis horas seguidas de uma série para tirar nossa atenção do estado em que se encontra a nossa vida fosse de fato uma prática de auto-cuidado. Confunde-se distração com satisfação, consumo com prazer. Para mim, essas coisas não poderiam estar mais distantes. Tem ficado cada vez mais claro que o que eu procuro é transcendência.
No ano passado, ouvi um episódio no podcast The New Yorker Radio Hour em que o roteirista e diretor Paul Schrader fala sobre sua relação com religião e o cinema. Criado por uma família da Igreja Reformista Cristã calvinista, Schrader, conhecido por ter escrito filmes como Taxi Driver e Touro Indomável, viu seu primeiro filme aos 17 anos de idade. Ele relata que só foi pensar no cinema de forma mais profunda quando entrou em contato com os filmes de Ingmar Bergman e percebeu que eles traziam as mesmas discussões que ele ouvia na sala de aula da faculdade e na igreja. Foi quando percebeu que o cinema e a religião não eram incompatíveis. Alguns anos depois disso, morando em seu próprio carro, sem falar com ninguém por semanas, com uma úlcera no estômago, Schrader sentia algo crescer dentro dele que, se não extirpasse, iria devorá-lo: Travis Bickle, o taxista violento e deprimido de Taxi Driver. Schrader não escreveu o roteiro de Taxi Driver porque queria fazer um filme, mas porque queria exorcizar seu próprio demônio.
O título do episódio, Movies as religion, “filmes como religião”, ressoou em mim. Eu tenho uma história complicada com religiões, há alguns anos não frequento nenhuma igreja e hoje oscilo entre o ateísmo e o agnosticismo, mas não gosto da ideia de que não haja nenhum tipo de magia no mundo.
Este ano, de volta à terapia, ao tentar explicar a alienação eu sentia e a conexão que buscava, eu voltava ao cinema de novo e de novo como uma pessoa religiosa voltaria a passagens do seu livro sagrado. Ao mesmo tempo, estava lidando com a crise da moda dos millenials: a síndrome do burnout. O segundo semestre de 2018 foi repleto de trabalho (parte dele remunerado, outra não) e desgaste emocional (cortesia, dentre outras coisas, das eleições) que acabaram por debilitar muito o meu sono e gerar uma série de crises de ansiedade.
Parte disso estava ligado ao fato de que muito do meu trabalho era feito online ou de forma muito desestruturada. Isso além de fazer trabalho “artístico” e “que eu amo”, o que dificultava muito a separação entre a minha vida profissional e pessoal. As redes sociais se tornaram um espaço de auto promoção e divulgação, o que acabou ainda mais com qualquer divisão entre o trabalho e a vida privada que pudesse existir. Momentos de descanso se tornaram escassos e carregados de culpa, a necessidade de produzir e ser útil me consumiam, minha existência se justificava pelo fazer e não pelo ser.
Quando finalmente percebi que estava doente – física e psicologicamente – uma das primeiras coisas que eu percebi que tinha de fazer era retomar meu senso de valor independente da produtividade. Escrever textos (bons ou ruins) que jamais seriam publicados. Ver filmes e ler livros que eu queria e não porque estava tentando bater uma meta arbitrária. Assistir a dramas coreanos que me davam vergonha. Passear com o cachorro devaneador da minha vizinha por uma hora e meia, duas. Entender que minha existência tinha valor, mesmo que eu não estivesse produzindo.

Something in the Rain (2017)
Nessa mesma época, eu já estava imersa numa intensa maratona, inicialmente acidental, de filmes sobre/com comida que a princípio associei com minha gulodice costumeira e com o conforto que os filmes me traziam já que a maioria deles eu havia assistido antes e gostava bastante. Conforme fui assistindo aos filmes, entretanto, comecei a perceber que talvez a minha obsessão tivesse outras raízes, o que ficou ainda mais claro quando entrei em contato com dois livros sobre prazer.
Um deles foi o Pleasure Activism, cuja tradução seria algo como “Ativismo do prazer”, da pesquisadora Adrienne Maree Brown, no qual ela defende o prazer como uma ferramenta política. Brown escreve: “Parte da razão pela qual tão poucos de nós têm uma relação saudável com o prazer é porque uma pequena minoria da nossa espécie acumula o excesso de recursos, criando uma falsa escassez e, depois, tenta nos vender alegria, tenta nos vender a nós mesmos” (tradução nossa). Vale sublinhar que uma “relação saudável com o prazer” diz respeito também à moderação, e não nos jogarmos aos excessos do consumo para nos distrair de nossas dores e tragédias. Não adianta buscar o prazer para nos desconectarmos do que nos fere; o prazer real, que nutre, é um exercício de conexão.
A ideia de sair da lógica da escassez, a ideia de que o prazer, o deleite e a alegria poderiam ser uma ferramenta de resistência em um momento de tanta agonia pessoal, profissional, social e política, me pareceu revolucionária. Mas não foi a primeira vez que me deparei com esse pensamento.
Quando assisti a Café com Canela de Glenda Nicácio e Ary Rosa em 2017, depois da belíssima sessão no Festival de Brasília, precisei de alguns minutos para entender a euforia que me invadia. Entender a potência de um filme sobre pessoas negras no interior da Bahia que ousam ser felizes, cuidar uns dos outros, nutrir e alimentar uns aos outros, literal e metaforicamente. Estava tão acostumada com o sofrimento a que estão relegados os corpos negros e os corpos de mulheres no cinema, que o choque do deleite, do prazer e das subjetividades representados em Café com Canela me tocaram profundamente.

Café com Canela (2017)
A rede de afetos que vemos no filme é vasta e cada uma é muito particular. Muitas delas são expressas através da comida. O churrasco com os vizinhos cheios de histórias contadas, as lembranças de festa de São João, a sopa dada na boca da avó acamada, a receita de família da coxinha que Violeta vende, o café com canela de Violeta que esquenta o corpo e a alma de Margarida.
O outro livro que eu li nessa época foi The Book of Delights, “O livro dos deleites”, uma compilação de pequenos ensaios (“ensaietes”) em que o autor, o poeta Ross Gay, se debruça sobre um deleite por dia ao longo de um ano (ele não escreveu 365 ensaios, um dos deleites era o deleite de furar compromissos).
Na introdução do livro, Gay escreve:
“Um ou dois meses iniciado o projeto, deleites estavam me chamando: Escreva sobre mim! Escreva sobre mim! Porque é grosseiro ignorar os seus deleites, eu dizia a eles que, embora eles talvez não se tornassem ensaietes, eles ainda assim eram importantes e eu era grato por eles. Em outras palavras, eu sentia a minha vida mais cheia de deleite. Não sem tristeza ou medo ou dor ou perda. Mas mais cheia de deleite.” (tradução nossa)
Em Café com Canela, a dor de Margarida é uma ferida profunda que provavelmente nunca se fechará por completo e isso merece ser honrado também. Não se trata de negar a tragédia, trata-se de se permitir continuar a viver não apesar dos mortos, mas por eles. Para honrar a vida que eles não podem mais ter, vivendo-a da melhor forma possível.
“O desejo e o prazer são duas formas pelas quais afirmamos que existe algo pelo qual viver.” (BROWN, Adrienne Maree. Pleasure activism: The Power of Feeling Good).
Existe algo muito potente em reconhecer nossa fome. Além de ser uma forma de perceber que se está viva, o desejo quando se é mulher é uma transgressão. Afinal, quando a escassez é regra, a abundância é transgressora.
Sempre me espanta que distúrbios alimentares como a anorexia e a bulimia sejam vistos como formas de chamar atenção. A falta de comida nos torna menores, cada vez menos visíveis. Mulheres são ensinadas a não pedir nada, nunca devemos querer mais do que nos é dado, seja comida, amor ou sexo; distúrbios alimentares são apenas mais uma forma de não causar incômodo com nossos desejos.
Reconhecer essa fome/desejo/vontade é voltar à carne, ao erotismo. Em Como Água para Chocolate, de Afonso Arau, quando os sentimentos de Tita transbordam para além do que lhe é permitido sob o controle tirânico de sua mãe, ela os transfere para a comida que cozinha, compartilhando suas emoções mais profundas com quem se alimenta de seus pratos. Em uma das cenas mais memoráveis do filme, a irmã de Tita fica tão consumida pelo desejo que Tita imbui na comida que ela literalmente rompe em chamas e foge nua com um homem a cavalo.
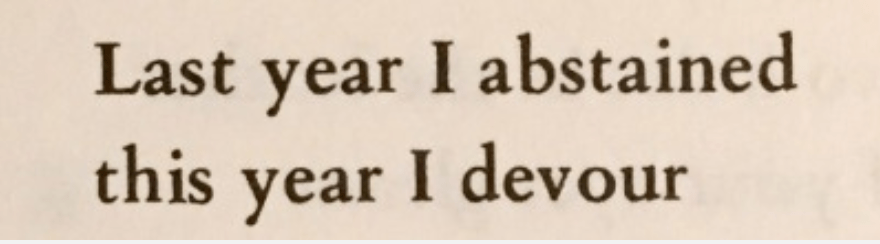
“Ano passado eu me abstive/este ano eu devoro” Mud/Circe poems de Margaret Atwood
A manifestação da fome feminina é libertadora. Na minissérie coreana 밥 잘 사주는 예쁜 누나 (a tradução literal seria algo como “irmã mais velha que me compra comida”, mas na Netflix a série está sob o título Something in the Rain, “algo na chuva”), a protagonista Jin-ah é uma mulher titubeante e recatada, que aguenta o abuso dos chefes calada e é rejeitada por um namorado que não a valoriza. Quando começa a sair para jantar com Joon-hee, o irmão mais novo de sua melhor amiga, a adoração que ele sente por Jin-ah a faz perceber pela primeira vez que seus desejos e vontades são dignos de serem saciados. A coragem de se satisfazer a fortalece.
Algo parecido acontece com Ila, protagonista do filme The Lunchbox do diretor Ritesh Batra. Por conta de um engano no complicado sistema de entrega de comida na Índia, o almoço especial que Ila prepara para tentar reavivar o casamento é entregue para Saajan, um funcionário público viúvo prestes a se aposentar. A partir daí, Ila e Saajan começam a compartilhar sentimentos e histórias muito pessoais em cartas diárias. A vulnerabilidade a que os dois se expõem os aproxima, e Ila continua a preparar comida para Saajan. Se toda carta é uma carta de amor, cada prato preparado sem obrigação para outra pessoa também o é.
A associação entre a fome e o desejo carnal é antiga e já foi muito explorada não apenas pelo cinema e pela arte, mas também por textos religiosos. Afinal, para muitos, o pecado original foi uma mulher comer algo que não devia. Em O Banquete de Babette de Gabriel Axel, vemos uma comunidade religiosa no interior da Dinamarca ficar muito inquieta com o iminente banquete que será oferecido por Babette, uma refugiada francesa que foi acolhida pela pequena vila. Os aldeões observam com crescente alarme enquanto os ingredientes sofisticados como tartaruga e vinhos caríssimos chegam à vila, convencidos de que um banquete como esse fará com que se entreguem ao mundo material e se afastem de Deus.
O que acontece, entretanto, é o contrário. Ao comer da comida de Babette, a pessoas da vila entram em comunhão umas com as outras, o prazer as torna mais generosas e tolerantes, e a comida é tão deliciosa que comê-la se torna uma experiência transcendental, um encontro com as outras pessoas da comunidade e com Deus.
Esse encontro do prazer e da comunhão é uma das coisas que mais me atrai nesses filmes, mas também me interesso pela comida de forma mais banal, uma necessidade do dia-a-dia. Sempre quando penso em comida e cinema, as imagens encantadores das comidas nos filmes do Studio Ghibli me vem à mente. Recentemente percebi que O Serviço de Entregas da Kiki de Hayao Miyazaki é quase um filme sobre comida, embora de forma discreta. Além de trabalhar em uma padaria, Kiki ajuda uma vovó a fazer uma torta para a neta, se preocupa com quanto dinheiro tem para fazer alimentar a si e seu gato Jiji e se emociona ao receber um bolo de presente como agradecimento. Tratam-se de momentos amáveis ou corriqueiros, mas que sempre nos lembram da ternura do cotidiano.

O Serviço de Entregas da Kiki (1989)
Filmes sobre comida se relacionam muito com o tempo. A hora de cada refeição, o tempo de preparo, a estação certa para plantar e para colher. Pequena Floresta, do diretor Jun’ichi Mori, nos faz sentir esse tempo. Dividida em dois filmes de duas horas cada, Pequena Floresta: Verão/Outono e Pequena Floresta: Inverno/Primavera, a trama é quase inexistente. Vemos Ichiko plantar, colher, cozinhar e refletir ao longo de quatro horas no que se torna quase um exercício meditativo. Da primeira vez que assisti aos filmes, fiquei inquieta, já na segunda, o tempo lento do filme me envolveu de tal forma que me senti repleta de calma. “Tudo ao seu tempo” é uma frase que nunca me deu muita tranquilidade, sou impaciente demais para isso – mas perceber que algumas coisas estão além do nosso controle pode ser algo surpreendentemente reconfortante.
A versão coreana de Pequena Floresta, Little Forest, da diretora Yim Soon-rye, também é um filme sobre o tempo, mas este foca mais no conflito da protagonista, na sua jornada interior para a plenitude, é um filme sobre atingir a maturidade, uma história de formação. Assistimos a Hye-won voltar para a casa onde cresceu, cozinhar os pratos que sua mãe a ensinou, mas do seu jeito, aprendendo a ser uma mulher adulta dona de si ao mesmo tempo que consegue, finalmente, entender e perdoar sua mãe por partir.
Cozinhar como ato de memória, de honrar e superar a tradição. Esse é um tema comum quando falamos de comida. Comer Beber Viver de Ang Lee também volta a ele, com a história de três irmãs que vivem na casa do pai chef de cozinha, reunindo-se a cada domingo em torno do ritual de almoço dominical. Cada uma das filhas enfrenta um momento crítico para alcançar a vida adulta e os almoços semanais funcionam como momentos para anunciar os surpreendentes novos eventos para o patriarca da família, o que acaba por alterar a dinâmica familiar e transformá-la em algo novo.
O chef e dono dos restaurantes Momofuku, David Chang, em sua série documental da Netflix, Ugly Delicious, retorna à temática da inovação versus tradição. Chang é conhecido por suas criações excêntricas e fusões de tradições culinárias distintas, mas ele sabe que, para chegar à originalidade e à inovação, é importante conhecer e respeitar as origens e tradições. Esse respeito não é apenas pelos ingredientes, pelas técnicas e nem mesmo pela cultura em que ele está se inspirando, mas pela memória afetiva de cada um.
No terceiro episódio da primeira temporada da série, Comida Caseira, Chang e outros chefs e críticos culinários falam sobre sua relação afetiva com a comida, suas famílias, seus parceiros e parceiras, amigos, filhos. Em um determinado momento, Chang relata que quando ele era mais novo, tudo que ele queria era se afastar da cultura coreana dos pais. Contudo, depois de ter se tornado um chef renomado, ele começou a associar a comida de tradição europeia ao ambiente tóxico e abusivo dos restaurantes onde passou seus 20 anos trabalhando e, cada vez mais, o que ele queria fazer era retornar à comida que sua mãe fazia em sua infância e levar isso para o restaurante. Trazer não apenas sabores deliciosos para os clientes, mas de alguma forma acessar esse lugar mágico da memória e do afeto com a sua comida.
Volto a pensar nos meus pais, em comida, em caminhos para o encontro e para o diálogo. Penso em horas gastas de forma improdutiva, na cozinha, rindo e cozinhando juntos, conversando e bebendo vinho. Essas não são memórias, são imagens forjadas pelos filmes que me ensinaram a comer e a viver. São desejos e há potência reconhecer desejos e em, quem sabe, saciá-los.
Existe um quê de utopia em todos esses filmes e séries sobre comida. São experiências sensoriais que nos fazem quase sentir o cheiro e o sabor de cada coisa, nos levam a pensar em um tempo mais lento, em construção em comunidade, em erotismo e desejo, em pontos de encontro entre gerações, em afeto, deleite, prazer. Pode parecer irresponsável falar em utopias quando parece que estamos caminhando para o abismo, mas, se distopias nos alertam para os perigos de como estamos vivendo, as utopias nos lembram de razões para continuar a lutar para viver.
Leia também:
Café com Canela, por uma espectadora negra entre a fruição e a crítica, de Letícia Bispo
REFLEXÕES SOBRE UNIVERSALIDADE, OU COMO O IRMÃO DO JOREL ME DEIXOU ACORDADA À NOITE PENSANDO MUITAS COISAS
Eu quero começar dizendo que eu amo o irmão do Jorel. O irmão do Jorel é ótimo e me faz rir tanto que eu nem me atrevo a tomar refrigerante quando vou assistir o desenho dele pra não passar por aquela desagradável experiência de sentir o nariz queimar quando a coca-cola sai dele.
Dito isso, eu tenho contas a ajustar com o irmão do Jorel, o Juliano Enrico.
Em 1992, em uma palestra sobre heróis, a escritora Diana Wynne Jones listou alguns motivos pelos quais ela demorou até começar escrever histórias com mulheres protagonistas. O primeiro deles foi que ela se identificava muito intimamente com a experiência de ser uma mulher, perdendo-se na sensação física de ser uma. Eu já ouvi isso de outras mulheres que contam histórias, o medo de se auto-inserir faz com que elas procurem uma distância que o protagonista homem proporciona. Eu nunca, entretanto, ouvi o contrário, sobre homens que só escreviam histórias protagonizadas por mulheres por medo de auto-inserção.
Isso não quer dizer que essa não seja uma apreensão válida. A arte feita por mulheres, historicamente, é lida como uma expressão da sua intimidade, enquanto homens podem escrever sobre alter egos levemente disfarçados e ainda assim serem louvados pelas suas perspicazes observações sobre a natureza humana.
O segundo motivo que ela deu foi que “naquela época – vinte anos atrás – tanto meus filhos quanto qualquer outro menino teriam preferido morrer a ler um livro com uma protagonista. Era algo absoluto. Eles não liam. Mas meninas – em parte por necessidade – não se incomodavam com protagonistas homens.” Os vinte anos atrás aqui se tornam quarenta e seis, em 2018, mas esse tempo parece ter feito pouca diferença nesse sentido. De alguma forma, livros e filmes protagonizados por homens são consumidos tanto por homens quanto por mulheres enquanto os protagonizados por mulheres – com algumas louváveis exceções – são direcionados exclusivamente para o público feminino.
O terceiro motivo é jungiano: ao escrever sobre protagonistas do sexo masculino, Jones estava entrando em contato com uma personalidade do sexo oposto submersa que existia dentro dela mesmo, uma personalidade ligada ao mitológico e arquetípico que ela queria que estivesse em seus livros. Essa curiosidade pelo seu oposto mitológico e oculto, no entanto, encontra pequena reciprocidade em outros escritores homens na fantasia – gênero literário pelo qual Jones ficou conhecida.
Diana Wynne Jones escreveu muito. Além de cerca de quarenta romances, ela se aventurou pela crítica, escrita de ensaios, contos e peças. Eu trago aqui a Diana Wynne Jones e menciono sua extensa obra porque ela criava arte direcionada ao público infantil e por algum motivo isso quer dizer que ela não fazia arte “séria” e que não merecia ser discutida pela academia ou em revistas sobre arte, e eu estou aqui pra dizer que isso é conversa pra boi dormir. Tudo que Jones falou sobre sua dificuldade em criar protagonistas mulheres pode se aplicar a um contexto mais amplo da arte, inclusive, ao contexto mais específico de criação do Juliano Enrico pro Cartoon Network, a animação. Então, antes que venham me acusar de estar problematizando desnecessariamente um desenho infantil, é importante lembrar que, assim como qualquer outra obra, existe sempre uma pessoa ou um time de pessoas por trás de cada desenho animado e livro infantil pensando cada decisão, que gastam tempo e energia criando cada personagem, trama e o conceito por trás disso tudo.
Além de que, é na infância que nossas mentes estão mais maleáveis e prontas para absorver as ideias a que somos expostos, o que torna o pensamento crítico particularmente importante. E é por isso que a Diana Wynne Jones além de escrever suas histórias, estava constantemente pensando a escrita, os heróis, a fantasia, as crianças e o gênero. Jones, em seu jeito direto e simples de uma autora infanto-juvenil, me fez voltar a algumas ideias que têm sido discutidas há anos dentro da teoria crítica e estudos de gênero, ideias com que entrei em contato de forma mais direta quando comecei a me interessar pelo o feminismo e a ler autoras como bell hooks. Com sua pequena lista sobre sua (inicial) dificuldade em criar heroínas para suas histórias, retornei às seguintes ideias:
- Mulheres são capazes de empatizar, simpatizar e se identificar com protagonistas homens.
- Isso vale também para pessoas de países de “terceiro mundo” consumindo arte feita nos Estados Unidos e na Europa, pessoas negras consumindo arte feita por pessoas brancas, pessoas homossexuais consumindo arte feita por pessoas heterossexuais.
- A recíproca não é verdadeira.
- Isso tudo parte do princípio de que arte feita por homens (brancos, heterossexuais de países desenvolvidos) sobre homens (brancos, heterossexuais de países desenvolvidos) não é apenas para homens (brancos, heterossexuais de países desenvolvidos), mas universal.

Quando eu comecei a assistir ao Irmão do Jorel – por conta de um podcast em que eu ia conversar sobre ele com a Amanda Fantuzze – eu fiquei um tanto quanto obcecada com o desenho e todas as suas referências sobre ser uma criança crescendo no Brasil. A memória da ditadura militar, o pai revolucionário, as avós que moram com a família e também a influência da cultura norte-americana que povoa nosso imaginário desde a infância. Essas eram todas coisas que eu compreendia, mesmo sem me identificar com todas, que eu compreendia porque eu também fui uma criança brasileira, só que criada por um pai militar numa família de militares, que morava longe das avós porque me mudei várias vezes quando criança, e que também tinha o imaginário povoado por uma cultura estrangeira e colonizadora.
Havia ainda as coisas com que – eu imagino – a maioria das pessoas, em qualquer lugar do mundo, poderiam se identificar. Em um episódio chamado “O Elefante de Porcelana” eu lembro de ter que mandar mensagem para a Amanda Fantuzze, um dia antes de gravarmos o podcast, porque eu estava rindo/chorando daquela situação ridícula de quando temos o coração partido pela primeira vez e nos trancamos no banheiro e não conseguimos falar coisa com coisa, e ela falou: “me lembrou a cena da loucura de Giselle”. Ela estava falando do balé Giselle, na cena em que a protagonista descobre que seu noivo já estava comprometido com outra pessoa e entra num delírio de desespero e tristeza ilustrado pela dança frenética em que ela se perde. Existe algo reconhecível por qualquer um quando vemos um coração partido: a dança louca de Giselle e as palavras sem sentido do irmão do Jorel, um balé e um desenho animado separados por quase duzentos anos, provam isso.
Meu encanto com o Irmão do Jorel estava presente em todas essas coisas: o reconhecimento de uma vivência diferente da minha, aquilo que ele trazia de dolorosamente humano com que qualquer pessoa poderia se identificar e, em especial, a experiência muito específica de uma criança crescendo no Brasil.
Então, quando eu li que o irmão do Jorel falou numa entrevista que nós “somos todos ele”, como se existisse uma experiência inteiramente universal, eu me senti quase traída.
Além disso, eu já conhecia essa história de universalidade e sabia que era balela.
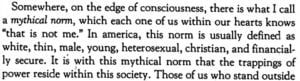
“Em alguma lugar, nas bordas da consciência, existe o que eu chamo do padrão mítico, que todos nós sabemos lá no fundo que ‘não sou eu’. Nos Estados Unidos, esse padrão geralmente é definido como branco, magro, jovem, heterossexual, cristão e financeiramente estável. É nesse padrão mítico que as amarras do poder residem dentro dessa sociedade.” Audre Lorde
Desde que eu me conheço por gente, eu li livros e assisti a filmes e séries protagonizados por meninos e por meninas. Mesmo querendo ser a “Cool girl” que não curtia princesas e sabia quem era o Toguro do Yu Yu Hakusho, eu não conseguia evitar, eu devorava O Jardim Secreto e Sakura Card Captor com o mesmo entusiasmo que A Fantástica Fábrica de Chocolate e O Laboratório de Dexter. Naquela época eu achava que existiam coisas que eu poderia ter orgulho de gostar porque eram coisas de menino e coisas de que eu deveria ter vergonha porque eram de menina (mesmo que eu fosse uma menina).
De alguma forma, essa ideia abertamente machista da minha infância era um pouco menos nociva em seu simplismo do que a misoginia internalizada mais complexa que veio depois. Não é que algumas coisas fossem de meninos – superiores – e outras de meninas – inferiores; é que essas coisas feitas por homens sobre homens eram sobre questões com que toda a humanidade poderia se relacionar, enquanto arte feita por mulheres e sobre mulheres era específica e impossível de se relacionar com a menos que você fosse uma mulher.
Estranhamente, toda obra que era feita por grupos que não eram homens brancos heterossexuais eram cheia de especificidades, a especificidade de ser mulher, a especificidade de ser negro, a especificidade de ser mulher negra e lésbica. Por algum motivo que eu ignorava, toda a arte feita por homens brancos heterossexuais não possuía nenhum tipo de marcador da sua especificidade e era, portanto, neutra e universal. Embora homens brancos heterossexuais componham uma parcela muito pequena da população mundial, eles se tornaram porta-vozes do que quer dizer ser humano e todo o resto do mundo tem que ouvir e empatizar com eles.
Essa ideia aparecia como uma verdade absoluta por todos os cantos: as premiações como o Oscar em que vários homens brancos hétero concorriam pelo prêmio de melhor filme e não só melhor filme feito por homens brancos hétero, o esquecimento de milhares de artistas mulheres que não são mencionadas quando estudamos história da arte, listas com autores negros para se conhecer porque eles tinham sido apagados de todas as listas “de verdade” que só mencionavam autores e autoras brancas.
Em algum momento, em algum recanto dentro de mim que não havia conseguido evitar amar arte sobre mulheres e por mulheres, a parte de mim que tinha crescido vendo meninas e mulheres tendo experiências que se relacionavam tanto com a especificidade de ser uma mulher no mundo quanto com ser um ser humano que sente dor, amizade e solidão como qualquer outro ser humano, essa parte de mim finalmente conseguiu se rebelar contra essa verdade absoluta. Muito disso se deve ao fato de eu mesma ter começado a fazer arte, e também o fato de eu ter me tornado feminista e encontrado autoras que colocaram em palavras todas as minhas inquietações inarticuláveis. E o que eu aprendi com elas foi isso: é verdade, não há universalidade em ser mulher porque não somos seres neutros com experiências idênticas. Mas homens também não.
Homens não são seres homogêneos cuja vivência pode ser aplicada a toda humanidade e aí que está a sacada de mestre da arte dominada por um sistema patriarcal que continua a insistir que existe uma arte neutra: não é que a arte feita por homens sobre homens queira falar sobre toda a humanidade, ela fala de um grupo de homens muito específico milhares e milhares e milhares de vezes a ponto de que, quando nós encontramos os homens pertencentes a esse grupo na rua, nós já fomos expostos a eles tantas vezes, com tantas características diferentes que não sobra um estereótipo ou clichê pra desumanizá-lo. O homem branco heterossexual pode ser qualquer um porque ele foi representado tantas e tantas vezes em toda sua especificidade que ele nunca vai ser reduzido ser apenas um homem branco heterossexual.
E ainda assim. Ainda assim continuamos a receber mídia que nos traz heróis que devem ser o “every-man”, o cara comum que todos nós somos. O irmão do Jorel, que não tem nome para que todos nós possamos nos identificar com ele. Mas acontece que o que torna o desenho do irmão do Jorel tão genial são justamente as especificidades desse garotinho que mora com suas duas avós e usa galochas amarelas e vive no Brasil num mundo cheio de referências aos anos 80, esse garotinho único e peculiar que passa por experiências que todos nós passamos, como ter uma paixonite por uma colega de sala e ter o coração partido pela primeira vez e nem conseguir articular as palavras direito. Qualquer livro, série ou filme que procura dialogar com seu público é sempre uma combinação de pontos identificação e de estranhamento, um exercício constante de se reconhecer na arte e de tentar compreender o outro.
Como a Diana Wynne Jones disse, esse é um exercício que meninas fazem desde sempre. Todos nós que não pertencemos a classe de homens brancos heterossexuais fazemos esse exercício desde sempre porque nós sempre consumimos a arte feita por eles junto com a arte feita por nós, mas a recíproca não é verdadeira.
Acho que existe uma razão não-tão-secreta assim por detrás de duas das minhas coisas favoritas da infância que nunca me constrangeram ou me fizeram sentir inferior: o programa de TV Castelo Rá-Tim-Bum e as revistinhas da turma da Mônica. Por trás dessas duas obras brasileiras estavam, respectivamente, a diretora Anna Muylaert e o quadrinista Maurício de Sousa, ambos falando de personagens cheios de especificidades – não consigo pensar em nenhum outro menino de 300 anos que nunca foi pra escola e acho que ninguém nunca vai esquecer o coro de “baixinha, gordinha, dentuça” que acompanhava a menina incrivelmente forte que liderava as crianças do bairro do Limoeiro. Por trás de Nino e Mônica, estavam esses dois artistas que, com enorme empatia, escolheram criar protagonistas do sexo oposto ao deles, dando vida a personagens muito genuínos que me acompanharam fielmente durante toda a infância e que, de alguma forma, nunca foram embora.
Esse texto foi inspirado por várias coisas. O livro com diversas palestras, ensaios e críticas da Diana Wynne Jones ‘Reflections on the magic of writing’, uma conversa com a escritora Patrícia Colmenero e outras conversas que eu tive pro podcast méxi-ap, em especial com a Amanda Fantuzze no episódio sobre o desenho do Juliano Enrico, o irmão do Jorel.
Esse texto também é a explicação de por que eu odeio o Filme do Lego.
AS GILMORE GIRLS PARTEM PARA OUTRA: UM ANO PARA RECORDAR
O texto está cheio de spoilers. O que você está fazendo aqui perdendo tempo com leitura quando tem quatro episódios novos de Gilmore Girls pra assistir?
Esse texto chega com alguns meses de atraso. A verdade é que eu, como outros diversos fãs da celebrada série americana, assisti às seis horas de Gilmore Girls: Um Ano Para Recordar no dia de seu lançamento, desconsiderando os desejos da criadora da série, Amy Sherman-Paladino. Talvez ela estivesse certa, talvez assistir a um episódio por semana, com tempo para digerir mais lentamente os acontecimentos da vida das mulheres Gilmore teria tornado a experiência da “oitava” temporada mais completa e, no final das contas, mais satisfatória. Mas, para (mal) citar Barthes, o autor está morto e assistir aos quatro episódios cercada de amigas e consumindo uma quantidade de açúcar que deixaria Lorelai Gilmore orgulhosa me pareceu uma alternativa mais atraente.
Então, aqui estamos nós, quase dois meses depois daquele fatídico 25 de novembro. Por que tanto tempo? Bom, porque eu assisti às seis horas de Gilmore Gilrs: Um Ano Para Recordarcercada de amigas e consumindo uma quantidade de açúcar que deixaria Lorelai Gilmore orgulhosa. Não sei se há comprovação científica, mas minha experiência me permite dizer: existe ressaca de açúcar. Ou, talvez, de muitas horas de uma série que havia terminado há quase dez anos e que fez parte da sua infância e adolescência e que de repente voltou te deixando sem saber o que sentir ou pensar.
Minha confusão mental durou tempo suficiente para que eu lembrasse que eu levo essa série pro lado pessoal. Isso quase me impediu de escrever, mas então pensei: “e você, leitor, também não leva?” Imagino que mesmo que sua vida seja completamente diferente e não se relacione em nada com a vida das mulheres Gilmore, caso você tenha usado do seu tempo e atenção pra acompanhar às oito temporadas – oito anos – para saber o que seria de Lorelai, Rory, Emily, Sookie, Luke e tantos outros, isso deve significar que você também tem algum investimento emocional nessa série.
Como eu, imagino que muitos fãs tenham se sentido igualmente confusos e até mesmo um pouco frustrados com o que foi feito da série que tanto amávamos. Ao sentar e escrever consegui com mais clareza delinear o que me incomodou e o que fez sentido nessa nova temporada. Não procuro defender ou atacar a série, mas refletir sobre os erros e acertos estruturais de Um Ano Para Recordar, levando em consideração a série original e também o contexto da televisão/streaming que estamos vivendo.

Pois bem, deixamos Rory, ou melhor dizendo, Rory nos deixou em 2007, partindo para cobrir a campanha do então senador Barack Obama pela presidência dos Estados Unidos e para se tornar a grande jornalista que ela sempre sonhara ser. Lorelai havia encontrado sucesso profissional com sua pousada e, esperávamos, emocional ao lado de Luke.
Se o título da nova temporada, “A Year in the Life” no original – cuja tradução literal seria “um ano na vida” – nos dava a alguma pista, era de que o tempo seria um tema central na série. Mais do que a passagem do tempo em si, a ideia evocada era a de ciclos e repetições, como ficou claro com a notícia que os quatro episódios seriam marcados pelas estações do ano. Não é tão surpreendente, então, que nove anos depois, reencontremos as personagens não tão distantes de onde nos despedimos delas.
Rory continua a viajar e escrever sem moradia fixa, Lorelai tem sua pousada e Luke. A estagnação das personagens, a princípio, não fica tão aparente, escondida por detrás de uma mudança de tom. Um dos grandes desafios de transportar uma série do início dos anos 2000 pra 2016 é que tanto as séries quanto o público não são mais os mesmos. O streaming e a abundância de conteúdos criaram espectadores altamente exigentes e educados em linguagem audiovisual e as consequências disso são diversas. Temos cada vez mais séries autoconscientes que se tornam cúmplices do espectador, utilizando as tropes conhecidas para subvertê-las. Em Jane The Virgin, por exemplo, as novelas latinas são tanto parodiadas quanto homenageadas, em Scream, vemos o arquétipo da Final Girl ser discutido abertamente pelos personagens.
Nem todas as séries que têm surgido nos últimos anos, entretanto, são autoconscientes, algumas delas se valem de um grau de choque e violência crescente e subversão das expecativas para surpreender seus espectadores. A popularidade de séries como Black Mirror, Game of Thrones e House of Cards nos revela um interesse particular pelo pessimismo e pelo obscuro. Nem mesmo as séries de comédia escapam a essa tendência, e assistimos a Orange Is The New Black e The Unbreakable Kimmy Schmidt fazerem uma comédia ácida, cortante e que por vezes envereda mais pelos caminhos do drama do que do humor.

A série Crazy Ex-Girlfriend aborda problemas de saúde mental com humor e números musicais.
Como, então, trazer Gilmore Girls pra atualidade sem perder o ar charmoso e leve da série original? De repente, Stars Hollow, uma cidade pitoresca cheia de moradores excêntricos que se reúnem para organizar eventos curiosos, antes tão amada pelas protagonistas, é chamada de “uma cidade construída dentro de um globo de neve gigante” por Lorelai e a partir daí já temos uma ideia de que as coisas não são mais as mesmas. Se antes Lorelai se deleitava com as esquisitices da cidade, como o bizarro Museu da História de Stars Hollow, agora ela fica ofendida por um musical que, por pior que seja, é exatamente o tipo de coisa que os moradores de Stars Hollow sempre fizeram.
Essa mudança de tom da série atinge com mais força a personagem de Rory Gilmore, a menina dos olhos de Stars Hollow. Rory Gilmore dos anos 2000 era muitas coisas e nem todas elas boas. Ela era inteligente, ambiciosa, ávida, mas também extremamente privilegiada e egocêntrica. Rory Gilmore dos anos 2000 traiu um namorado, mentiu para amigas e teve um caso com homem casado, mas Rory Gilmore dos anos 2000 percebia suas maiores falhas, se arrependia de suas escolhas, procurava redenção.
Em 2017, Rory Gilmore mudou. Mudou por dentro, pois ela ainda faz as mesmas coisas. Ela continua a trair um namorado e ter um caso com um homem comprometido, mas a diferença é que não há mais autoquestionamento. O namorado traído é uma piada recorrente, a noiva de Logan não tem rosto, é apenas uma inconveniência para Rory. Vemos o que havia de romântico e esperançoso na personagem se transformar em um cinismo apático. É triste perceber que o egocentrismo de Rory, antes contrabalanceado por um forte senso de certo e errado, se torna sua maior característica.
Entretanto, isso não é algo ruim. Se antes, Rory era defendida e mimada apesar de todos os erros que cometia, ela agora não pode mais se esconder por detrás de um jeitinho inocente. Aos 32 anos de idade, Rory tem que encarar muito bem a pessoa que ela se tornou e perceber que todos os seus privilégios não garantiriam sucesso. É um tapa na cara, mas também um alívio: mesmo Rory Gilmore – oradora da turma, formada em Yale, amada por todos – pode não ter tanta certeza do que diabos está acontecendo na vida dela.
A falha no arco narrativo de Rory não está no fato de ela ter que lidar com fracassos. Os fracassos de Rory são frutos da sua crença – alimentada por todos ao seu redor – que ela simplesmente tinha direito ao sucesso, afinal, ela sempre fora tão inteligente, esforçada e especial. Aqui, poderíamos fazer um parênteses sobre millenials e a geração que foi criada para acreditar que poderia ser o que quisesse, mas isso já foi amplamente discutido antes dentro e fora do contexto de Gilmore Girls.

Como vimos anteriormente, o grande mote dessa temporada são ciclos. Acredito que essa escolha não tenha sido tomada apenas por conta das tão esperadas quatro últimas palavras, indicando que a vida é essa coisa engraçada que se repete, mas também para justificar o fato de as personagens principais terem parado no tempo. Rory não ter avançado muito na carreira não é um problema, mas ela continuar a cometer os mesmos erros de seus vinte anos, coisas que já haviam sido resolvidas em temporadas anteriores, soa como retrocesso. O mesmo acontece com Lorelai.
Apesar de terem passado nove anos juntos, Lorelai e Luke continuam a ter problemas devido a aparente falta de comprometimento de Luke. Eles nem ao menos haviam conversado sobre filhos em uma década de relacionamento, algo difícil de acreditar. Mesmo sem considerar o fato de os dois estarem juntos há quase uma década, como não lembrar de Luke, na quinta temporada, pronto para comprar uma casa enorme para os dois encherem de crianças? Algo não está certo. O que fez o relacionamento deles permanecer estático? A ideia de ciclos, por mais atraente que seja, não é suficiente para justificar tamanha estagnação. Acredito que a resposta não está na narrativa da série em si, mas nos trâmites de produção e criação que vão além dela.
Amy Sherman-Palladino, devemos lembrar, não escreveu a sétima temporada e não foi capaz de dar o fim desejado para sua série em 2007. Em 2016, ela teve enfim a chance de concluir sua obra, mas muitas das questões que ela decidiu tratar já haviam sido resolvidas pelos roteiristas da sétima temporada, dando essa impressão de que Rory está passando por uma fase de inconsequência que faria muito mais sentido quando ela tinha seus 23 anos e deixando Lorelai estagnada por tantos anos.
Não é de se admirar, então, que o arco narrativo mais bem construído de Um Ano Para Recordar tenha sido fruto de uma mudança que a série não pôde controlar: com a morte do ator Edward Herrman, que interpretava Richard Gilmore, o destino da terceira – frequentemente esquecida – mulher Gilmore pairava incerto.

Emily Gilmore foi, desde o início, um dos pilares que sustentavam Gilmore Girls. Vista muitas vezes como antagonista, era fácil de esquecer que as três mulheres Gilmore eram igualmente importantes na representação de diferenças geracionais centrais à série. Enquanto Rory era a jovem privilegiada criada às duras penas por Lorelai, que precisou trabalhar por tudo que teve, Emily mostrava faces das duas: toda a riqueza que estava disponível para Rory (se ela assim quisesse) e todos os papéis de submissão como mulher e esposa que Lorelai rejeitou.
Para Emily essas duas realidades eram indissociáveis, sua riqueza era completamente intrínseca ao seu papel de esposa, que misturava tanto deveres quanto real afeto pelo seu marido. Vemos em seu personagem uma dinâmica que foi explorada ao longo de toda a série: amor e dinheiro. Já no primeiro episódio lá no ano 2000 Emily e Lorelai fizeram um acordo: os avós pagariam a escola de Rory e, em troca, filha e neta iriam participar de jantares semanais às sextas-feiras. Em troca de dinheiro, elas tentam estruturar um relacionamento familiar.
Ao longo das sete temporadas, a relação entre afeto e dinheiro reapareceu diversas vezes, mas nenhuma delas é tão relevante quanto no relacionamento de Emily e Lorelai. No último episódio da série original, com a partida de Rory, Emily oferece um empréstimo para filha construir um spa ou uma quadra de tênis e provavelmente se ofereceria para pagar qualquer outra extravagância que a tivesse mantido Lorelai “presa” a ela e a Richard. A surpresa e alívio no rosto de Emily quando Lorelai diz que elas podem discutir isso no jantar de sexta-feira – indicando que ela pretende manter uma relação com os pais independentemente do dinheiro – é um dos momentos de mais sutis e tocantes da série.
A relação entre afeto e recursos em torno de Emily, entretanto, não se resume a seu relacionamento com a filha. Para entender seu personagem é essencial lembrar que boa parte da sua vida girava em torno da sua identidade como esposa de alta sociedade. Quando jovem, ela estudara História na universidade, mas ter uma educação superior era apenas um requisito para ser a esposa de um homem do mesmo ou maior status social que ela – leia-se, um homem com dinheiro. Sua preocupação com o emprego de Richard, a gravidez de Lorelai, as festas para que era convidada faziam parte de uma preocupação com a classe e responsabilidade sociais das quais ela nunca imaginara a possibilidade de escapar. Isso é, até ver a própria filha, Lorelai, grávida aos dezesseis anos, Lorelai, camareira, Lorelai vivendo exatamente como queria, Lorelai bem sucedida, Lorelai feliz.
Por maior que tenha sido a mágoa de ver a filha sair de casa ainda adolescente, nada feriu Emily tanto quanto vê-la sobreviver sem a sua ajuda. Então, na sexta temporada, quando Rory larga Yale e se muda para a casa dos avós, por que não levá-la paras seus encontros das Filhas da Revolução Americana? Por que não ensiná-la a organizar festas? Por que não encorajar seu namoro com o filho de um magnata? Por que não mostrar que a elite a que ela pertencia e o dinheiro que eles tinham podiam, sim, dar a ela tudo que precisava?
Mas, é claro, não funciona bem assim e é Richard quem destrói suas ilusões, desesperado com as escolhas de Rory.
Festas beneficentes e chás da tarde? Frivolidades sem sentido. Ela tem mais pra fazer, mais pra ser. Eu não quero essa vida pra ela.
E por “essa vida”, ele quer dizer “a sua vida, Emily”.

Ao final das sete temporadas da série original, vimos poucas mudanças nas circunstâncias de Emily. Apesar dos avanços em seu relacionamento com Lorelai, ela permaneceu, como no início, uma mulher rica cheia de responsabilidades para com o marido e a alta sociedade. Nós a vimos questionar esse papel timidamente e percebemos seu orgulho, afinal, pela coragem e resiliência da filha de tomar as escolhas que ela não pudera, mas sua história e seu complexo interior foram relegados ao segundo plano.
Foi só agora, uma década depois do fim da série original e após a morte de Richard, que Emily teve a chance de rejeitar convenções inúteis e as “frivolidades” do mundo em que ela vivera com o marido. Usar seu primeiro jeans, deixar Hartford, ter seu primeiro emprego. É na história dela que Um Ano Para Recordar revela seus momentos mais belos em que a tristeza e a esperança se misturam em ternura. Emily encontra seu caminho na ruptura e, apesar do tema de ciclos e repetições de Rory e Lorelai, elas também crescem na quebra de antigos padrões.
Confesso que descobrir sobre a gravidez de Rory e as pistas de outros paralelos entre mãe e filha não me atingiram tanto quanto vê-las desafiarem a ideia que elas tinham delas mesmas. A ligação de Lorelai para falar para a mãe sua memória mais preciosa com Richard, a escolha de Rory de acabar uma relação amorosa que já se arrastava entre idas e vindas há mais de dez anos, sua decisão de mudar completamente sua carreira, ruptura. Revolução.
MASCULINIDADE TÓXICA: TOP OF THE LAKE
Quando eu vi que havia uma série criada pela Jane Campion, uma das mais prolíficas e importantes cineastas do mundo, disponível na Netflix, eu pensei que estava sonhando. Conhecendo o trabalho da diretora, entretanto, tive que me lembrar: Jane Campion se interessa mais por pesadelos que sonhos. Profundamente romântica – no sentido byroniano da palavra – Campion lida tanto com o amor quanto com o grotesco com maestria e nessa obra em particular ela não deixou a desejar.
Assistir a Top of The Lake é um desafio em resistência. Assistir aos seis episódios duas vezes em um espaço de duas semanas beira o masoquismo, mas cá estou eu, espelhando a protagonista: traumatizada, com o coração em frangalhos, e, apesar de tudo, viva. Eu queria poder dizer que o mundo retratado por Jane Campion – hostil, patriarcal, violento – não é representativo da realidade, que nossas perspectivas são mais otimistas, mas os jornais e as estatísticas não me permitem esse conforto. Na pequena cidade neozelandesa de Laketop, a masculinidade tóxica é mais que um problema a ser combatido, ela é parte do alicerce que estrutura todas as relações humanas. E não é nesse mesmo mundo em que vivemos?
A série começa com um caso desalentador: Tui Mitcham, grávida aos 12 anos, tenta se suicidar. A partir daí, somos introduzidos ao mundo sombrio e perturbador de Laketop junto à detetive Robin Griffin, que está voltando a cidade depois de quinze anos para visitar a mãe doente e acaba se envolvendo na investigação. Ela é recebida com desrespeito pelos outros detetives e tratada com descaso pelo investigador responsável pelo caso. Esse comportamento apresentado dentro da delegacia pelos próprios policiais expõe a institucionalização da misoginia na cidade, demonstrando que até mesmo as entidades que representam a lei foram corrompidas e não podem ser confiadas. A partir dessa primeira interação, somos preparados para uma agressividade ainda menos velada no resto da cidade. Desde a casa de Tui, controlada pelo patriarca violento Matt Mitcham, até o acampamento de mulheres que se instala na região, vemos mulheres fragilizadas e traumatizadas.
Nem todos os problemas em Laketop são por natureza misóginos, mas são enraizados em uma cultura masculina tóxica que tem como efeito colateral a misoginia. Todos na cidade, por exemplo, sabem que Matt Mitcham é o dono de um laboratório de drogas, mas ninguém tem coragem ou vontade de denunciá-lo pois boa parte dos empregos e da economia da cidade dependem do tráfico e do próprio Matt. A polícia, majoritariamente composta por homens, finge que não vê, e os cidadãos ignoram as eventuais tragédias que ocorrem em consequência. Todos são, portanto, cúmplices. Não é surpreendente que os mais afetados por esse sistema corrupto sejam jovens, em especial jovens mulheres. Uma adolescente morre com traços de cocaína na vagina e a conclusão que a polícia chega, sem nem ao menos fingir investigar, é que ela se suicidou. A reação do detetive responsável pelo caso de Tui, Al Parker, ilustra perfeitamente como a comunidade lida com o que há de podre em Laketop. Depois de exames e perguntas, ele manda Tui de volta para a casa do pai dizendo que “ela não pode ficar mais grávida”: o estupro não importa, os possíveis abusos sofridos na casa não importam, o “estrago” visível, e portanto condenável, já está feito, o resto é inconsequente e pode ser varrido pra debaixo do tapete, assim como a cocaína, os assassinatos e a violência.

Para as mulheres, Laketop é um ambiente extremamente hostil e perigoso, para os homens que fogem ao padrão, sufocante. Entre os homens maduros conhecemos, só há um que rejeita o universo hiper-masculinizado e violento da cidade. Ele é, ironicamente, o filho mais novo de Matt, Johnno Mitcham, que vive em uma tenda na floresta. Como as mulheres do acampamento, ele vive à margem de uma sociedade à qual ele não pertence, mas diferentemente delas, ele escolhe não pertencer. Enquanto as mulheres buscam refúgio em apoio mútuo no qual elas encontram proteção, ele é completamente capaz de viver sozinho. Fica clara a diferença de como a violência afeta homens e mulheres, Johnno participa de atividades sociais quando quer e se omite a menos que alguém com quem ele se importa – Robin – passe por episódios de violência. As mulheres são constantemente sujeitadas a extremo desrespeito e até mesmo abuso quando tentam interagir com homens, dentro ou fora do acampamento. Em uma ocasião, Matt Mitcham xinga todas de “unfuckable”, dando a entender que o valor de uma mulher é diretamente proporcional a seu grau de atração física. E é isso que mulheres são para todos os homens da série, objetos sexuais com ou sem serventia.
É interessante perceber, entretanto, que Top of The Lake não explora cenas explícitas de estupro. Vemos diversos filmes e séries que tentam representar realidades machistas e acabam por fazê-lo de forma machista, eles se utilizam de mulheres mortas para demonstrar a perversidade de determinado vilão e que acabam por glorificar imagens de extrema violência contra mulheres de forma quase fetichista. Muitos desses filmes são protagonizados por homens e seus vilões são homens e as mulheres – mutiladas, desfiguradas – só estão lá para avançar a trama. Vivemos, sim, num mundo machista em que mulheres são vítimas de crimes grotescos, mas existe uma forma de explorar isso sem comercializar e glorificar a violência contra a mulher. Em Top of the Lake, vemos um exemplo. As imagens de sexo consensual são amplamente exploradas, demonstrando um fascínio muito maior pelo prazer feminino do que pela dor. Nessas cenas, o corpo masculino é mais observado que o feminino, a mulher é o sujeito e o homem objeto. Crimes misóginos são representados, mas Campion não enaltece imagens de mulheres mortas ou estupradas. O crime contra Tui não a deixa prostrada, ela permanece viva e portanto ainda possui vontade própria e algum nível de autonomia. A investigação é protagonizada por uma mulher que também sofreu violência no passado e que não fica incapacitada por conta disso. Ela tem demônios com que lidar, sequelas que não serão apagadas nunca, mas ela é uma sobrevivente e sobreviventes têm uma característica muito particular: elas não desistem fácil.
SORORIDADE E LARICA: BROAD CITY
Fevereiro traz de volta Ilana e Abbi para a Comedy Central na forma da terceira temporada de Broad City, e, se o vídeo promocional da série nos informa de uma coisa, é que a ridícula, brilhante amizade entre elas continua a mesma. Vestidas como boxeadoras, as duas imitam o famoso smack talk anterior a luta, em que os participantes se xingam e quase partem para cima do outro. Mas o que ouvimos são coisas como “eu estou olhando você de frente, mas sei que sua bunda é perfeita” e “por que você está usando esse casaco fofo se todos sabemos que debaixo seus peitos são lindos?” e só o fato de elas estarem sendo barradas por seguranças as impedem de pular nos braços uma da outra.
As comparações são inescapáveis, o enfoque em personagens femininas e a amizade entre elas com Nova York como plano de fundo nos leva naturalmente a pensar em outras séries com essa proposta como Sex and the City e Girls. No entanto, a Nova York de Ilana e Abbi é bem diferente de qualquer coisa que vimos antes com Carrie Bradshaw ou Hannah Horvath. As duas protagonistas judias convivem diariamente com uma miríade de personagens diversos e comicamente reais enquanto exploram seus empregos medíocres, um gosto duvidoso para roupas, colegas de quarto insuportáveis, sexo – de fato – casual, muita maconha, e, o mais importante de tudo, a sua adoração compartilhada uma pela outra. A originalidade de Broad City está, por falta de palavra melhor, no amor entre suas protagonistas.
É revigorante assistir a uma série em que a amizade entre mulheres não é retratada como uma sucessão de episódios ambíguos em que a malícia e o afeto se confundem numa paródia de uma relação saudável. Ao invés disso, vemos duas jovens mulheres cuja amizade é fundamental e necessária em seu cotidiano, mais ainda do que qualquer romance que uma das duas venha a ter. Sim, amizades tóxicas que vemos representadas em tantas séries e filmes existem, é claro, mas a representação contínua da competitividade entre mulheres não é só cansativa como também datada. Com tantas discussões sobre sororidade e suporte feminino, Ilana e Abbi chegaram em um momento em que a sede por histórias indubitavelmente positivas sobre amizade feminina tornou a criação de Broad City oportuna e necessária.

Depois de duas temporadas aclamadas pela crítica, o que esperar da terceira? Bom, já falamos da amizade inabalável das duas, entretanto, outros aspectos permaneceram igualmente constantes nas duas primeiras temporadas. Elas ainda trabalham nos mesmos lugares, vivem com as mesmas pessoas e têm os mesmos não-namorados (Lincoln, te amo!), logo, não seria de se estranhar se a série logo se tornasse repetitiva e entediante como outros sitcoms que não conseguiram evoluir depois de um início promissor. Mas isso não acontece.
Broad City consegue se manter tão cômica quanto no início em primeiro lugar por não se encaixar como sitcom, já que o seu humor stoner/nonsense não configura nesse gênero já exaurido. Em segundo lugar, porque o sucesso da série não envolve tanto a vida cotidiana da dupla quanto as situações inusitadas em que elas se envolvem e mais importante: os personagens recorrentes. Assim como The Office e Shameless US, boa parte do envolvimento emocional do espectador vem do conhecimento prévio dos personagens. Isso explica por que o piloto da série pode parecer sem sentido – até mesmo absurdo – para um espectador desavisado, mas conforme somos apresentados às idiossincrasias e particularidades de Ilana, Abbi, Lincoln, Bevers e Jaime, a série se torna cada vez mais cativante assim como eles. Nos sentimos próximos desse círculo de pessoas pois estamos por dentro da piada interna. Na primeira cena da nova temporada, vemos Ilana e Abbi em seus respectivos banheiros em diversas situações íntimas e sabemos de cara que esse relacionamento – nós e a série – só vai se aprofundar.
