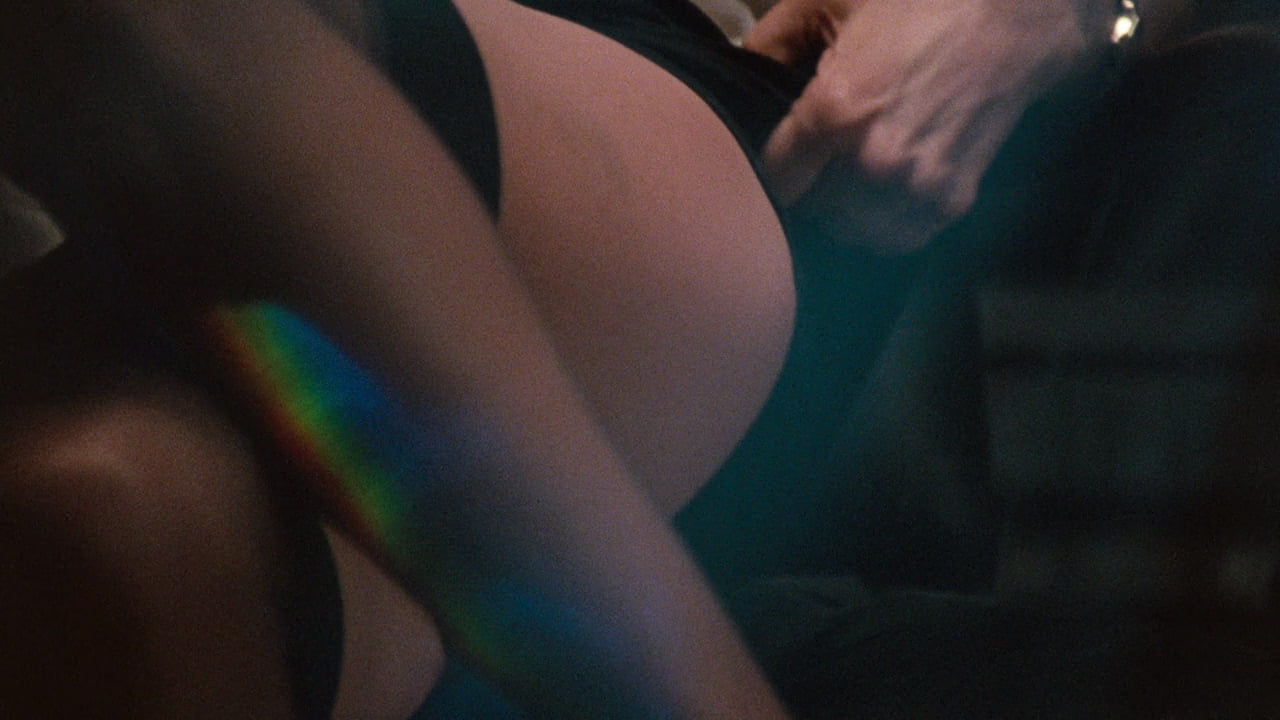O ESTUPRO SEGUNDO JODOROWSKY
Alejandro Jodorowsky e sua obra são comumente celebrados em um espaço difícil de definir. Por vezes negligenciados pelos críticos por não se encaixarem em nenhuma tradição cinematográfica, ao mesmo tempo foram cultuados por entusiastas da contracultura hippie dos anos 1970 e envolvidos em certo tom obscuro e alternativo. Seus filmes também ganharam a pecha de head film, ou seja, filmes para serem assistidos enquanto se usa drogas.
Diante desse cenário, o assunto Jodorowsky envolve uma certa aura progressista. Entretanto, o diretor sempre se orgulhou de se abster de comentários políticos, argumentando que seus interesses estavam em revoluções espirituais e pessoais. Há controvérsias sobre essa suposta oposição entre política e espiritualidade, a expectativa de que arte possa transcender comentário político.
Gostaria de começar falando sobre Mara Lorenzio.
Lorenzio foi a atriz principal do segundo filme do diretor, El Topo (1970), que conquistou as graças de John Lennon e teve os direitos de distribuição adquiridos por Allen Klein, agente dos Beatles. O filme inaugurou o fenômeno do midnight movie nos Estados Unidos – filmes produzidos fora de Hollywood e exibidos em pequenos teatros à meia-noite.
Em uma entrevista concedida em 1970, Jodorowsky declarou ter “realmente” estuprado Lorenzio durante a gravação de uma das cenas de estupro de El Topo. Mas, ao contrário do caso de Maria Schneider e O último tango em Paris, não conhecemos a versão da história de Mara – a atriz desapareceu da cena artística após o lançamento do filme.
O que sabemos de Lorenzio é o que Jodorowsky nos conta. De acordo com o diretor, ela simplesmente “apareceu” na casa dele um dia: “Ela estava mal. Em um momento da vida dela ela havia tomado LSD em grandes quantidades e tinha sofrido. Ela estivera em um hospital para doenças mentais”. Jodorowsky convidou a desconhecida para atuar no filme, e ela se mudou para a casa dele, onde ficou por seis meses. Depois que El Topo foi gravado, Lorenzio foi embora e os dois nunca mais se viram.
Jodorowsky, porém, não é exatamente um narrador confiável. Entrevistas com o diretor são menos sobre fatos e mais sobre a mitologia pessoal que ele deseja criar. Jodorowsky declara não querer ser visto apenas como um cineasta, mas como um profeta: seus filmes não são só obras de arte, são um caminho para alcançar a iluminação; a equipe é composta por guerreiros espirituais que serão transformados. Suas respostas são temperadas por referências místicas e improvisações: “Quando eu falo, eu invento. Eu invento. Eu nunca penso sobre o que falo”. Isso dificulta ainda mais a entender o que realmente aconteceu.
Embora ele declare ter morado com Lorenzio por seis meses e saber detalhes sobre a saúde mental dela, em outro momento da mesma entrevista de 1970 ele afirma que “não sabia nada” sobre ela e que eles “nunca conversavam” um com o outro. Anos mais tarde, em 2007, Jodorowsky afirmou para a revista britânica Empire: “Eu não estuprei Mara, mas eu a penetrei com o consentimento dela”.
Enquanto é incerto se realmente ocorreu um estupro no set devido à ausência do depoimento de Lorenzio, podemos ter certeza de que Jodorowsky não via problemas em estuprar uma atriz para “fins artísticos”. Inclusive, o estupro é uma forma de afirmar a imagem de líder espiritual a qual o diretor almeja. Veja bem: para ele, o estupro não é um ato de violência, um crime. Jodorowsky defende que estuprar uma mulher é um modo de despertá-la criativamente. É essa a narrativa que ele constrói, tanto para a atriz quanto para a personagem. Em El Topo, o estupro é uma forma de curar a frigidez feminina e despertar o orgasmo:
“Então ela [Mara Lorenzio, a atriz] me disse que já havia sido estuprada antes. Veja você, para mim a personagem é frígida até El Topo estuprá-la. E ela tem um orgasmo. É por isso que mostro um falo de pedra que jorra água nessa cena. Ela tem um orgasmo. Ela aceita o sexo masculino. E é o que aconteceu com Mara na vida real. Ela realmente tinha esse problema. Uma cena fantástica. Uma cena muito, muito forte.”
Mara, em El Topo, é resgatada pelo personagem principal do jugo de um coronel. Em seguida, o casal atravessa o deserto. Enquanto El Topo é capaz de fazer pequenos milagres, como encontrar ovos em meio a areia e fazer água jorrar de pedras, ela se compara com ele e se frustra com a própria incapacidade. Até que El Topo a estupra, e então ela ganha as mesmas habilidades mágicas. Mais adiante, a personagem de Lorenzio irá traí-lo com outra mulher e abandoná-lo.
O diretor repete a associação entre estupro e criatividade no documentário Duna de Jodorowsky: “Quando você faz um filme, você não deve respeitar o livro. É como quando você se casa, não? Você toma a mulher. Se você respeitar a mulher, você nunca vai ter um filho. Você precisa abrir o vestido e estuprar a noiva. E então você vai ter o seu filme. Eu estava estuprando Frank Herbert [autor do livro original Duna], mas com amor, com amor”.
Na entrevista concedida em 1970, Jodorowsky elabora mais teorias sobre a sexualidade feminina. Segundo o diretor, matar coelhos seria mais satisfatório para um homem do que fazer sexo, já que os animais se entregariam à morte mais facilmente do que uma mulher ao orgasmo: “A vingança da mulher contemporânea é fazer o homem se esforçar para dar-lhe um orgasmo”.
El Topo contém mais duas cenas de estupro. Em uma delas, vemos mulheres brancas, velhas, ricas e excessivamente maquiadas molestarem um homem negro escravizado e depois o acusarem de estupro. Por causa da falsa acusação, o escravo é assassinado pelos moradores revoltados da cidade. Embora falsas acusações de estupro de mulheres brancas por homens negros de fato ocorram, como no caso dos Scottsboro Boys, Jodorowsky parece atribuir a culpa do acontecimento às supostas hipocrisia sexual feminina e volúpia exacerbada de mulheres velhas e feias, enquanto o verdadeiro culpado é o racismo.¹
Na cena de estupro seguinte, El Topo e uma amiga, que tem nanismo, são forçados a fazerem sexo na frente dos clientes de um bordel. A personagem, referida no roteiro como A Pequena Mulher, o abraça apaixonadamente e diz: “Eu te amo. Eles não existem. Não há ninguém aqui além de você. Me possua. Por favor”. Jodorowsky imagina que a reação de uma mulher obrigada a fazer sexo em frente a uma plateia seria a de encarar a situação como um momento romântico e não, sei lá, um ato de violência. Aqui, o estupro poderia ser visto como uma oportunidade para a “mulher feia”, que de outra forma não conseguiria fazer sexo com o homem desejado. Quando questionado se havia feito sexo de verdade com a atriz nessa cena, Jodorowsky respondeu: “Não, porque eu não me sentia sexualmente atraído por ela”.
É curioso que uma visão tão tradicional sobre sexualidade feminina não tenha sido amplamente vista como um problema no trabalho de Jodorowsky.² Em um artigo de David Church para Senses of Cinema que analisa a obra do diretor, por exemplo, a cena de estupro em El Topo é descrita em poucas palavras: “El Topo a estupra para desencadear seu primeiro orgasmo”. Sem discussões ou ressalvas posteriores. Durante a entrevista de 1970, quando Jodorowsky confessa ter estuprado Lorenzio, o entrevistador, Ira Cohen, responde apenas: “Você sabia que a toupeira tem o pênis no formato de uma faca?”, e os dois seguem discutindo sobre o simbolismo de facas e ovos.
Jodorowksy costuma ser criticado pelo simbolismo hermético e pelas frases de efeito vagas, e não pelo fato de promover estupro como algo bom para mulheres. Se um diretor aspira a provocar uma revolução espiritual e inspirar pessoas com seu trabalho, o fato de sua obra promover a manutenção de ideias conservadoras e nocivas sobre gênero não deveria ser visto como uma falha, ou ao menos um ponto relevante a ser discutido?
Notas:
(1) O homem negro é caracterizado pelo racismo como violento, hiperssexual e uma ameaça à sociedade. Isso faz com que ele sirva de bode expiatório para a violência de homens brancos, que se revestem com ares de inocência e respeitabilidade enquanto acusam negros de serem os verdadeiros estupradores. O mito do homem negro como estuprador de mulheres brancas também tem a função de impedir a miscigenação racial após a abolição da escravidão. Com medo de serem estupradas, mulheres brancas passam a evitar interações com homens negros, conforme explica bell hooks no livro Ain’t I a Woman.
(2) Uma das exceções a essa observação seria a crítica Pauline Kael. Responsável por cunhar o termo “acid western” ao descrever El Topo, Kael argumentou que o filme se revestia com uma imagem subversiva por meio do sincretismo de símbolos religiosos, mas que a mensagem, por fim, acabava sendo tradicionalíssima: “Um homem divino tentado por uma mulher má e sedenta por poder abandona a integridade, e então, pelo amor de uma boa mulher, se torna um homem espiritual, apenas para aprender que o mundo não está pronto para sua espiritualidade”.
por Amanda V.
Amanda escreve no Deixadebanca e também organiza o Xotanás, sobre masturbação feminina.
DISPOSITIVOS SOBRE CAUSA E CONSEQUÊNCIA: CÂMARA DE ESPELHOS + PRECISAMOS FALAR DO ASSÉDIO
O Festival de Brasília do Cinema Brasileiro desse ano teve novos formatos, com mostras paralelas de cunho político e as chamadas sessões especiais. Em uma dessas sessões, foram exibidos os longa-metragem Precisamos falar do assédio e Câmara de Espelhos, filmes que tratam das questões ligadas às mulheres na sociedade. Além dessa discussão como elemento em comum, ambos os filmes dialogam com o espectador através do formato de filme-dispositivo. Esse tipo de filme costuma partir de uma questão formal, um dispositivo que afeta a linguagem do filme, para chegar às suas outras questões.
No caso do filme Câmara de Espelhos, de Dea Ferraz, o dispositivo consiste em reunir homens de diversas faixas etárias, estilos de vida e grupos econômicos diferentes em uma instalação de caixa preta, fechada, com espelhos nas paredes e decoração de sala de televisão. A diretora faz intervenções externas ao longo do filme, sem que os convidados vejam ou interajam com ela, que aciona vídeos na televisão da caixa preta com temáticas relacionadas às mulheres. Cenas de novelas, programas de televisão, memes da internet, entre muitos outros conteúdos midiáticos, impulsionavam a discussão sobre assuntos como o lugar da mulher na sociedade, nas relações, seu comportamento no mundo.
Em Precisamos falar do assédio, de Paula Sacchetta, o dispositivo se trata de uma van-estúdio que para por diversos lugares em São Paulo e Rio de Janeiro com o objetivo de coletar depoimentos de mulheres que foram vítimas de qualquer tipo de assédio, sejam eles físicos, psicológicos ou morais. Elas ficam sozinhas dentro da van, apenas com a câmera, sem interagir diretamente com a diretora. Caso prefiram, podem usar máscaras ou pedir para alterar a voz do depoimento. Cada máscara representa o motivo pelo qual a vítima não quer mostrar o rosto: medo, raiva, vergonha ou tristeza.
A criação de dispositivos em um filme tem como premissa filmar o que ainda não se apresenta e só se apresentará quando o dispositivo for acionado: ele é uma ativação do que já é real, apesar de ser um contexto inventado dentro da própria realidade. Como uma caixa preta em que homens podem comentar o lugar da mulher na sociedade ou uma van com uma câmera onde mulheres podem relatar assédios sofridos por elas.
Um filme tem a capacidade de intensificar as mudanças na realidade não apenas como um produto final que causa sensações particulares em cada espectador de acordo com suas próprias vivências, contextos e imaginário. Além disso, durante as gravações, existe a capacidade de desencadear sensações em quem está sendo filmado. A possível reflexão entre os homens em Câmara de Espelhos a partir das discussões na sala de espelhos é um exemplo disso. Assim como o processo catártico de cada mulher que deixou o seu depoimento em Precisamos falar do assédio.

A caixa é um recorte da sociedade com a qual lidamos diariamente em proporções bem maiores. A proposta da diretora é de uma análise de discurso da mídia que reproduz e recria um imaginário machista na sociedade, que a nível macro pode parecer imperceptível para a maioria da população consumidora dos grandes veículos de comunicação de massa. Mesmo para quem acredita estar seguindo um caminho de constante desconstrução, ao observarmos com mais atenção as nossas próprias falas, atos e mesmo trabalhos cotidianos, fica evidente que também repetimos e alimentamos à exaustão esse discurso machista.
Através desses recortes exibidos em uma tela de cinema, podemos entender a proporção dessas incoerências. Há determinado momento no filme em que uma cena de novela é exibida para que os convidados discutissem. A cena consistia em um homem e uma mulher tendo relações sexuais, enquanto um homem, que seria o marido, dá um tiro em ambos ao encontrá-los. Um dos convidados da sala, ao fim da exibição da cena, diz rapidamente e com convicção que isso é completamente normal e plausível. Esse momento demonstra a gravidade e a naturalização do feminicídio tanto na mídia quanto na abordagem cotidiana sobre o assunto.
Na van de Precisamos Falar do Assédio, notamos que as proporções que esse discurso têm e como trazem reflexos diretos e concretos na realidade das mulheres. A retro-alimentação do machismo não fica apenas na esfera das ideias, mesas de bares, discussões em comentários de portais de notícias: ela chega nos nossos corpos e psicológicos de formas muito dolorosas, deixando profundas cicatrizes. E é isso o que traz a diretora e as corajosas mulheres que compartilharam com seus fortes depoimentos no filme.

No filme, há relatos de mulheres da mais variada faixa etária. Algumas delas, já idosas, falavam pela primeira vez na vida sobre o assédio vivido. Através dessa câmera fechada em uma van, sem ninguém que as julgasse ou repreendesse ou amedrontasse, essas mulheres encontraram uma oportunidade para, de alguma forma, libertar um pouco de uma dor que não pode ser compartilhada por diversos fatores na vida cotidiana de cada uma. E esse formato do filme, além de auxiliar na catarse vinda da fala do próprio processo de abuso, causa a catarse em quem as assiste e se identifica em algum ponto com a sua fala. O filme se estende em outros desdobramentos interativos: convida a todas as mulheres que compartilhem depoimentos online em seu portal.
Outra característica inerente aos filmes-dispositivos é que eles funcionam, individualmente, em seu próprio modelo. Não há um formato específico e universal, os dispositivos são construídos diferentemente a cada obra, de forma a fazer sentido de acordo com o seu propósito enquanto filme. Mas, nesse caso, os dois filmes exibidos possuíam uma semelhança em seu dispositivo: o confinamento em locais fechados.
A leitura em cada um traz uma simbologia forte: os homens em Câmara de Espelhos, mesmo em ambiente enclausurado, estão sentados confortavelmente em sofás, com televisão, com homens ao redor, criando um senso de companheirismo. Eles falam à vontade sobre as opressões que praticam, conscientemente ou não, em clima descontraído. Mesmo que discordem entre si em alguns pontos, e ainda que falem coisas que soem absurdas, estão à vontade. Já as mulheres de Precisamos falar do assédio estão sozinhas, em um ambiente pequeno e fechado. Ainda que a intenção seja de acolhê-las, de lhes oferecer um lugar no mundo exclusivamente delas com a oportunidade de falar sobre algo que as oprime, as mulheres se sentem acuadas, envergonhadas.
A forma distinta como os homens e as mulheres se sentem perante os dispositivos é um simulacro da sociedade em que vivemos. Essas diferentes formas de lidar com o confinamento evidenciam como os lugares de fala refletem no pensar e agir dos homens, que não se sentem responsáveis pelas suas próprias agressões (sejam elas em potencial ou realizadas). E, por outro lado, a punição, culpabilização e silenciamento das vítimas estão arraigadas nas estruturas da sociedade, e demonstram o quanto o processo das mulheres que vivenciam isso é solitário.
NOVE SEMANAS E MEIA DE ABUSO: A EROTIZAÇÃO DO ESTUPRO
Adrian Lyne conseguiu transformar um molestador infantil em um herói romântico com maestria em Lolita (1997). Mas essa não foi a primeira vez que o diretor estripou um relacionamento abusivo para encaixá-lo em um delírio erótico. Quase uma década antes, um livro baseado em fatos reais havia caído na mãos do diretor. Era Nove semanas e meia de amor, escrito pela autora Ingeborg Day, sob o pseudônimo de Elizabeth McNeill. A história deu origem ao filme que virou um clássico do cinema erótico e é hoje exaltado como a versão “original/realista/mais sexy” de Cinquenta tons de cinza.
O relato de Day começa singelo: um amante sem nome pede para vendá-la durante o sexo. O que era supostamente uma experimentação sexual vai escalando. Toda noite, assim que entra no apartamento, ela é despida e tem os pulsos amarrados. É ele quem cozinha, dá banho, veste seu corpo, penteia seus cabelos. Ele ameaça expulsá-la de casa se ela se recusar a cumprir suas exigências sexuais. Ele a estupra.
Day está apaixonada. Day teme que ele a mate. Das duas premissas, a conclusão: “Se você me matar, você terá que encontrar outra, e é fácil encontrar mulheres como eu?” O relacionamento acaba quando ela tem um colapso nervoso e o amante a interna em uma clínica psiquiátrica. Os dois nunca mais se encontraram.
O livro Nove semanas e meia nos escancara a ambivalência emocional de uma mulher sobrevivente de um relacionamento abusivo. Revela como o enlace entre prazer e dor, admiração e medo, carinho e violência possibilitou que ela encontrasse na submissão, no anulamento de si mesma, uma identidade.
O relato de Day nos permite compreender como o discurso tradicionalmente feito sobre relacionamentos abusivos promove uma imagem de vítima perfeita e abusador desumano que jamais poderá se equiparar à realidade complexa que essas mulheres vivem, e que portanto as desarma de meios de compreender a própria experiência.
Não foi isso, porém, que o roteirista Zalman King interpretou da obra. King, que se julga um conhecedor exímio da sexualidade feminina, desenvolveu a teoria esdrúxula de que todas as mulheres passam por um período “perigoso” no qual ficam “viciadas em orgasmos”. Foi essa a história que o roteirista enxergou: uma mulher que é levada a um colapso nervoso por seu vício em gozar.
Em toda sua condescendência masculina, o objetivo de King era mostrar a “jornada do despertar da sexualidade feminina”. Mas não foi bem assim que o filme entrou para a história. Por quê?
A câmera de Adrian Lyne está constantemente deslizando sobre o corpo de Kim Basinger, que interpreta Elizabeth. Mickey Rourke, seu par romântico, permanece vestido na maioria das cenas e tem menos tempo de tela. Se os seios, as pernas, os braços de Basinger são expostos como um convite, quando se trata de Rourke, a câmera se limita a focar no seu rosto.
Um exemplo desse olhar é a cena de masturbação feminina, na qual Basinger se contorce harmoniosamente e faz caras e bocas risíveis para qualquer mulher que tenha o hábito de masturbar. O sucesso do filme com o público feminino heterossexual apenas comprova o quanto estamos acostumadas a ser voyeurs de nós mesmas.
Poderá Elizabeth passar por um “despertar sexual” se seus trejeitos são calculados para agradar o espectador? Como poderá ela descobrir a si mesma se está constantemente performando para o olhar alheio? Elizabeth, com o jeito infantil de balançar as pernas, a risada nervosa e o rosto corado que busca esconder, emana insegurança.
“Ela foi minha primeira escolha. Ela tinha a vulnerabilidade”, diz Lyne, ao explicar o casting de Basinger para o papel principal. Porém, aparentemente a vulnerabilidade inata da atriz não era suficiente. O método adotado pelo diretor foi o seguinte: a equipe de Nove semanas e meia de amor deveria tratar Rourke com gentileza e respeito. Basinger era negligenciada ou assediada. Os protagonistas não podiam se comunicar fora do set. Segundo Lyne, esse tratamento ajudava a criar a tensão sexual entre os atores e compensava a falta de capacidade técnica e intelectual da atriz.
“Kim é como uma criança. Ela é inocente. Isso é parte do seu apelo. É uma atriz instintiva. Ela não é uma intelectual. Ela não lê livros. Ela não atua de verdade, ela reage”, argumentou Lyne. “Não concordo com essa descrição de mim mesma de forma alguma. Para dizer a verdade, eu deliberadamente não me permiti enxergar todos os jogos que estavam sendo feitos para que o filme fosse produzido”, rebateu a atriz.
Em uma cena que não consta no livro original, John, como foi batizado o amante, convence Elizabeth a cometer suicídio tomando pílulas, que na verdade contêm apenas açúcar – que romântico! que erótico! A atuação de Basinger não estava “vulnerável” o suficiente, então Lyne chamou Rourke: “Precisamos fazer algo para quebrá-la”.
Rourke agarrou o braço de Basinger com força, fazendo-a chorar e revidar com um tapa. O ator lhe deu um tapa na cara, e então Lyne autorizou que começassem a gravar. A cena do falso suicídio foi retirada na versão final do filme porque, segundo o diretor, “fazia o público odiar John demais”.
Uma mulher assediada, humilhada, negligenciada e estapeada: essa é a face da sensualidade. Para alcançá-la, tudo se torna válido. É uma lógica não muito diversa da indústria pornográfica. O abuso escondido na narrativa de Nove semanas e meia de amor também é o abuso escondido na produção do filme: a vida imita arte.
Nove semanas e meia de amor obscurece o abuso de Elizabeth não só ao extirpar cenas cruciais do livro, como o colapso nervoso da personagem, mas também ao romantizar os momentos abusivos. É um clássico do soft-core: o estupro erotizado, romanceado, palatável, distorcido como consensual. Embora a frase “todo sexo é estupro” jamais tenha sido proferida por uma feminista, como alguns gostariam de pensar, o oposto pode ser dito sobre a sexualidade masculina: para os homens, todo estupro é sexo.
Quando Elizabeth se recusa a apanhar de John, ele a toma à força. Após tentar resistir, ela se entrega: ela gosta. Ela gosta de ser estuprada é o recado da pornografia e do filme erótico, que não são primos tão distantes assim. É a máxima que permite aos homens se isentar da responsabilidade das suas ações, que os impede de enxergar a brutalidade e a crueldade daquilo que querem.
O momento em que Nove semanas e meia de amor é mais inconscientemente perspicaz é quando Elizabeth abandona John em um quarto de hotel. Ela vaga sozinha por uma zona de prostituição e cinemas pornográficos e entra em um teatro onde acontecem apresentações de sexo ao vivo, que não lhe provocam tesão mas sim nojo e medo. Ela chora ao perceber que foi até aqui que essa jornada de “descoberta sexual” a levou.
Enxergamos o pornográfico como um universo de fantasia à parte, isolado das nossas experiências sexuais, mas o sexo que conhecemos é construído a partir pelos mesmos valores que norteiam a pornografia – cujos produtores e público-alvo são do sexo masculino. O pornô é apenas uma ponta extrema do sexo como uma relação entre dominante e submisso, ativo e passivo.
Elizabeth sofre porque explorar sua sexualidade sempre será feito em termos masculinos. Não conhecemos o que seria uma sexualidade feminina porque o universo de fantasia e de desejo a que temos acesso foi engendrado por homens para servir aos seus interesses, e nesse mundo o único papel que resta à mulher é de objeto. Elizabeth não pode ser protagonista do próprio desejo, ela pode apenas reproduzir o que já lhe foi entregue. É desse despertar que surge sua rebelião e que a faz abandonar John, ao final do filme.
Mulheres são masoquistas? Ou a dor foi o lado da barganha que fomos ensinadas a tolerar caso desejemos sentir prazer? Essa foi a pergunta desconfortável que Lyne ignorou, e cujo seu filme implorava a resposta.
por Amanda V.
Amanda escreve no Deixadebanca e também organiza o Xotanás, sobre masturbação feminina.