CONTRA O CAPITALISMO, MISO PEDE MAIS UMA DOSE DE UÍSQUE
A estreia da diretora Jeon Go-woon em um longa-metragem ganhou uma tradução em inglês que imediatamente invoca a relação entre a protagonista do filme e os espaços minúsculos aos quais ela pode habitar. Microhabitat é a versão estrangeira para So-gong-nyeo, algo que poderia ser lido como “uma jovem princesa”. Mas o título original do filme, não aprovado pela distribuidora, era MisoSeosikji, que poderia ser traduzido literalmente como “o espaço onde Miso vive”, sendo Miso a personagem que acompanhamos em uma peregrinação de moradias ao longo dessa história.
É curioso observar o modo como esses títulos se alteram carregando juntos a tensão entre a ideia do que é habitar um espaço e o que é viver esse espaço, dois verbos que, não coincidentemente, são sempre colocados como sinônimos. Quão alto pode ser o “teto todo seu” das mulheres quando aquilo que está entre o “habitar”, o “viver” e mesmo o “morar” diz respeito não apenas a um espaço material que é negado, mas sobretudo ao direito a um espaço também abstrato de existência e sobrevivência em realidades materialmente precárias?
E se “habitat” são as circunstâncias físicas e geográficas que oferecem condições favoráveis à vida, quais as circunstâncias emocionais que nos permitem viver em sistemas capitalistas de concentração de renda? Duas sequências em Microhabitat parecem explodir essas questões para todos os lados pelo modo como são encenadas e montadas.
O Teclado:
Na primeira, Miso, interpretada com sofisticação pela atriz Esom, recebe a notícia de seu namorado de que ele vai trabalhar na Arábia Saudita e o tempo mínimo previsto para ficar lá é de dois anos. Miso está profundamente triste. Cigarros, uísque e seu namorado são suas únicas fontes de prazer em uma vida cada vez mais tomada por um trabalho como faxineira que mal consegue pagar seu acesso a esses “luxos”.
Mas então ele fala: “Vamos usar nosso poder de imaginação.” Ela pergunta: “Para imaginar o quê?” E ele responde, com toda sinceridade e ingenuidade do mundo: “Que eu estou perto de você.” O filme poderia conter e estender esse momento no rosto do rapaz ou na expressão de resposta de Miso. Teríamos aí uma curva pelo romântico ou pela possibilidade da imaginação romântica. Mas em lugar disso, a câmera, que até este momento filmava essa conversa ora em um plano médio com os dois corpos em quadro, ora em planos e contraplanos fechados, decide então se afastar completamente e filma o casal de uma segura distância panorâmica.

O filme responde ao utópico “estar perto de você” no silêncio frio de um olhar distante, estabelecendo uma relação cética com as promessas de finais felizes desenhados por peças publicitárias. “Estar perto” para Miso precisa de concretude, de materialidade imediata, de toque. Não de um horizonte longínquo em ganhar dinheiro na Arábia Saudita. Mas, mais do que isso, como seria possível “estar perto” dela quando ela mesma não pode reivindicar um espaço que seja seu na cidade de Seul?
A Bateria:
Mais adiante, já sozinha na cidade, Miso entra no mesmo bar de sempre e pede a mesma dose de uísque de sempre. A atendente, já ciente das dificuldades financeiras da cliente, avisa que o valor do uísque aumentou porque o aluguel daquele imóvel subiu. A essa altura do filme, já estamos familiarizadas com a política de inflação imobiliária da cidade de Seul porque Miso simplesmente não consegue alugar nenhum cubículo em qualquer periferia. Diante da funcionária do bar, ela fica então em silêncio por um momento e depois de alguma reflexão interna, suspira, sorri e fala: “Tudo bem. Traga uma dose.” O enquadramento permanece fixo nela e, no canto esquerdo da imagem que captura uma janela para fora do ambiente, vemos em algum momento a neve cair. A câmera se desloca e passamos e ver Miso de fora pra dentro, a neve agora em primeiro plano e uma janela entre nós. A taça com o uísque chega.
Em um sistema que insiste em estabelecer como cada pessoa deve morrer em vida (viver/morrer para pagar o aluguel, viver/morrer para comprar comida, viver/morrer para ter energia elétrica), essa mulher decide olhar nos olhos do Capital e pedir mais uma dose de uísque, nem que para isso ela abdique completamente da possibilidade de ter um teto, a despeito de sol, chuva e… neve.
A Guitarra:
Nesse sentido, Microhabitat talvez seja um dos filmes mais sofisticamente anticapitalista do que outro título conterrâneo que ficou famoso por assumir um lugar mais evidentemente crítico a esse sistema enquanto se servia de um esquema alegórico de ‘o de cima sobe e o de baixo desce’: Parasita, de Bong Joon-ho. No trabalho de Jeon Go-woon, os modos como a personagem central vai inscrevendo nela mesma a resistência a um certo padrão de vida que nega o viver se servem de jogos: entre a ironia disfarçada de ingenuidade e entre o mínimo múltiplo comum da dignidade humana e algo que algumas pessoas mais rapidamente leriam como hedonismo.
Miso enfrenta o capitalismo abdicando progressivamente de tudo que a sociedade costuma ler como “escolhas”, mas que na verdade se trata de direitos básicos que esse mesmo capitalismo não fornece. Leia-se: entre pagar o aluguel e pagar por seus cigarros e uísque, nossa heroína bravamente decide ficar com os últimos itens, e isso não é uma “escolha” irresponsável, é uma tática de sobrevivência dentro dos códigos satíricos do filme (e, portanto, várias vezes propositalmente exagerados) e um enfrentamento à ideia de que itens como “cigarros” e “uísque” só devem ser usufruídos por classe sociais mais próximas do topo da pirâmide.
O Vocal:
E como esses códigos são postos em movimento? Sim, porque estamos cá falando não exatamente de um road movie, mas de uma narrativa que se desenrola à medida em que a personagem vai se mudando de casa em casa, dormindo sob o teto de amigas e amigos que, anos atrás, faziam parte da mesma banda de rock. Em lugar de paisagens diferentes, o que acompanhamos nessas viagens entre bairros são casas diferentes e dentro de cada uma delas, um universo de símbolos que localiza essas amigas e amigos em distintos territórios na escala de acesso aos bens capitais, mas de semelhantes adaptações que terminaram sendo feitas por todas e todos em nome de um ajustamento social: casamento, propriedade privada, emprego. E aqui uma ressalva:
Na comédia de costumes que vai sendo costurada desses encontros entre Miso e seus ex-companheiros de banda, o filme escorrega em algumas fórmulas fáceis de achatar essas figuras secundárias como pessoas que, em maior ou menor medida, são infelizes nos pactos que fizeram para que suas vidas fossem “normalizadas”. A infelicidade delas em si não é o problema, mesmo porque a estrutura do filme demanda que essas personagens sejam testemunhas de um sistema falido. Mas quando todas elas se tornam somente acessórios para reafirmar as “escolhas” de Miso em permanecer vivendo o espírito da “banda” enquanto as demais parecem ter abandonado os instrumentos no palco, o filme termina reduzindo a própria Miso a uma resposta, quando em vários outros momentos ela é plena afirmação, puro verbo intransitivo.
O Baixo:
Nesse aspecto a complexidade que o filme consegue estabelecer entre a protagonista e seu namorado é bem mais interessante. Rende conversas sobre as possibilidades de relacionamentos afetivos quando a busca dele por um status quo não nega seu apaixonamento por ela e o apaixonamento dela por ele reconheça a procura do namorado por alguma estabilidade financeira que a ela não interessa como horizonte prioritário. O momento de despedida em que ela e ele se amam nessas diferenças, filmado em um azul ainda mais frio que todo o frio do resto do filme, abre essas duas pessoas em suas zonas de vulnerabilidade sem transformá-las em essências opostas.

É também a partir dessa cena que temos o último ponto de virada do filme. Agora sem namorado, Miso decide não abrir mão dos cigarros e do uísque e, além de desistir de pagar o aluguel, desiste de comprar o remédio que mantinha seu cabelo preto, deixando com que os fios grisalhos se espalhem por sua cabeça. Aqui vale um adendo contextual que ajuda a perceber por que o filme decide trabalhar com esse código: em uma das entrevistas, a diretora explicou que na Coreia do Sul, onde quase 100% da população tem cabelo preto, as mulheres e homens mais velhos que começam a apresentar fios brancos quase sempre decidem pintar seus cabelos como uma forma de manifestar pertencimento à população economicamente ativa. Ser jovem e não ter cabelo preto é necessariamente um desvio de normas nesse habitat visual de Seul.
A Dissonância:
Há então uma morte no filme, os amigos da banda se reúnem para um velório e todos vestem: preto. Mas Miso, ao contrário do que o sistema prevê para alguém que se recusa a cumprir com suas regras, vive e habita em si mesma. Ela, que passa o filme inteiro limpando a casa de outras pessoas e, portanto, é imediatamente lida como uma força de organização do caos externo, só pode se organizar dentro de si mesma reconhecendo a vida como um direito, não como um dever. Jeon Go-woon não revela mais o rosto da personagem no desfecho da história, é exatamente pelo código do cabelo grisalho que a reconhecemos, um vulto cruzando o quadro como uma ideia sem corpo, em desajuste com tudo, menos consigo mesma.
TALVEZ EU FAÇA CINEMA PORQUE GOSTO DE POESIA: ENTREVISTA COM GLENDA NICÁCIO
Talvez eu faça cinema porque eu gosto de poesia é a primeira de quatro entrevistas que iremos publicar ao longo do ano. As entrevistas são parte da minha pesquisa de mestrado, que reflete sobre os olhares agenciados por diretoras negras do cinema brasileiro. Ao longo de dois anos e meio pude acompanhar, refletir e conversar com Viviane Ferreira, Everlane Moraes, Glenda Nicácio e Renata Martins.
A série de entrevistas tem o intuito de refletir sobre o cinema proposto por essas mulheres, em sua dimensão política e estética, afinal, não só os filmes em si, mas a forma como são realizados (desde o financiamento até a linguagem escolhida) dizem de um posicionamento ancorado no compromisso com a emancipação, a autonomia, a transmissão de valores e significados e com a criação de um imaginário e de uma estrutura social onde, mulheres e homens negros, são pertencentes. Partindo da forma como olham, ouvem, sentem e percebem o mundo, uma gama de cineastas negras têm encabeçado um audiovisual que dá centralidade à cultura afro-brasileira como formadora social. É sabido que as políticas que construíram as bases para a ideia de que vivemos uma democracia racial passam sobretudo pelas imagens. Entretanto, se mudarmos a ótica da harmonia racial e passarmos a observar com mais profundidade a contribuição de uma cosmovisão construída na diáspora africana, podemos encontrar, por meio do cinema, outros paradigmas interpretativos para a história do Brasil.
As conversas ressaltam o comprometimento em criação de imagens para a emancipação da população negra e abordam suas trajetórias pessoais, os usos e desafios da linguagem audiovisual, a transmissão de mitos, valores e simbologias e o cinema, como uma expressão de seus olhares.
Nossa primeira entrevista publicada é com Glenda Nicácio. A conversa aconteceu em outubro de 2019 quando nos encontramos na décima edição do Encontro de Cinema Negro Zózimo Bulbul. Glenda é mineira, nascida em Poços de Caldas, e encontrou, pelas andanças da vida, a possibilidade de fazer cinema na abençoada cidade de Cachoeira (BA). Ao lado de Ary Rosa, tem fomentado a cena cinematográfica do Recôncavo Baiano. Na entrevista conversamos sobre seus anseios como cineasta, o processo de realização de “Café com Canela” (2017), sobre poesia e negrura. Faça uma boa leitura.

Lygia Pereira — O “Café com Canela” me impressionou muito, por todos os símbolos que ele mobiliza, mas também por uma questão de linguagem. Ver tantos personagens negros, ver uma história sobre afetividade, e tudo isso. Mas foco muito na questão da linguagem, na transmissão de valores, porque é um filme que me parece dialogar muito com a cultura de Cachoeira (cidade do Recôncavo Baiano), um filme que tem muito a ver com a cidade e com a cultura negra de Cachoeira. Eu fui pra lá no começo do ano, e embora tenha ficado só três dias, eu senti um pouco isso, além de outras coisas que eu já vi e já li sobre a cidade. E gostaria de começar com você falando um pouco sobre você: como você chegou ao cinema, quem você é, de onde você vem?
Glenda Nicácio — Acho que eu sempre tive uma vontade de compartilhar muito grande, quando criança eu ficava na creche e escola pra mim sempre foi o melhor lugar, porque era aquele lugar de ter amigo, de ter companhia, de fazer coisas junto, de ser criativo e produtivo. Penso que o cinema é o mesmo processo também: um lugar de você ter companhia, de você não estar sozinho e poder compartilhar alguma coisa, ser criativo e se expandir, é muito vida! Esse cinema que eu consigo fazer e que é possível pra mim.
Eu cresci em Minas Gerais, no interior, em Poços de Caldas. Minha família nunca foi de sair muito, de viajar. Sendo assim, eu cresci muito lá, achando que o mundo era lá, e quando eu cheguei no terceiro ano do Ensino Médio, sempre estudando em Escola Pública, pensei em arrumar um emprego pra conseguir juntar uma grana pra continuar meus estudos: juntar uma grana pra pagar um cursinho e talvez entrar em uma faculdade, mas também não era uma coisa que eu sabia como funcionava, pois na minha família não havia nenhuma referência de alguém na universidade. Mas eu estava focada nisso. Eu comecei a trabalhar em uma sapataria, e no meio desse processo, me apareceu o ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) e eu fui fazer a prova, e por desencargo de consciência eu me inscrevi no SISU (Sistema de Seleção Unificada) e fui fazer a simulação no site com minha nota, e deu que eu estava aprovada. Eu tinha que escolher algumas opções de curso, e escolhi teatro e cinema, mas eu nunca tinha tido relação com o cinema… minha relação com o cinema era a “Sessão da Tarde”. Antes de fazer cinema, eu havia ido a um cinema só três vezes na minha vida, porque não havia uma cultura ou um hábito de cinema em minha vida. Lembro que vi a grade de matérias do curso de cinema e achei que tinham coisas que me agradavam: fotografia, questão da atuação, direção de atores, e tudo aquilo passou a me agradar, como o teatro. Mas tinha um preconceito muito grande dentro da minha família com o teatro, primeiro que eu já ia fazer uma faculdade, o que não era um curso técnico, pois pra eles um curso técnico era muito melhor, pois é menos tempo e mais garantido. Meu pai havia feito curso técnico, então ele acreditava muito nesse processo, já faculdade era uma coisa que não havia referência, ainda quatro anos estudando, e mesmo quando você entra é difícil se manter, é difícil fazer universidade nesse sentido. Aí eu coloco no SISU as opções “teatro” e “cinema”, e de repente eu passo no curso de cinema na UFRB (Universidade Federal do Recôncavo Baiano). Universidade que eu não conhecia, tampouco havia escutado falar de Cachoeira, e me veio muito essa sensação de “é isso!”.
Eu lembro que pra minha família era um momento de muita dureza, pois meu pai e minha mãe estavam desempregados e mesmo assim eles toparam. Meus pais foram muito foda! Tem todo um jeitinho mineiro de cercar e de cuidar, e aí, eu decidi ir pra Bahia umas duas semanas antes de ir fazer a matrícula, não foi uma coisa de projetar por meses, foi mesmo assim “então tá, daqui quinze dias vou pra Bahia”. E não sei de onde veio, só lembro que era uma sensação de que era uma chance muito grande na minha vida que eu ia perder e não ia se repetir. Aí eu fui, e ainda era muito nova, fui pra lá eu tinha acabado de fazer dezoito anos.

Chegando em Cachoeira fui morar em uma república com muita gente. Era um momento em que a gente não tinha muito o que fazer, chegando na cidade, nossas famílias muito longe, assim, rolava muito de nós estudantes ficarmos perto, juntos: assistirmos filme em casa, arrumarmos qualquer motivo para ficarmos perto. É bem legal pensar isso, porque, por exemplo, eu morei com o Ary (Ary Rosa parceiro de produções de Glenda, dividindo a direção dos filmes Café com Canela, Ilha, Até o Fim e Voltei!), pois ele é da minha turma, de 2010. Eu encontro ele lá, nós viramos amigos, dentro de um grupo grande de amigos, e vamos cada vez mais se aproximando, até o momento que passamos a morar juntos. Eu e Ary passamos sete anos dividindo casa. Até uns dois anos atrás nós ainda dividíamos casa e isso foi muito importante pra nossa organização de cinema, porque nossa casa era também nosso escritório, então começamos uma parceria de vida, de cinema, de vida, uma parceria de tudo. Foi um processo muito forte de se encontrar e dizer “isso é a gente e nós vamos botar a coisa pra frente!” Perguntávamos “bora botar a coisa pra frente? Bora botar a coisa pra frente!”. E viver junto ajudou muito nisso, compartilhar uma casa ajudava muito nisso, quando você estava falando da rotina, isso era importante, pois minha rotina com o Ary era muito compartilhada: a mesa que a gente comia, era a mesa que a gente se reunia, a mesa que a gente bebia, enfim, sabe a mesma mesa que era tudo. Isso foi fundamental, porque pensar cinema era o tempo todo. De acordar e tomar café juntos e ter uma ideia, e já estávamos ali trabalhando. Então assim encontrávamos formas de trabalhar e pensar só cinema, falando cinema e pensando cinema a maior parte do dia e o legal é que conseguimos sistematizar tudo isso: sistematizar essas conversas em trabalho e produção, e pragmatizar, pois o Ary é muito pragmático, mais do que eu inclusive.
L — Caminhando mais pra frente, pro presente. Peço que você fale como vocês chegaram nestes dois filmes, Café com Canela e depois Ilha.
G — O Café com Canela era um roteiro de um curta-metragem feito pelo Ary para uma disciplina, ele escreveu e depois continuou escrevendo e de repente o curta virou um longa, mas sem essa pretensão de “escrever para virar longa”, foi um processo. Ele escreveu em 2010 o roteiro do Café, mas a gente só inscreveu o roteiro em um edital em 2014, já havíamos inscrito em outros editais antes, mas que foi realizado, somente em 2014. Então foram anos de muita maturação do roteiro, pois como a gente morava junto, nós tínhamos lugares de muito acesso e troca. E eu amo muito os personagens do Ary, desde o começo, fico apaixonada e defendo os personagens dele melhor que ele. Amor de verdade, pois gosto muito dos lugares que ele cria, a forma com que ele se conecta. Deste modo, eu acho que o Café teve esse período de maturação que foi muito importante, foram uns três anos: de 2010 à 2014, houve várias intervenções, até mesmo quando estávamos gravando. Por ser nossa primeira experiência de longa-metragem e de não termos uma forma, era muito de lermos, creio que o roteiro teve uns trinta tratamentos. Aí passamos por todo esse processo de maturação e começamos a fazer inscrição nos editais até que conseguimos em 2014 no edital de Arranjos Regionais (edital da Agência Nacional de Cinema) em parceria com o IRDEBE (Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia), que era um edital que fazia licenciamento também, assim a produção depois era transmitida na TV estatal e pública. Foi o momento de arriscar tudo e de falar “se não for dessa vez, não sabemos quando será de novo”, o mesmo sentimento do início quando eu vim para a universidade, “se eu não entrar agora, não sei se entro depois”, acho que o Café também foi isso. E nós sempre tivemos isso de uma forma de estar preparado para esses momentos, essa necessidade de termos que estar pensando a frente, para conseguir viabilizar a possibilidade da produção. Esse momento foi muito importante, pois todas as vezes que nós fazíamos a inscrição, havia alteração no projeto em comparação ao original, e o último projeto que a gente fechou, logo quando acabou, a gente falou: “Isso não é um filme, eles vão ter que aprovar, porque isso não é um filme, é uma revolução”. Porque era um projeto muito audacioso o que a gente propunha, eram coisas propostas não por discursos, mas sim por necessidade de existir, o único jeito de dar certo era isso aqui: assumindo e aceitando as precariedades do lugar que estávamos vivendo e também do que a gente era. Assumir todas essas precariedades e falar “tem isso, mas o que podemos fazer com isso?”.
Eu gosto de dar um exemplo: no Café fizemos um processo de era o casting de atores porque acreditávamos que íamos achar a protagonista na comunidade — no caso a Violeta, porque a Margarida já tínhamos certeza que seria uma atriz, já havíamos pensado na Valdinéia Soriano e ela já tinha aceitado — já a Violeta, vieram um tanto de atrizes e dizíamos que nenhuma se encaixava para ser a Violeta. Por isso fizemos um casting em cinco cidades do Recôncavo e também em Salvador procurando a protagonista, acabou que veio a Aline Brunne que inclusive é do curso de artes visuais da UFBR de 2010, ela entrou junto com a gente, tivemos muita proximidade nesse processo de estarmos na universidade juntas, de sairmos juntas, e ela foi fazer o casting porque andava muito de bicicleta pela cidade. Todo mundo da produção dizia que só via a Aline na personagem quando lia o roteiro, lembro-me que no dia que estávamos saindo pra conversar sobre o casting com a parte da produção que o Ary havia feito nas outras cidades, e nesse momento a Aline passou na nossa frente, aí nos olhamos e pensamos “será isso um sinal?” (risos…)

Nós fizemos o casting, encontramos a personagem e depois fizemos uma oficina de cenografia que foi a coisa mais maluca do processo, depois até nos perguntamos por que havíamos feito isso? Pois não tínhamos em Cachoeira um centro, um grupo de cenografia, e ao mesmo tempo não tínhamos habilidade, porque eu estava assumindo a direção de arte, tinha feito cursos e tal, mas não tinha habilidade de trabalhar pro nível que precisávamos, que era de construir uma casa, pois a casa da personagem Margarida foi toda construída, toda de estúdio. Porque acreditávamos nisso também, que a locação era importante pra personagem da Violeta, porque era um dos bairros mais populares que era no Caquende, toda uma muvuca e tal, e a casa da Violeta era ali, a casa de uma pessoa de verdade, a pessoa saiu da casa pra gente gravar. Já a Margarida não, foi em um estúdio, num galpão na zona rural, e tudo foi construído, tudo fake, né…
L – Faz bastante sentido, porque tem aquela coisa das paredes que reduzem, aquelas coisas escorrem, é muito um universo onírico. Então o estúdio realmente possibilita isso.
G – E pensar nela (Valdinéia Soriano) enquanto atriz e estar nesse lugar, né? Porque é diferente, ela já tinha gravado no Caquende, e outra coisa é que gravamos, ao longo de todo filme, tudo com todo mundo. E de repente, todos foram embora e ficou só a Valdinéia pra gente finalizar essas cenas que eram só com ela, então foram períodos só com ela. Pois uma coisa é ter equipe e elenco, mas não, estávamos em um lugar isolado e só tinha ela em uma casa totalmente construída, e eu não consigo pensar que isso não afete a forma da relação e da construção, que são fatores externos que, de certa forma, colaboram e atravessam.
Voltando à oficina de cenografia, era pra umas trinta pessoas, e o que a gente não queria era contratar uma equipe de Salvador. Nossa equipe era muito grande e toda composta por estudantes e/ou recém-formados pela galera da universidade e/ou da cidade. Pra cenografia a gente chamou três pessoas: duas de Cachoeira e uma de Salvador, mas que tinha proximidade; com o intuito de eles fazerem uma oficina, eles eram cenotécnicos do filme e ao mesmo tempo eles eram professores, que organizaram essa oficina de cenografia com trinta pessoas: 10 pessoas da equipe de arte, 10 pessoas da comunidade em geral — dentre universitários e moradores — e 10 pessoas que eram alunos de escola pública do terceiro ano do ensino médio.
L — Você falando sobre esse processo, isso denota duas coisas: primeiro, da falta de recursos, pois acho que fazer um longa-metragem, embora eu não saiba o orçamento de vocês…
G — Era quase 800.0000 (oitocentos mil).
L — O que não é muito dinheiro.
G — Não, principalmente pro Café, por exemplo, o orçamento do Café é o mesmo do Ilha, mas o Ilha tem um processo mais mínimo, reduzido, em comparação ao Café que tinha muito mais gente.
L — E isso me lembra, por exemplo, quando a Adélia Sampaio fez o Amor Maldito. Foi um processo bem parecido com o de vocês com o Café: fazer um longa-metragem sem dinheiro. Muito nesse lugar das pessoas “comprarem” e “abraçarem” o processo, porque pra participar disso você precisa minimamente acreditar no que está fazendo, haja vista que não se está recebendo uma grana volumosa pra isso. Neste contexto, eu fico pensando nessa “coletividade”, nesse processo de se fazer cinema de um jeito mais coletivo mesmo. Não sei se vocês se entendem assim, mas a Edileuza (Edileuza Penha, cineasta negra), quando ela vai definir um cinema negro feito por mulheres negras, ela fala muito desse lugar da coletividade: de algo que é coletivo, mas que passa pela cultura negra da coletividade, temos isso muito em nossas famílias e acho que isso também é levado por nós para o cinema.
G — Sim, totalmente. Por exemplo, quando eu morei sete anos com o Ary, antes morei em outras duas casas. O Ary morava com o Thacle (Thacle de Souza, câmera de Café com Canela), eu morava com a Poli (Poliana Costa, assistente de fotografia de Café com Canela), aí depois o Ary foi morar comigo e o Thacle foi morar com a Poli, e eles são os fotógrafos do filme. Nós criamos essa relação de família, que se expandiu pra vários campos, inclusive pro cinema e é muito pelo cinema que essa sensação acontece. Nós trabalhamos tão juntos, que temos uma certa dificuldade de desapegar das pessoas da equipe. Hoje nós temos um grupo/equipe que são as pessoas que desde o princípio estão com a gente. Porque a gente sempre teve essa coisa de fazer curta-metragem de graça, na “brodagem”. Aí quando nós tivemos dinheiro não pensamos em chamar o melhor fotógrafo do país, mas sim, trabalhar com as pessoas que sempre trabalharam com a gente, principalmente as pessoas que estavam lá, uma coisa que falávamos “imagina, chegar uma pessoa de fora e filmar”. Pois o tipo de estética que nós propomos, enquanto linguagem e tal, é um tipo de estética que dialoga muito com o cotidiano da cidade, de observação da cidade, sabe aquela coisa de estar na fila do pão e pensar “putz, é isso, sabe, entendi”, sempre observando a cidade.
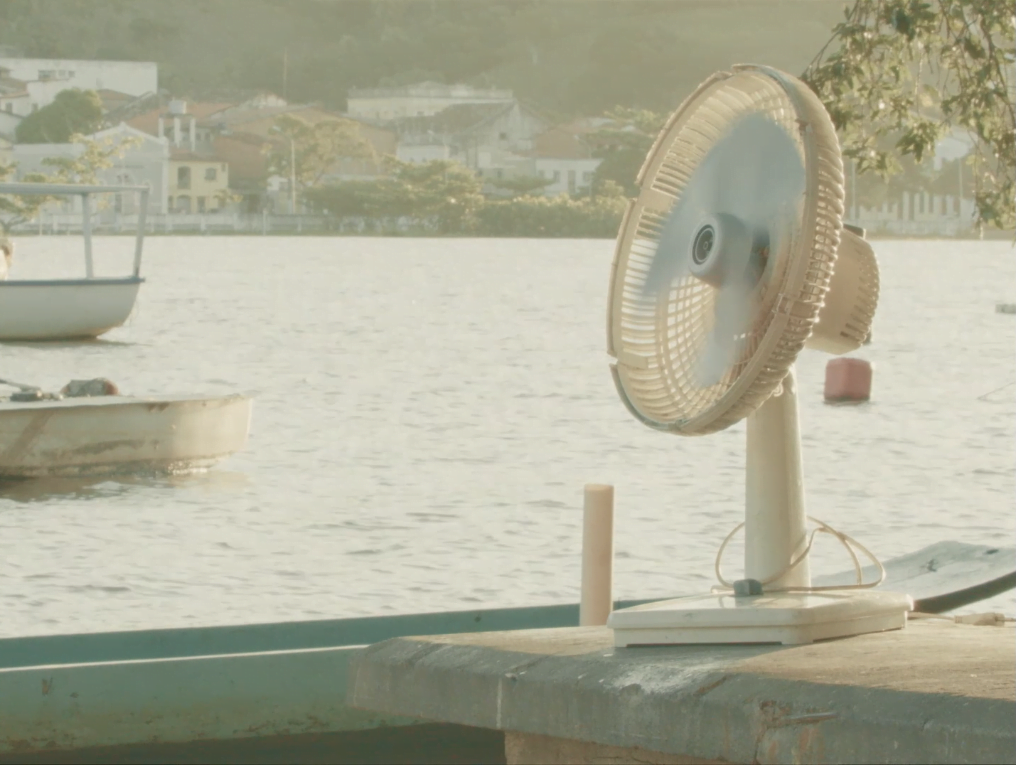
L — Logo no começo, tem uma montagem bem rápida de várias coisas do dia a dia.
G — Algo que é muito Cachoeira, que tem carro de som, tem pessoas passando, mesmo que interiorana, mas muito fragmentada. Esses dias a gente colocou o making of no YouTube, tanto do Ilha quanto do Café. E nós estávamos passando um trecho que falava sobre as costureiras, ou melhor, uma associação de costureiras de Cachoeira que fizeram o figurino do Café. E em certo momento do making of aparecia a Tina Melo, uma super artista visual que foi essencial no processo do filme e especificamente pra direção de arte, pois ela fez cenografia e a assistência de arte. A mãe da Tina é costureira e foi a pessoa que ficou com a comunicação geral com toda a galera da costura. Nós estávamos passando o making of e conversando com o pessoal da extensão e eu falei “gente, essa é a mãe da Tina”, e isso me deu uma sensação de família, de “estarmos todos em casa”, isso me deu muita alegria, de olhar e perceber como o processo do filme foi algo muito “de casa” e pensar isso como uma coisa potente, como algo que pode explodir no sentido positivo e jogar pra frente. Porque essa coisa meio caseira às vezes é um local que buscamos muitas vezes nos afastar, pois parece que pra ser profissional você não pode ter essas rubricas: de caseiro, de artesanal. Mas pra mim fazendo o Café essas palavras chegaram muito pra mim, eu faço um cinema artesanal e isso não tem a ver com a qualidade do produto ou do processo que proponho, eu faço cinema artesanal pois é assim que acredito e porque nós somos “tupi” mesmo, um outro jeito de olhar esse cinema, de ver as coisas, pois a nossa referência de produção vem do dia a dia, e não de um caderno ou livro. Eu gosto de pensar que está tudo em casa, e por isso que gostamos de trabalhar sempre com a mesma equipe, o que é muito gostoso: se é pra contratar pessoas, vamos contratar as que já estavam com a gente, e passar pelos mesmos processos. Pensar que eu nunca havia sido diretora nessa escala grande, de fato assumir uma direção, me vendo como uma diretora, assumindo a direção, e olhar em volta e perceber que eu e outras pessoas da equipe estamos juntas: aprendemos e crescemos juntas, seja a pessoa que fazia a câmera ou o som, nós não tínhamos passado por um outro processo, toda nossa bagagem foi tomada de um mesmo lugar.
L — Como você imprime dentro da direção quem você é? E também a sua subjetividade? E dentro disso, como você se vê enquanto pessoa e subjetividade que produz arte?
G — Nossa, complexo! (risos…). Esses dias me perguntaram “o que eu busco quando faço cinema?”. Eu pensei, meu deus, como saber? Talvez eu não tenha chegado em uma resposta objetiva, mas cheguei a conclusão de que eu busco vida. Porque eu fiquei pensando nisso no contexto em que eu não estou produzindo no cinema, quando a produção de um filme acaba e tal. Pois nós, eu e o Ary ficamos anos trabalhando em uma produção, e tudo é muito desgastante, porque ter que manter a paixão durante cinco anos, em que alguém sempre vai perguntar sobre o tal roteiro, e nós temos que falar sobre. Aí chega o momento de gravar, que é o momento mais delicioso, em que eu falo “gente, façam o que quiser comigo, mas no set de filmagem, não mexa comigo!”. Embora eu seja uma pessoa que não tem características de ser brava, no set eu fico muito “sangue no olho”, brava. Pois o set é um lugar em que há muita gente, por isso necessita de muita disciplina e respeito com o trabalho do outro. Eu tenho uma relação de magia com o set, gosto muito daquele momento do set, sinto-o como poesia, e gosto muito de poesia, e talvez eu faça cinema porque gosto de poesia. E creio que a direção de arte, que é a área que assumo normalmente, é um processo que me ajuda muito a entender a “alma” do filme. Porque pra mim direção de arte não é figurino ou maquiagem, pra mim a direção de arte me permite trabalhar com signo, me permite criar isso e trabalhar com construção de significado e poesia, e tudo isso me ajuda muito no processo de direção. Talvez seja isso, junto a essa coisa do silêncio do set, quando se fala “gravando!”: lembro-me da primeira vez que eu ouvi o silêncio do set e lembrei da frase de uma amiga que o único lugar que talvez tenhamos silêncio no mundo seja no set. Um lugar de paz e silêncio, em que as coisas e o mundo param um pouquinho pra você ver, prestar atenção e ficar o tempo que for. Acho que é um lugar de sagrado, o set pra mim é muito sagrado, e ao mesmo tempo, é um lugar muito pragmático, porque na verdade não tem muita poesia no set. As pessoas quando vão ao set ficam extremamente decepcionadas porque é tudo muito rápido e tal. E nosso set é isso, bem agilizado e tal, mas quando começa a gravar, entra-se em um outro cosmos, em que nos comunicamos com outras ordens, outras energias que eu nem sei de onde vêm. E aí tem o vazio que dá quando você sai, quando tudo aquilo acaba. Primeira vez que eu sinto isso, eu achei que ia enlouquecer. Um vazio muito grande, aí nesse contexto tem que desapegar, porque fazer cinema é você ter que aprender a desapegar.
L — Você falou de signos e símbolos. Dentro disso, eu fico pensando um pouco, uma leitura minha, na personagem da Violeta como a representação de Oxum (orixá das águas doces, das cachoeiras e da fertilidade). Ela até mesmo tem um espelhinho que ela carrega. Eu não sou feita no santo, nem nada disso, embora já tenha ido em algumas festas de candomblé e tudo mais. Mas eu senti em Cachoeira uma coisa muito forte neste contexto, principalmente de Oxum, primeiro que a cidade se chama Cachoeira, um nome possivelmente não dado à toa. Aí sobre isso a relação do filme com a cidade, com o candomblé, com a cultura negra que é muito forte em Cachoeira. Eu fiquei impressionada de ver que na UFBR de Cachoeira 80% dos alunos são negros, isso é muita coisa, e acho que isso no cinema tem muita potência, muito incrível.
G — Em Cachoeira na UFRB, no curso de cinema, eu ainda acho que é um curso com menos negros, não chegando nos 80%, pelo menos em algumas turmas atrás, porque essas últimas estão voltando a se aproximar deste patamar. Agora sobre a Violeta e Oxum, é isso, total. O roteiro já trazia essa aproximação com Oxum, já trazia a informação de que a personagem era filha de Oxum, e isso tem a ver com essa coisa do signo que você estava falando, e isso era essencial. Por exemplo, continuando a falar de Oxum: então há Oxum, e vamos nos aproximar dela, porém, enquanto filme, nós nos aproximamos dela não para extrair, mas sim, para criar a partir dela. Isso é algo que agrada muito em nossos trabalhos: toda a aproximação que fazemos não é para registrar, para transpor ou representar. Eu não acredito nisso e ainda considero muito limitado representar. Por outro lado, eu acredito muito mais em entender como energia que impulsiona, que joga pra fora. Então é o início, é pensar que o movimento de câmera está em sintonia com isso, executando um movimento de câmera que é feito pensando em Oxum. O que ocorre no Ilha, por exemplo, em que temos uma relação com Oxóssi (orixá da caça e protetor das florestas), aí temos um movimento de câmera que se aproxima da dança de Oxóssi. A galera que estava na coreografia tinha toda essa preocupação, havia uma galera de santo também que sabia e podia lidar com isso da melhor maneira, da forma mais leal e justa. Então pra mim é isso, o movimento de câmera é feito a partir de Oxóssi, a atuação é feita a partir disso, o projeto de arte também é pensado a partir disso, o som, etc.

L — Você é feita no santo? Alguém da equipe?
G — Não sou, mas várias pessoas da equipe são. Inclusive isso é muito bom, porque são várias pessoas que vão conduzindo e ajudando ao longo das filmagens, pessoas que falam “olha, vocês estão sentindo tal coisa? Estão percebendo?”. Sempre aparecem pessoas que vem para cuidar…
L — Você falou da câmera, algo que eu não tinha reparado. Mas aí penso também na própria relação da Violeta com as personagens, ela levanta e cuida de todo mundo…
G — Eu acho muito legal pensar que há pessoas que assistem e não entendem ou sabem. Pois o filme se realiza enquanto narrativa, que implica em perda, ou melhor, não há perda, é importante nesse sentido, não há perda, mas quem conhece entende um pouco mais. Pois pra mim é importante conversar com todo mundo, mas quem já sabe da história, vai entender um pouco mais.
L — Foi o que eu percebi na segunda vez que eu vi. A primeira vez, outras coisas me chamaram a atenção. E na segunda vez percebi que era um filme sobre Oxum, um filme regido por Oxum, algo muito bonito. E isso me faz pensar também na estrutura narrativa do filme, na própria linguagem usada. Quando você fala isso da câmera, acho muito importante frisar, mas também penso na estrutura do filme, haja vista que não é um filme linear: que tem começo, meio e fim. Ele é um filme que começa no final, com momentos do passado muito antigo, aí ele volta. Não sei se você já viu, mas ele me lembra muito o Filhas do Pó, da Julie Dash (cineasta negra estadunidense), devido a esta costura, esse modo de entender a narrativa e a história que não segue uma lógica linear, que é diferente de um cinema mais “clássico”, entre muitas aspas, em que você tem “começo, meio e fim”. Acho que quando ouvimos falar sobre a história negra brasileira e da diáspora é sempre algo que está presente, que nunca acaba, que sempre há desdobramentos, em que para se entender o presente, temos que voltar ao passado, então vejo muito a linguagem nesse sentido.
G — Acho que é isso que você coloca, essa coisa da memória, dos sons que ficam ecoando, sons do passado que ficam atravessando. Essa busca, pois o Café também é um filme de busca, em que cada um está buscando uma coisa: a Margarida está buscando a vida, a Violeta está buscando superar cada dia, cada um está buscando uma coisa diferente, mas há um lugar de comunhão e de partilha, que só acontece pelo encontro, pois existe a necessidade do encontro. Acho muito legal tudo isso, e tem algumas camadas que a gente não apreende, você faz e depois vê, e fica meses pensando sobre aquilo, mas quando você joga pro público, é diferente. Relatos de muita gente com histórias de depressão nos debates sobre o filme, e gente que estava em depressão, e após assistir o filme, se salvou naquele momento. Várias pessoas que participaram do filme, por exemplo, a Aline (atriz Aline Brunne), porque ela é a cara do filme né, as pessoas abraçavam ela, mandavam mensagens muito íntimas, de falar “olha, aconteceu tal coisa comigo essa semana, o que me fez pensar em suicídio, mas no domingo eu assisti o Café e o filme foi minha Violeta, obrigado por ter interpretado a Violeta”. Uma vez eu recebi uma mensagem, que era de uma pessoa, que não era amiga, mas era uma colega próxima. Ela tinha perdido um filho, então essa pessoa me mandou uma mensagem que dizia assim: “Eu perdi meu filho num dia de Natal, e no final do mês eu fui assisti ao Café e percebi que eu era a Margarida”. Eu fiquei muito impactada.

O que fazer com o mundo? E creio que eu achei esse lugar no cinema, embora o cinema seja muito pequeno, por isso acho que nossos filmes têm essa vontade de “correr atrás da vida”, por isso que talvez, pra mim, fazer cinema seja fazer vida. Nós sempre tivemos a noção de que a Violeta estava vivendo, de modo que a atriz não precisava parar e ficar performando para a câmera, no sentido de ter que esperar o tempo, isso não, a câmera que vai atrás da Violeta. Ela que impulsiona o movimento da câmera, ela que leva a gente, a câmera vai atrás dela, a gente trabalha muito a câmera no sentido de cumplicidade com corpo. O que é gratificante pois assim nós vamos criando nomes/conceitos, se você pegar nossos projetos, sempre há muito conceito: “A câmera que respira”, era uma câmera que ia parar, mas ao mesmo tempo, não era uma câmera parada, porque ela está na mão e ela recebe a respiração do câmera. Tem muita gente que não gosta disso, já eu adoro isso, que é você pensar na poesia, e trazer essa poesia pra falar que isso aqui é feito por gente, porque tem gente que está operando essas câmeras, que está produzindo tudo isso.
L – Eu acho que isso traz muita honestidade para o processo, porque o cinema tem essa tradição de ser aquela coisa, de tudo dar a impressão de realidade, de perfeição. Aí eu gosto destes elementos que nos fazem lembrar “gente, na verdade isso é só um filme”. Há pessoas por detrás disso, gente segurando a câmera, o microfone, tem muita gente fazendo as coisas.
G — Eu acho que isso é uma forma de pensar a linguagem, de jogar o espectador nesse lugar, trazer muito essa vontade de não mentir. O Ilha vem muito nessa vontade de não mentir, isso de falar o tempo todo “olha só, a gente está aqui, mas ao mesmo tempo, mentindo pra caralho” (risos…)
L — Você falando sobre a Margarida, quando o filme foi lançado, eu fui assistir e me emocionei muito. Eu lembrei da avó de um amigo meu que havia perdido um filho há muitos anos, eu indiquei pra eles assistirem, e depois a mãe do meu amigo me escreveu, falou que havia gostado muito. E dentro dessa concepção de que tenho do cinema enquanto um trabalho também político, eu fico pensando na importância de se conversar com mães que perderam filhos em situações de violência. E o que é diferente no Café é que você não sabe o porquê da morte do menino filho da Margarida, pois a questão não é trazer a discussão, mas sim, olhar pra essa mãe, a pessoa que fica. E pensando na realidade brasileira, é muito importante que exista esse tipo de filme, pois é um assunto que não há muita produção nesse viés poético, que dá aquele abraço e aquele conforto. E eu vejo o Café com Canela fazendo isso.
G — Muita gente sempre pergunta: “ah, mas vai ser um filme político?”. Claro né, todo filme é político, não é pra isso que a gente faz cinema? Essa esfera está dada, não tem como suprimir: olhe onde está sendo feito, quem estava fazendo, a forma como está fazendo, quem está sendo filmado…
L — Não é à toa que por si só o filme já é um marco: segundo filme dirigido por uma mulher negra a estar nas salas do cinema comercial. Isso é muito, mas ao mesmo tempo é importante dizer “gente, pera lá, não vamos também confirmar a regra”, é uma pessoa fazendo filmes…
G — Mas é muito bom pensar que é importante também poder ser uma história universal. É muito universal, mas voltamos também para nosso assunto sobre os signos: a pessoa pode até se tocar, mas se for você, você terá uma experiência que é de outro. Eu li o texto do O olhar opositivo (texto da escritora e intelectual negra estadunidense bell hooks) depois que já tínhamos cortes do filme e tal, mas na hora me caiu uma ficha muito grande quando li o texto e pensei na Margarida.
L — Uma coisa que a Rosane Borges no meu exame de qualificação chamou-me à atenção acerca da importância de mulheres negras fazerem filmes: “O porquê disso ser um marco? Por que isso é importante?”. E ela falou algo muito importante, que é você pensar o universal a partir de uma realidade à margem, digamos, de uma realidade específica, que não é hegemônica, nem tida como universal, que foi construída para não ser universal. Aí vejo como muito importante quando você fala de seu interesse em poder fazer uma história que alcance as pessoas, pois é isso, se colocar no mundo como um ser completo e inteiro, como uma pessoa.
G – É exatamente isso. Veja como é muito doido: os dilemas de uma mãe, as dores de uma mãe, são dores de uma mãe, agora o fato de ser uma mulher negra faz com que o filme tenha um “boom”, do tipo “caramba, talvez eu nunca tenha parado pra pensar na dor de uma mãe, nunca tenha visto a dor”, e visto como poesia, visto para além de chacina, para além de notícias, visto como poder olhar. E aqui estou falando da visão de uma classe que não tem acesso e tampouco hábito de ir ao cinema e que consome muita televisão. Por exemplo, meus pais são esse público. Ver o filme e se enxergar enquanto negritude, poder se ver na tela é algo muito importante. Uma coisa muito bonita é o começo do filme em que aparece o vídeo do personagem Paulinho na festa, muitas pessoas que viram o filme vieram nos falar “nossa, eu nunca tinha visto imagens em videocassetes de festas: aniversários, aniversários de crianças negras, e recordar que eles próprios não tinham esses registros em suas famílias”. Eu acho que isso é um processo de perceber o que você não tem, e o filme deixa isso muito explícito, de você poder olhar isso, esses aspectos relacionados à memória, à história, ao afeto, da possibilidade de existir. O filme revela muito isso, não somente enquanto cinema, mas enquanto vida: de se projetar e poder contar histórias. No Café era muito importante que tocasse nas pessoas, que o público saísse abraçado, acho que o Café é isso: um abraço. E o mundo foi tão generoso no tocante à produção do Café que todo mundo que vê o filme gosta. Por exemplo, dona Dalva, que faz a avó, é sambadeira lá de Cachoeira, é doutora do samba em Cachoeira, e participou com a gente do filme. E é isso, a cidade de Cachoeira está toda na tela, aí as pessoas veem e ficam assim “olha só dona Dalva na tela, olha fulano, olha ciclano…”. É um filme que traz a memória, seja em seu sentido de negrura, como também memória como microcosmo. Que é negrura também e só existe por isso. Isso é muito gratificante.

L — Acho que há muito mais coisa pra gente discutir sobre o filme, mas muitas coisas foram ditas. Tem mais alguma coisa que você queira falar?
G — Eu quero também parabenizar você, Lygia, pois esse trabalho que você está fazendo é muito importante, eu fico muito feliz. Pois a história é toda assim, é muito doido esse lugar de “primeiro”, de “segundo” (isto é, por ser a primeira ou segunda cineasta negra a produzir um filme para os cinemas comerciais no Brasil), me incomoda muito. Em algum momento as pessoas falavam muito isso pra mim como se fosse uma coisa boa, e eu sempre fiquei muito constrangida, e também constrangida por estar constrangida, sabe aquele sentimento de “constrangida pelas coisas terem dado certo”? E não era isso, pois acredito que as coisas estejam acontecendo há muito tempo.
L — Eu tenho pensado muito que a exceção confirma a regra, então não podemos pensar a partir dessa chave, pois é falar que a estrutura irá se manter igual, e isso é muito meritocrático. Ao mesmo tempo que é um fato, algo revolucionário, pois há dez anos atrás não tínhamos esse número tão grande de mulheres negras fazendo filmes, e isso diz muito dos deslocamentos e lugares sociais, de acesso, de novas trajetórias de mulheres negras. Reforçando sempre que nós nunca chegamos sozinhas a lugar nenhum, é todo um conjunto de pessoas que vem atrás da gente.
G — Nesse sentido é muito importante o trabalho que você está fazendo, pois é o trabalho que irá possibilitar o não apagamento por mais uma vez, por mais um milênio. E talvez no próximo milênio possamos ter uma história catalogada. Acho que isso é pensar que tudo que a gente faz é muito preciso, pois nós não temos essa coisa de gastar à toa, nós temos uma meta, e sempre tentamos cumprir a meta. Então sempre estamos pensando em desdobramentos: um exemplo, quando eu estava fazendo meu TCC (Trabalho de Conclusão de Curso), cujo tema foi a direção de arte do Café e o TCC do Ary foi a direção de som do Café, pois nós estávamos fazendo o filme, estávamos vivendo aquilo naquele momento e dali saíam muitas coisas. Por isso acredito que temos que pensar também no modo como podemos transformar nossas produções em produto e impulsionar.
L — Isso mesmo. E eu estou muito em um momento de muita energia, de fazer acontecer, quero fazer uma coisa, vou trabalhar nisso até ela ficar pronta. E é muito doido, mas você contando suas histórias, eu me identifico com muita coisa, pois várias coisas se repetem. Por exemplo, vou fazer faculdade, então só vai, caminhe em direção a isso.
G — É muito instintivo, porque esse ambiente de fazer universidade, fazer cinema, eu me encontrava muito sozinha nesse lugar, não tinha muitas referências, com quem falar…
L — Ainda fazendo cinema, quem faz cinema? Por exemplo, a minha avó, ela morreu esse ano, e antes de seu falecimento, na última vez que a vi, ela me perguntou se eu iria ser atriz quando terminasse o mestrado e eu respondi: “Não, vó, eu estou fazendo uma pesquisa”. Mas ela entendeu que eu iria ser uma grande atriz de televisão.
G — Comigo ocorrem perguntas assim: “Quando é que seus filmes passarão na Globo? Não vou te assistir em nenhuma novela?”. É esse lugar, um lugar muito complexo, muito novo pra gente também, enquanto que para outras pessoas parece ser um lugar natural…
L — Eu achei muito sintomático na entrevista que você participou na Mostra (Encontro de Cinema Negro Zózimo Bulbul de 2019) ontem, quando você disse que não se considerava cineasta, e eu entendo a sua preocupação, porque é um termo que carrega um estrelismo desnecessário. Mas ao mesmo tempo, você é cineasta!
G — Eu sou do ofício, e pra mim a palavra “ofício” não combina com a palavra “cineasta”.
L — Mas é que quando você me fala desse cinema artesanal, isso até me emociona, pois pra mim é isso: um fazer muito pessoal, uma coisa muito poética, muito sua, individual. Mas a ideia relacionada ao termo “cineasta” se transformou numa coisa muito distante, chata, que te afasta das pessoas.
G — É isso. Pois pra mim quem é cineasta? É uma galera que faz cinema em um tempo que se podia usar o termo cineasta, pois ainda se vendia o termo. Pra mim, lembro que ontem quando eu falei, até algumas pessoas viram com maus olhos, acreditando ser baixa autoestima de minha parte, e não é por isso, é só porque eu acredito que a palavra seja feia. Eu prefiro o termo “realizadora”, pois eu realizo, eu acordo cedo, vou na xérox, coloco as coisas do filme no correio, preencho o formulário, peço a carta de anuência, e pra mim cineasta não traz essa esfera da realização. Já a palavra realizadora, sim: isto é, uma pessoa que realiza a pré-produção, a produção, o filme.
L — Entendi. Porque você traz uma reflexão sobre o termo e o exemplo destes diretores e artistas que têm uma dificuldade de entender a produção como algo material: por exemplo, alguém precisa beber água, então temos que providenciar água, mas quem vai comprar essa água? Uma coisa simples, mas às vezes a pessoa que está na direção, isto é, o cineasta, está nesse lugar de que não pode fazer isso, não pode recolher o lixo.
G — Nesse sentido eu sou muito agoniada, pois eu sou uma pessoa que gosta de fazer as coisas. Aí tem várias coisas que faço, talvez eu deva ser uma péssima diretora para minha assistente de direção (risos…). Porque ainda mais trabalhando com a direção de arte, tenho acesso a problemas e tenho que filtrar um pouco e o Café ensinou muito isso. Pois também há esse lugar de querer resolver o mundo todo, aí é muita gente trazendo problemas, e muita gente é muito “mimimi”, embora sejam meus amigos, deve-se ter uma filtragem, mas muitas vezes eu não consigo e vou lá fazer.
L — Mas aí entra-se em uma outra lógica, pois tem pessoas, de um certo grupo, que estão acomodadas, acostumadas em serem servidas. As pessoas que fazem cinema com dinheiro, que vêm destas trajetórias que já conheciam o cinema, que era algo possível, essa classe média carrega muito isso, eles não têm a capacidade de colocar seu prato na pia e lavá-lo, pois uma outra pessoa irá lavar. E dentro do fazer cinematográfico: que é desde acordar e resolver problemas, ir na xérox e tal, tem gente que não tem essa cultura. Aí ficam perdidos, das coisas saírem do lugar e eles ficarem perdidos sem saber o que fazer, não saber limpar uma geladeira, enfim, essas coisas… Mas, muito obrigada pela entrevista, foi tudo muito bom! Eu sou muito fã do Café com Canela, sou uma grande entusiasta…
G — Percebi, pois só falamos do Café, o Ilha ficará com ciúmes… (risos)
LUNA MARÁN E O TROVADOR ZAPOTECA DE OAXACA
“Por dez anos eu me convenci que cantar é juntar forças ao meu povo. Ser trovador não é só tocar violão e cantar canções. Ser trovador também é conquistar, é persuadir, é ensinar. A canção começa assim: Tenho medo de voltar ao meu povo e encontrar os bosques desertos/ Tenho medo de voltar ao meu povo e encontrar os meus avós mortos/ Tenho medo de voltar ao meu povo e não encontrar o sorriso dos meus irmãos.”
Trecho inicial do filme Tio Yim, cujo contexto é uma apresentação musical de Jaime Martínez
Embalado por músicas que soam como preces, chamados para um senso de coletividade e apego afetuoso a uma terra, a um povo, o documentário Tio Yim (2019), da diretora Luna Marán, nos conduz a conhecer a história do seu pai, Jaime Martínez, e Marán faz essa imersão em primeira pessoa mergulhando no seu seio familiar.
O filme é quase todo rodado dentro de casa com a presença de Magdalena, a mãe, os respectivos irmãos e tem muita calorosidade nas relações postas. O intrigante é que mesmo nesse contexto de intimidade, a diretora preserva uma certa solenidade na forma como conduz as entrevistas e surpreende pelo tom confessional de todos, que aparentam estar muito mexidos, pois falar sobre o pai é falar do povo zapoteca.
COMUNALIDADE
Marán aborda no filme como o pai, junto a Floriberto Diaz, foi o criador do conceito de comunalidade, que em breves palavras se traduz em dar voz ao coletivo. No caso da comunidade de Jaime, entender as assembleias zapotecas como o caminho ideal para se pensar naquela sociedade — sempre procurando valorizar a agricultura e proteger o povo das explorações das grandes empresas e dos empreendimentos que tentavam adentrar no território.
Jaime também acreditava nas canções enquanto uma linguagem potente de espraiamento das políticas construídas em coletivo, inclusive para dialogar com as crianças. Em imagens de arquivo vemos Jaime compondo canções em parceria com um grupo de meninos e meninas em uma praça.
Diante de tantas memórias preciosas e um histórico de atuação política tão forte seria muito fácil sucumbir a uma mera homenagem, mas Luna consegue ao longo de todo o filme criar pontos de tensionamento e oscilar entre esses polos, sem que em nenhum momento se deslegitime a trajetória paterna.

Uma potente provocação do irmão de Luna trazida na obra é dizer que, por conta da maneira como a casa do trovador foi arquitetada, ela não oferecia privacidade, “pois os pais eram hippies, diziam que a privacidade criaria a individualidade, e consequentemente, destruiria a comunidade”. Ao perguntar à Marán se estaria sendo gravado quando começa a falar, ele não aparenta se abalar e não titubeia em afirmar isso com um tom atiçador. Assim como os demais familiares de Marán, o irmão não teme colocar nada em cheque, tudo naquele círculo está constantemente posto ao debate, assim como nas assembleias zapotecas.
AS MULHERES DE OAXACA
Tio Yim, realizado em um período de 7 anos por uma mulher, possui esta camada do gênero como definidora na condução narrativa. Apesar do nome do filme fazer uma menção centralizante em torno do seu pai; Marán, sua irmã e sua mãe protagonizam afrontes que atinam a lembrar que para além de um trabalho conduzido por uma mulher, trata-se de uma obra que as colocam no epicentro ativo e transformador daquela história.
O filme orquestra uma clara exaltação a toda história de luta do pai, mas em uma cena na qual a irmã fala da sua infância e da respectiva ausência de Martinéz nesse período, há uma clara proposta de um tipo de “acerto de contas” por parte da diretora. Com a câmera ligada, as duas irmãs questionam o pai: “Como ele se sentia em relação a isso?” Martinez de forma muito direta fala sobre o desejo da maternidade atribuindo-o unicamente à mãe, dando a entender que ela deveria “bastar” para as meninas naquela época.
Apesar de uma grande aproximação e uma clara relação de muito carinho entre o pai e as filhas nessa vida adulta, uma fala como essa não as parece chocar, mas gera um desconforto que não se desilinha com tanta facilidade. A escritora chicana Glória Anzaldúa traz grandes contribuições para a construção de um feminismo que provoca ao tensionar o lugar da tradição associado ao patriarcalismo e me faz lembrar da obra de Marán:
“Na visão de Anzaldúa, a nova mestiça recusa o conforto simulado de mecanismos arbitrários de resolução e dissolução de conflitos, sustentado pela ilusão modernista de temporalidade linear e, portanto, de uma fronteira intransponível entre tradição e modernidade. Se consideramos tal recusa como uma intervenção histórica, torna-se claramente inconsistente a crítica segundo a qual a teorização de Anzaldúa sobre a nova mestiça implica um hibridismo que dissolve diferenças, transpõe contingências históricas ou idealiza o período pré-Colombiano, desproblematizando seu legado histórico patriarcal.” 1

Magdalena, a mãe de Marán, é outra personagem que nos brinda com sua presença poderosa e também estremece levemente as estruturas do documentário, distanciando a obra de Marán de um pacífico filme familiar em primeira pessoa. Magdalena casou-se com o Martinéz e sua relação com a identidade indígena é abordada no filme. Sobre sua trajetória de vida (passadas três décadas de ativismo à frente da criação de programas de TV e de rádio pautando a comunidade), Magdalena diz que apesar do próprio marido levantar questões acerca de sua racialização, ela se autoidentifica “híbrida”.
As costuras narrativas da obra também são criadas em parceria entre a Magdalena e Luna, que aparecem em cena em diversos momentos do filme refletindo o discurso proposto e questionando alguns posicionamentos de Martinéz — como quando ele fala de forma apaixonada que o mezcal2 foi a grande inspiração da sua vida.
CINEMA ZAPOTECA E MIRADA AL FUTURO
Marán também dedica uma parte do documentário a falar sobre o alcoolismo do pai e as memórias acerca dos amigos que ele perdeu para o mezcal. Magdalena atribui ao vício esse capítulo de vida recente cuja atuação ativista do marido estava mais arrefecida, mas todos parecem olhar para frente com otimismo. Apesar de não serem abordados no filme, a própria Marán possui diversos projetos em desenvolvimento com a comunidade — dentre eles, projetos de formação audiovisual e cineclubismo. Elas também mencionam uma rádio que ainda permanece em funcionamento, mas em busca de apoio financeiro.
A tessitura da obra com imagens daquela família que atravessam o tempo, todas elas captadas pelos olhos de Marán (somadas às imagens de arquivo) trazem uma sensação de conhecê-los, de proximidade, de intimidade. Mas muito além da intimidade para com aqueles personagens, o filme fala sobre uma forma de pensar, um modo de viver, um caminho de praticar resistência, de educar. Mas e Marán? Onde ela está ali? Mais à espreita, tentando mirar com seus movimentos de câmera o que vem adiante. Buscando a melhor forma de olhar para frente expondo as fraturas e vicissitudes dessa família, eternizando o legado do pai e sobretudo, olhando nos olhos das suas.
As músicas na obra de Marán compõem uma paisagem sonora que de forma peculiar trata da história daquela família e daqueles personagens cujas contradições são sutilmente desveladas, e vão nos levando a um pico de emoções quando Marán aparece bastante relaxada em frente à câmera em um dos momentos mais tocantes do filme. Marán canta uma música do seu pai com os irmãos, todos amolecidos por uns tragos de maconha e em seguida somos surpreendidos pela cena de Jaime pegando o violão e reaprendendo a tocar uma canção de sua autoria.

No momento da publicação do artigo, o filme Tio Yim estava disponível no primeiro festival online de documentários promovido pela BBC, o LongShots.
DOZE GATAS COM UMA CÂMERA
Quem, por acidente ou destino eleito, topar com algum dos vídeos do canal de Faela Maya na internet e assistir até o fim, corre o risco de sair da sessão com uma inquietação grave nas ideias. A sagacidade dos diálogos, as artimanhas de montagem, a atmosfera do fazer coletivo, o barraco, a fofoca, o galinheiro e a capacidade de te fazer se perder de tanto rir saltam aos olhos de qualquer espectadora que já andava habituada a esse ou aquele modo de fazer cinema, televisão ou vídeo.
Trata-se de uma vizinhança em Jaguaribe, município cearense, que tem reenviado para o resto do país a escrevivência3 cinematográfica produzida por cerca de uma dúzia de mulheres em torno da câmera, do desafio interpretativo e da ilha de edição. Filmes feitos à mão, e à tesoura do corte e das línguas. Hoje, sintonizaremos com os vídeos que compõem a playlist Humor made in interior, composta por filmes de duração em torno de oito minutos, relativamente independentes entre si, nos quais as atrizes se alternam em personagens (uma hora são mães, noutra hora filhas, irmãs ou intrigadas umas das outras) que articulam a cada episódio novos enredos. Filmes feitos como críticas – sociais e cinematográficas –, como paredes das quais o reboco está caindo, como um choque de monstro entre gatas ouriçadas, como o espinho das plantas na caatinga, que nem um violino acelerado numa sinfonia de música clássica ou um jeito sutil de desatar o nó do riso até que custe para quem assiste amarrar a cara novamente.

“A Unesco precisa tombar a instituição do barraco no subúrbio”
Um certo motivo não cessa de reaparecer nas tramas e confissões: te desafiei. Se ao nos filiar a uma perspectiva feminista de leitura cultural, percebemos e confrontamos as modalidades de competitividade entre mulheres que são estimuladas entre nós por meio também de meios audiovisuais, as interações em Faela Maya perturbam um pouco mais a paz dessa questão. O deboche e a implosão nas falas umas das outras, a rivalidade constante nos olhos e expressões faciais, o enredo em busca da intriga e do veneno que escorre à boca, são elementos que, driblando expectativas prontas, mais as conectam, pois viabilizam a criação, do que as separam. Elas andam a fim de uma briga que atiçará a outra corpa a chegar cada vez mais pertinho.

Em meio a esse pantim, a inserção do fazer-filme desorganiza as posições dadas. A construção de personagens empurra cada uma a direcionar não só o corpo da outra, mas o próprio corpo à zombaria; a montagem retrabalha a ironia com seus próprios recursos – como a sinfonia clássica sempre interrompida abruptamente e as legendas para a personagem de Maria que não estão lá só para cumprir sua função original de tradução, mas para fazer um segundo comentário, participar da brincadeira. Um grau de sincronia entre elas se acentua de filme a filme, em torno da troça, atingindo o ponto em que os vídeos soam como se fossem gravados em roda, mesmo quando se passam em ambientes diferentes. Como é o caso de O CONTO DA PIDONA, crônica que está a toda hora lançando sua harmonia cênica para a espectadora pegar. Cortes sonoros às vezes se dão antes que as falas terminem, as ideias se emendam. Se o plano continua, a câmera gira entre elas numa desenvoltura fina. Um bate-bola que já se tornou tão afiado que assistimos uma tocando pra outra, que toca pra música, que toca pra narração, que toca pra montagem a todo instante de modo que o jogo não cesse.
Repare que a excelência desse jogo não se confunde com um primor da transparência ou da verossimilhança. As gatas perseguem também uma espécie de desnaturalização do próprio gesto, nas interpretações sem entonação, ou com entonação excessiva e na interação com objetos que se tornam outra coisa. Dessa desnaturalização, que o deboche torna forma de fazer-filme, advém um vetor crítico e estilístico que recoloca em perspectiva tudo com o que brinca.

Assim, o cotidiano delas se reflete nas obras sempre de maneira retorcida, seja pela verve criativa que mobiliza o encontro, seja pela relação com os veículos de disseminação do seu material. Um leva e traz que se expressa nas interações do público nas plataformas digitais onde os vídeos estão hospedados e nos moldes televisivos e cinematográficos que elas incorporam. Dialogando com a fome dos espectadores por maneiras específicas, e ocasionalmente degradantes, de imaginar a pobreza ou a feminilidade, às vezes cedendo, mas constantemente se esquivando. Por horas, subvertendo o próprio ímpeto formal, como ocorre na sátira com o registro documental em EDUCAÇÃO.doc. Numa linha tênue em que as formas — vividas e encenadas — são estranhadas ao mesmo passo em que reproduzidas.
“Eu não sei vocês, mas pra mim, a pessoa que fala veementemente mente”
A sofisticação da linguagem se mostra um baita artifício na lida delas. De vez em quando alguém questiona a sinceridade no rebuscamento por meio de falas como “uma caloteira que se preze, fala difícil para esconder as dívidas”, ao mesmo tempo, o vocabulário intricado é constantemente reempregado pelas mesmas figuras que o chacoteiam. Ouvimos um manejo das palavras que se mostra ao hábil em trabalhar a mediação e desconfiadíssima da sua razão de existência.
Algo semelhante ocorre com as gramáticas audiovisuais postas em cheque pelos filmes. A consciência dos formatos da novela, dos jornais televisivos, do cinema clássico narrativo, de uns programas humorísticos que forçam um sotaque nordestino no YouTube é sampleada à medida que a ironia os corrói. Se a novela ainda preza pela transparência, por uma dose de verossimilhança e espelhamento com a vida, as produções em Faela descascam o que está dado, borram uma certa capa do visível. Ou você achou que já tinha entendido?

A ciência popular que no sertão se recriou pelos acordes da ironia, que aprendeu a digerir os colonos para melhor caçoá-los, se embrenha em cada fresta dos filmes de Faela. Quando retratam a figura do pobre que almeja ser rico, percebe-se uma comunhão tecida entre aquelas que encenam, apontando que talvez, está melhor acompanhada não quem tem lucro, mas quem faz-se rir. Às margens do rio Jaguaribe, nas proximidades de Icó, umas mulheres fazem cinema para forjar histórias. Ao passo em que aplicativos digitais são apontados como moduladores das subjetividades de quem os usa, temos com as gatas de Faela, no lugar onde a Uber nem chegou, os loteamentos das corporações digitais sendo ocupados para dar continuidade à tradição tão antiga quanto e mais fresca que o vento: rir de todo mestre que nunca riu de si mesmo.

Referências
EVARISTO, Conceição. Ponciá Vicêncio. Belo Horizonte: ed. Mazza, 2003. 128 p.
UMA MEMÓRIA POÉTICA NA CARNE
Uma distância próxima de mim
Escrever e, por que não, analisar meu próprio ensaio cinematográfico não é uma tarefa fácil. Sobretudo se penso que juntamente a esta análise deva vir uma imagem de quem sou e de onde vivo impressas em minhas curtas peças de espaço-tempo que, creio, descrevem minha existência nessa comunicação entre ‘ausentes’ – tenho muito que pensar sobre o ruído imanente entre eu e outras realidades de vida com as quais interajo quando mostro meus filmes. Se é com palavras que necessito me expressar nesse momento, tentarei divagar sobre as intimidades, sejam conceituais ou práticas, de parte de minha relação poética-existencial com esse cinema.
Aqui pretendo primeiro recompor imagens de mim e das referências que trago comigo – adquiridas em todas as experiências estéticas e de afeto que marcam continuamente minha memória e identidade cultural. Citarei também uma das minhas experiências em intervir no dispositivo cinematográfico, a partir das problematizações que essas mesmas referências trazem e que afetam diretamente a existência do meu corpo em consonância com o corpo coletivo – do qual eu sou agente ativo e objeto direto. Penso que aqui e agora para tratar com as palavras, necessito organizá-las como se me orientasse diante da câmera, que capta uma ação em sua essência mínima.
É a partir desse ‘eu’ que escreve, e do ‘eu’ que realiza cinematograficamente, que me arrisco em palavras no que se refere a esta síntese de mim: eu, mulher, negra, brasileira, nascida e criada numa periferia do nordeste brasileiro.
Construção material de imagens abstratas
Definirei, por agora, o cinema que produzo como um cinema de ensaio e autoral, em que o social ao meu entorno se mostra através dos universos e códigos simbólicos com os quais eu interajo: pessoas e conteúdos – que posteriormente passam pelo filtro de minha interpretação pessoal aliada a expressão de uma forma plástica marcada.
Tenho apreço por produzir imagens que conduzam a uma narrativa simbólica, encham os olhos do espectador e falem por si, somada a necessidade de criar um espaço de diálogo com os sujeitos que estão diante de mim – pretendendo que esses sujeitos se convertam em colaboradores na construção dessa representação, sendo posteriormente cúmplices de minha interpretação sobre seus próprios universos particulares.
Procuro retratar a população afrodescendente de forma intimista, buscando enquadramentos que favoreçam sua expressividade, deixando transbordar sua humanidade, muitas vezes tão fragmentada quanto perdida – não com o intuito de representá-lo, mas de manter, junto ao outro, uma relação de identificação e cumplicidade. Busco “personagens” e conteúdos que estão ao meu redor – eles representam minha própria existência e fazem parte da busca de minha própria identidade. Trata-se de uma ajuda mútua.

Uma memória poética na carne
Quando percebi o potencial da realização cinematográfica – em sua qualidade de produto cultural capaz de expressar profundas subjetividades humanas; e na mesma medida, quando tive a oportunidade de ampliar minha relação prática com o cinema, voltei primeiramente minha atenção aos problemas do lugar onde vivo e a minha condição existencial de “ser” nesse espaço, juntamente com outros sujeitos que de maneira direta ou indireta também contribuem para manter o brilho e os mistérios desse mesmo lugar.
Penso que meu bairro seria um lugar como outro qualquer, não fosse pelas pessoas que ali vivem, que fazem com que tudo ali seja amplamente singular. Seria um bairro como tantos outros, com os já conhecidos problemas de infraestrutura, cuja população está nas mãos do esgotado sistema de gestão pública dos recursos coletivos, para não falar de problemas de outras ordens. Sempre me senti composta dessas poéticas ao mesmo tempo em que sou também o resultado dessas problemáticas. Minha comunidade é considerada por importantes organizações institucionais como o segundo maior agrupamento urbano remanescente de quilombos no Brasil.
Ao observar a comunidade em sua vida cotidiana optei em colocar o afrodescendente como protagonista e tema principal do filme CAIXA D’ÁGUA: QUI-LOMBO É ESSE? (2013), realçando sua relevância histórica e sua capacidade de superar os problemas que historicamente o afetam. A motivação foi fazer uma homenagem à história dos descendentes de escravos que vivem em dos bairros mais tradicionais da cidade de Aracaju, capital do estado de Sergipe. Essa foi a minha primeira experiência cinematográfica, que abriu os horizontes subjetivos que estavam adormecidos dentro de mim. A partir dessa experiência, confesso: a minha concepção de mundo nunca voltou a ser a mesma.
Quando a ausência se torna presença
A luta pela valorização da imagem do negro a que me refiro nesse filme vem do reconhecimento dessas pessoas como seres com humanidade, cidadãos plenos, mesmo que suas histórias reflitam a violência da diáspora. A ideia foi mostrar à superação de seus conflitos, a beleza, a humanidade, a singularidade, a individualidade e a coletividade em toda essa poesia. A perspectiva que permeou todo o processo de filmagem foi fugir do “pornô miséria” cravado em inúmeros filmes etnográficos do passado, nas páginas policiais dos noticiários televisivos diários, nos livros didáticos institucionalizados e reducionistas e da publicidade desenfreadamente racista.
De natureza híbrida, o curta destaca a oralidade, recurso onde as vozes em off levam o tom da narrativa, agregando a essas imagens poéticas cenas de um ex-escravo chegando à cidade e resistindo em meio da urbanização desenfreada do comércio financiado pelo homem branco, seu antigo “dono”. Na pesquisa feita para o projeto do filme, me impressionou a falta de registro oficial sobre essa comunidade, como se ela não existisse há mais de 100 anos, fazendo a riqueza da região através do trabalho escravo nas grandes plantações de cana-de-açúcar em épocas coloniais; e posteriormente ao fim da escravatura, trabalhando nas novas formas de exploração modernas, como a limpeza das ruas, os trabalhos nas fábricas e nos trabalhos domésticos informais nas grandes mansões da cidade grande.
Em 100 anos, as fontes oficiais se esqueceram da população, e as pessoas esqueceram delas mesmos. A premissa era de fazer do filme um espaço em que os sobreviventes dessa história in memoriam pudessem retomar essa mesma fragmentada história, mas agora com poder e autonomia da fala.
A iconografia da fragmentação
O nome do filme CAIXA D’ÁGUA: QUI-LOMBO É ESSE? é a união entre o nome da comunidade Caixa D’Água mais a separação do nome Quilombo para acentuar a palavra Lombo, para fazer uma referência à carne e à pele castigada desses povos. No final do título existe uma interrogação, com o intuito de incitar todos os entes que compõem essa comunicação – os próprios moradores, os espectadores e o realizador – a responderem juntos essa pergunta, ou a partir dela buscar uma resposta ou uma significação.
A intento era construir um documentário através da reconstituição oral de fatos históricos reais e descrições das características físicas do bairro em épocas passadas que ainda estão frescos na memória coletiva dos moradores que vivem nesse agrupamento – todos eles descendentes diretos de escravos homenageados. Foram coletadas 55 entrevistas com moradores de idade entre 60 e 100 anos. Por cima, para ilustrar as vozes, imagens de seus próprios ambientes familiares e dos principais espaços da comunidade para compor o cenário do filme.
Nesses mesmos corpos e espaços foram projetados todos os arquivos públicos e particulares da pesquisa com intenção de mostrar que a história oficial invisibilizou sua importância histórica e sua própria presença física, suprimindo-a por entre construções modernas e da marginalização de suas práticas culturais. A partir dessa interação oral, há um processo de reconstituição da primeira ocupação desse espaço, feita por um ator (morador da própria comunidade) interpretando o suposto morador fundador desse quilombo – mescladas com as imagens dos depoentes (descendentes) vivos.
Algumas imagens fragmentadas servem como signos ilustrativos da concepção de oralidade: o vento que leva a areia, representando o tempo que leva a memória; o sol, simbolizando o fardo do trabalho; o morro, significando as inviabilidades sociais que fazem com que a vida da comunidade não mude até hoje; e o arame farpado, simbolizando as correntes de ferro pelas quais os negros eram amarados e torturados.
Esses símbolos estão presentes o filme de diversas maneiras: de forma abstrata, formando a linha do tempo em que a narrativa se desenvolve; simbolicamente, cortando as caras dos moradores quando falam de seus sofrimentos; compostos no cenário físico da comunidade, sendo o arame um objeto utilizado para pendurar as roupas nos quintais compartilhados; embolados arriba do teto, próximos de caixas d’água, simbolizando o encontro das falas, das vidas e da própria memória coletiva do lugar.
O início do filme tenta revelar a banalização da violência colonial e a desumanização da figura dos escravos, procurados como animais soltos na selva – através de antigos anúncios que descrevem suas fugas. Esses anúncios mostram de forma absurda as características físicas dos negros, como um escravo da nação Angola com “pernas finas, olhos arregalados, falta os dentes da frente”, ou a Suzzana “feia” de “lábios grandes”. Porém, os anúncios também mostram que essa população, mesmo em condição de prisão, nunca deixou de almejar por sua liberdade.
No filme, um negro trabalha a terra debaixo sol. De súbito, escuta um chamado. É a dita “liberdade” proclamada pela República de 1888. Começa então a busca de uma nova vida, agora como ser humano livre. Outros escravos e famílias também estão à procura dessa mesma condição de vida e, desses encontros, surgirão os novos tipos de agrupamentos urbanos, que se propagarão por todo o país, os chamados quilombos urbanos. Esse tema é o núcleo de toda a narrativa do filme e, em torno disso, outros temas vão surgindo, formando a rede de informações que mostra tanto o sentido poético quanto o social nessas narrativas.
A escolha da câmera analógica Super 8 como recurso estético e narrativo, e da fotografia em preto e branco faz com que viajemos no tempo para adentrar a reconstituição do passado desses relatos históricos. Já o Super 8 em cor nos insere no universo das imagens mais recentes de infâncias dos moradores, com suas cores lavadas e sua atmosfera familiar.
Por meio da utilização do dispositivo digital preto e branco adentramos na ilustração ficcional do personagem central no passado, como se estivesse acontecendo agora mesmo e em contraste o mesmo dispositivo em cor para a imagem real dos moradores depondo, como um recurso estético que, acredito, ajuda-nos a situar cada fragmento da história dentro de uma cronologia.
Busco transmitir os núcleos temporais de cada conteúdo em uma desordem fragmentada, harmonizada através da forma, das cores e da posição de cada parte dentro do todo narrativo decrescente, que parte de informações gerais de um povo e lugar, e chega a histórias particulares e familiares de cada depoente. Há a legitimação daquele espaço em sua importância histórica, econômica e cultural, como fruto da autorreflexão, da corporeidade afetiva e discurso homogêneo dos que falam.
Os relatos – com vozes simultâneas dos “personagens” – são fragmentados e novamente reunidos de forma com que todas as vozes convirjam para contar esse mesmo relato, uma complementando a frase da outra. O filme tenta resolver a conjunção entre uma linguagem poética e, ao mesmo tempo, a preocupação com a oralidade dos depoentes, com algumas soluções estilísticas, como exemplo: um desenho durante a narração da fundação espontânea de um cemitério infantil e sobre o qual não existem imagens reais, apenas relatos vagos. Esse mesmo desenho desaparece com o vento (tempo/memória), visto que os próprios moradores se contradizem sobre sua suposta existência. Algumas imagens de acervos públicos oficiais se contrapõem aos relatos dos moradores, pondo em dúvida a história oficial.
Um dos momentos mais íntimos e emocionantes do filme é a entrevista do cantor Irmão, in memoriam, concedida ao programa local de TV Aperipê em Memória (1991). Nas imagens de arquivo, depois de una breve fala, ele entoa uma canção que fez em homenagem a comunidade, intitulada “Só o povo”, que assinala o seu sofrimento e o sintetiza dizendo que “o povo é o problema, em vez de ser a gema de do sistema” ou seja, o centro do governo. Ao final ele entoa o neologismo “sofreviventes”, para referir-se aos moradores quilombolas. Esse artista independente, morador da própria comunidade, já tinha o conhecimento da importância da região, antes mesmo das instituições oficiais legitimarem esse espaço como Patrimônio Nacional. Ao final, os moradores, cada um em seu momento íntimo com a câmera que segue e indaga, olham para ela profundamente, proferindo com seus corpos um discurso de legitimidade de sua identidade cultural, e do orgulho de sua afrodescendência e história.
Por fim, o personagem principal abre os braços sentindo o vento que passa por seu corpo, enquanto grandes edifícios compõem o cenário ao fundo – uma leitura moderna do que seria a resistência da presença dessa população nos espaços urbanos contemporâneos, que cada vez mais suprime a existência comum do povo quilombola, ainda não adaptado às mudanças progressistas de um mundo capitalista e racista.
O filme tem quinze minutos de imagens reunidas em busca de novo significado afetivo para a cidade, imanada da voz dos moradores mais antigos do lugar – uma música executada em tom harmonioso, que transcende a partir dos tambores dos pontos de candomblé e das orações que, dia a dia, levam os moradores a buscarem suas próprias redenções. O filme é a possibilidade que eu tive de homenagear meus ancestrais e minha comunidade. Pretendo transmitir para as novas gerações algo que para mim é importante. Como moradora e artista, não emprestei somente minha pesquisa, como também minha própria carne para o contorno dessa poesia. Várias imagens também foram projetadas em mim.
Sem mais palavras
Por fim, esse texto é antes de qualquer coisa, uma forma de rememorar os momentos em que vivi imersa nesse universo tão íntimo e simbólico, e de também fechar um ciclo de relação com esse filme, que já está em seu percurso de quase 6 anos de existência. Foi exibido em vários cantos do Brasil e fora dele, levando a história dessa comunidade – e de outras tantas que têm essa mesma história – para o mundo; e abrindo as portas para uma nova possibilidade de pensar o mundo e seguir buscando novas narrativas, a partir da ideia de respeito às minhas origens e da busca pela beleza simples e complexa dos corpos imersos nessa dura realidade.
Despeço-me agradecendo a todos que colaboraram para dar a magia necessária a esse filme. Estou feliz e creio que essa pequena semente possa contribuir para gerar bastantes frutos. Espero que todos possam colhê-los e saboreá-los. O filme é nosso! O filme é de todos!
CAIXA D’ÁGUA: QUI-LOMBO É ESSE? | Doc. 15 min/ Colorido- Aracaju/SE – 2013 – LIVRE.
O documentário relata, através de depoimentos de antigos moradores e de acervo fotográfico, a importância cultural e histórica do bairro considerado como o 2ª remanescente quilombola urbano do Brasil, localizado em Aracaju, capital de Sergipe.
Prêmios
- Melhor Filme (SERCINE/SE/2013).
- Melhor Filme (Festival Ibero-americano – CURTASE/2013).
- Prêmio Inventar com a Diferença (8ª Mostra de Direitos Humanos da América Latina/2013).
- Melhor Curta-metragem e Menção Honrosa no V Cachoeira DOC/2014).
- Melhor Direção, Melhor Filme e Melhor Direção de Fotografia no 9ª Encontro Nacional de Cinema (PI/2014).
- Melhor Direção de Fotografia (Cine Favela/GO/2014).
Mostras e festivais
- Convite para Abertura Festival Visões Periféricas/RJ (2013) e V Mostra Olhos Negros/RJ (2013).
- 7ª Encontro Internacional de Cinema Negro Brasil, África e Caribe / ZÓZIMO BULBUL – RJ (2014).
- Abertura Festival Internacional Brésil en Mouvements (Cinéma La Clef e l’Université Sorbonne, Paris (2014).
- 8° Festival de Cinema Curta Cabo Frio (2014).
- 3ª Bienal da Bahia – Museu do MAAN (2014).
- 8ª Festival da Mulher Afro-Latino-Americana e Caribenha – Latinidades (2015).
- Mostra Diretoras Negras Brasileiras – Brasília e Rio de Janeiro (2017).
- Mostra Empoderadas Mulheres Negras no Audiovisual. – SP (2017).
- Festival Internacional de Curtas de São Paulo – Kinoforum (2017), entre outros.
A PASSAGEM DO TEMPO COMO TEMA E EXPERIÊNCIA: MULHER DO PAI
Por muito tempo vi o tempo como uma espécie de inimigo, que me atingia maneira tão irreversível que meu desejo muitas vezes foi ter a capacidade fantástica de pará-lo, ou fazê-lo voltar. No entanto, nenhum desejo nesse sentido jamais foi ou será realizado. Custou-me até ver que o tempo não me atinge de maneira pessoal, não existe apenas para me embranquecer os cabelos.
Sou budista, e penso muito em um termo que para nós budistas é essencial para a compreensão do tempo como lei da natureza, na qual estamos mergulhados simplesmente porque vivemos: anicca. Impermanência, transitoriedade.
Esse aspecto da experiência humana independe de crença ou religião, e me parece o tema em “Mulher do Pai”, de Cristiane Oliveira. Após a morte da avó, a adolescente Nalu pergunta ao pai, Rubens, se eles continuarão a fabricar lã, a principal atividade da família até ali. Rubens, encostado à parede a uma distância “segura” da filha, diz que não, afinal ela não quer saber de tear. Implicitamente, não quer saber de seguir aquele movimento. Há uma ruptura, o tempo de Nalu é outro.
O verão que marca o início do filme traz consigo a novidade para a população de uma pequena cidade no extremo sul do Brasil. São os uruguaios na fronteira, a professora de artes, a descoberta da sexualidade de Nalu. Sucedem-se os fatos e também as estações. A mudança no filme, além de causa, é também tema e objetivo. O roteiro tem o mérito de não funcionar de maneira demasiado esquemática, com a personagem que passa por algo e daí “aprende” uma lição de maneira simplista.
Assistir a “Mulher do Pai” me trouxe àquelas questões deliciosas a respeito de estar em uma sala escura observando nossa tentativa coletiva de guardar, perseguir, ou “exorcizar o tempo”, como diria Bazin. Se tudo está circunscrito no passar das horas, de maneira irrevogável, o cinema parece estar ainda mais: está ele mesmo contido no tempo – o filme que dura duas horas –, ainda que busque contê-lo.
Também o cinema pode ter em si a contemplação de anicca, da transitoriedade. A experiência de crescimento e formação de Nalu não pode ser contida nem em um filme, nem no espaço de um ano delimitado diegeticamente por ele. O delicado desenvolvimento do relacionamento com o pai, no entanto, acontece nesse espaço apertado de alguns meses. A consciência interna do filme, de que o tempo passa sem pausa ou pena, causa a suspensão de certos momentos: a busca de Nalu pelo toque do pai, a amizade verdadeira de Rosário, o movimento terno/tenso de olhar para os sentimentos através da escultura com argila.
Os fragmentos desse percurso se tornam então preciosos, quando lhes dedicamos o olhar da impermanência. A trajetória de Nalu não é apenas deixar de se opor à força da mudança – seu pai se envolvendo com a professora, a escola que terminou –, é também se entregar a essa espécie de lei, aprender a navegar com ela, o que resulta num relato de maturação muito verdadeiro.
De maneira silenciosa, há também uma trajetória da liberação feminina possível naquele espaço/tempo. Rosário, a professora de artes para quem “os homens da vila são que nem os trens: só passam, nunca param”, acaba tornando-se a chave para a mudança de Nalu. É a única pessoa que a incentiva a viver para além dos homens: do pai que deveria cuidar, dos rapazes como o uruguaio ou os porto-alegrenses prometidos pela amiga de escola. De maneira um tanto realista, um tanto triste, Rosário substitui Nalu no cuidado ao homem que lhe poderia ser uma prisão. De maneira às vezes tão devagar que mal pode ser notada, a mudança para as mulheres faz-se muitas vezes às custas umas das outras.
A caminhada final de Nalu, com mochila nas costas, tem um pouco de “O céu de Suely”, um pouco de “Os incompreendidos”, é a partida rumo ao movimento puro e simples, um retrato da impossibilidade de manter-se onde está. Uma entrega da personagem à transitoriedade como lei da natureza, como dor e libertação.
