FILMES ME ENSINARAM A COMER
Filmes me ensinaram a sentir.
Depois de seis anos, voltei à terapia. Tenho descoberto muitas coisas sobre mim e minhas relações com as pessoas e o mundo, e algo que tem me voltado à mente com alguma frequência é esta frase: filmes me ensinaram a sentir.
No final de 2018, outra frase me perseguia, repetida como um mantra na minha cabeça: “eu quero voltar a ser gente, eu quero voltar a ser gente”. O que, sim, estava relacionado ao ritmo louco de produtividade que nos é exigido atualmente, transformando tudo que nós gostamos/fazemos/somos em algoritmos capazes de gerar lucro enquanto consumimos conteúdo que não parece nunca preencher nosso vazio existencial. Mas, para além dessa ideia de seres humanos como máquinas dentro de uma cadeia de produção interminável, me peguei pela primeira vez questionando essa impessoalidade no contexto familiar e como ela alimentou e foi alimentada pela relação com os meus pais.
Com um pai militar que viajava com frequência durante a minha infância e cuja carreira nos fez morar longe de tios e avós, uma mãe muito jovem e solitária que não pôde ter outros filhos, minha educação emocional – no que diz respeito à construção de relações de afeto em uma comunidade – foi esparsa. Não consigo me lembrar, na minha infância e adolescência, de momentos de rotina do dia-a-dia em que passasse junto com meu pai e minha mãe para conversar. Apesar de meus pais sempre terem sido muito carinhosos, nunca construímos uma troca de pensamentos e diálogo que nos permitisse conhecer uns aos outros de forma profunda.
Pode parecer uma associação inusitada, mas acho que isso se relaciona de alguma forma com o fato de nunca termos, como família, nos importado muito com comida. Não tínhamos o hábito de comer juntos, eu ia para a escola cedo, meu pai trabalhava o dia inteiro, e ninguém dava muita bola para o jantar. Minha mãe nunca gostou de cozinhar e meu pai sempre preferiu requentar a comida no microondas a sair e ter que esperar pela comida por mais de dez minutos. Comíamos cada um numa hora, e a comida nunca era particularmente especial.
Apesar disso, muitas das minhas lembranças com meus pais na infância e na adolescência estão relacionadas a comida, mesmo que comida ruim. Pipoca de microondas no final de semana enquanto meu pai assistia ao futebol; as raras vezes que minha mãe fazia lasanha e eu comia a massa de macarrão com a mão, queimando os dedos e a língua; sorvete e outras besteiras de madrugada com minha mãe enquanto meu pai dormia; visitas mensais ao supermercado com o meu pai, uma das únicas coisas que fazíamos juntos, mesmo depois que eu me tornei uma adolescente mal-humorada. Quase todo o resto da minha memória afetiva foi construída por filmes e livros que caíam nas minhas mãos.

Little Forest (2018)
Não é tão estranho que eu tenha compensado a deficiência na minha formação afetiva com as artes, especialmente a literatura e o cinema. Acredito também que, apesar das peculiaridades do meu histórico familiar, não seja incomum, dentro de uma sociedade ferozmente competitiva e cada vez mais focada no indivíduo, que as pessoas se sintam mais e mais desconectadas de suas comunidades e redes de apoio, com poucas oportunidades para amadurecer emocionalmente. Nossa obsessão até mesmo na política por heróis e vilões tem nos mostrado isso.
Não que todos os filmes e livros caiam na velha dicotomia de bem contra o mal, longe disso. Mas, querendo ou não, essas são histórias que ocupam maior espaço e acabam por povoar o imaginário coletivo com enorme força. Pessoalmente, tenho pouco interesse nesse tipo de narrativa, embora entenda o seu apelo, em especial quando se enxerga a arte como escapismo.
Nos últimos tempos, tenho voltado a pensar sobre isso, como consumimos arte, o que ela representa para nós. Acho curioso que o audiovisual tenha se transformado em mais um utensílio no grande arsenal do tal “self-care” (ou, pelo menos, a ideia propagada nas redes sociais do que é o self-care), como se assistir a seis horas seguidas de uma série para tirar nossa atenção do estado em que se encontra a nossa vida fosse de fato uma prática de auto-cuidado. Confunde-se distração com satisfação, consumo com prazer. Para mim, essas coisas não poderiam estar mais distantes. Tem ficado cada vez mais claro que o que eu procuro é transcendência.
No ano passado, ouvi um episódio no podcast The New Yorker Radio Hour em que o roteirista e diretor Paul Schrader fala sobre sua relação com religião e o cinema. Criado por uma família da Igreja Reformista Cristã calvinista, Schrader, conhecido por ter escrito filmes como Taxi Driver e Touro Indomável, viu seu primeiro filme aos 17 anos de idade. Ele relata que só foi pensar no cinema de forma mais profunda quando entrou em contato com os filmes de Ingmar Bergman e percebeu que eles traziam as mesmas discussões que ele ouvia na sala de aula da faculdade e na igreja. Foi quando percebeu que o cinema e a religião não eram incompatíveis. Alguns anos depois disso, morando em seu próprio carro, sem falar com ninguém por semanas, com uma úlcera no estômago, Schrader sentia algo crescer dentro dele que, se não extirpasse, iria devorá-lo: Travis Bickle, o taxista violento e deprimido de Taxi Driver. Schrader não escreveu o roteiro de Taxi Driver porque queria fazer um filme, mas porque queria exorcizar seu próprio demônio.
O título do episódio, Movies as religion, “filmes como religião”, ressoou em mim. Eu tenho uma história complicada com religiões, há alguns anos não frequento nenhuma igreja e hoje oscilo entre o ateísmo e o agnosticismo, mas não gosto da ideia de que não haja nenhum tipo de magia no mundo.
Este ano, de volta à terapia, ao tentar explicar a alienação eu sentia e a conexão que buscava, eu voltava ao cinema de novo e de novo como uma pessoa religiosa voltaria a passagens do seu livro sagrado. Ao mesmo tempo, estava lidando com a crise da moda dos millenials: a síndrome do burnout. O segundo semestre de 2018 foi repleto de trabalho (parte dele remunerado, outra não) e desgaste emocional (cortesia, dentre outras coisas, das eleições) que acabaram por debilitar muito o meu sono e gerar uma série de crises de ansiedade.
Parte disso estava ligado ao fato de que muito do meu trabalho era feito online ou de forma muito desestruturada. Isso além de fazer trabalho “artístico” e “que eu amo”, o que dificultava muito a separação entre a minha vida profissional e pessoal. As redes sociais se tornaram um espaço de auto promoção e divulgação, o que acabou ainda mais com qualquer divisão entre o trabalho e a vida privada que pudesse existir. Momentos de descanso se tornaram escassos e carregados de culpa, a necessidade de produzir e ser útil me consumiam, minha existência se justificava pelo fazer e não pelo ser.
Quando finalmente percebi que estava doente – física e psicologicamente – uma das primeiras coisas que eu percebi que tinha de fazer era retomar meu senso de valor independente da produtividade. Escrever textos (bons ou ruins) que jamais seriam publicados. Ver filmes e ler livros que eu queria e não porque estava tentando bater uma meta arbitrária. Assistir a dramas coreanos que me davam vergonha. Passear com o cachorro devaneador da minha vizinha por uma hora e meia, duas. Entender que minha existência tinha valor, mesmo que eu não estivesse produzindo.

Something in the Rain (2017)
Nessa mesma época, eu já estava imersa numa intensa maratona, inicialmente acidental, de filmes sobre/com comida que a princípio associei com minha gulodice costumeira e com o conforto que os filmes me traziam já que a maioria deles eu havia assistido antes e gostava bastante. Conforme fui assistindo aos filmes, entretanto, comecei a perceber que talvez a minha obsessão tivesse outras raízes, o que ficou ainda mais claro quando entrei em contato com dois livros sobre prazer.
Um deles foi o Pleasure Activism, cuja tradução seria algo como “Ativismo do prazer”, da pesquisadora Adrienne Maree Brown, no qual ela defende o prazer como uma ferramenta política. Brown escreve: “Parte da razão pela qual tão poucos de nós têm uma relação saudável com o prazer é porque uma pequena minoria da nossa espécie acumula o excesso de recursos, criando uma falsa escassez e, depois, tenta nos vender alegria, tenta nos vender a nós mesmos” (tradução nossa). Vale sublinhar que uma “relação saudável com o prazer” diz respeito também à moderação, e não nos jogarmos aos excessos do consumo para nos distrair de nossas dores e tragédias. Não adianta buscar o prazer para nos desconectarmos do que nos fere; o prazer real, que nutre, é um exercício de conexão.
A ideia de sair da lógica da escassez, a ideia de que o prazer, o deleite e a alegria poderiam ser uma ferramenta de resistência em um momento de tanta agonia pessoal, profissional, social e política, me pareceu revolucionária. Mas não foi a primeira vez que me deparei com esse pensamento.
Quando assisti a Café com Canela de Glenda Nicácio e Ary Rosa em 2017, depois da belíssima sessão no Festival de Brasília, precisei de alguns minutos para entender a euforia que me invadia. Entender a potência de um filme sobre pessoas negras no interior da Bahia que ousam ser felizes, cuidar uns dos outros, nutrir e alimentar uns aos outros, literal e metaforicamente. Estava tão acostumada com o sofrimento a que estão relegados os corpos negros e os corpos de mulheres no cinema, que o choque do deleite, do prazer e das subjetividades representados em Café com Canela me tocaram profundamente.

Café com Canela (2017)
A rede de afetos que vemos no filme é vasta e cada uma é muito particular. Muitas delas são expressas através da comida. O churrasco com os vizinhos cheios de histórias contadas, as lembranças de festa de São João, a sopa dada na boca da avó acamada, a receita de família da coxinha que Violeta vende, o café com canela de Violeta que esquenta o corpo e a alma de Margarida.
O outro livro que eu li nessa época foi The Book of Delights, “O livro dos deleites”, uma compilação de pequenos ensaios (“ensaietes”) em que o autor, o poeta Ross Gay, se debruça sobre um deleite por dia ao longo de um ano (ele não escreveu 365 ensaios, um dos deleites era o deleite de furar compromissos).
Na introdução do livro, Gay escreve:
“Um ou dois meses iniciado o projeto, deleites estavam me chamando: Escreva sobre mim! Escreva sobre mim! Porque é grosseiro ignorar os seus deleites, eu dizia a eles que, embora eles talvez não se tornassem ensaietes, eles ainda assim eram importantes e eu era grato por eles. Em outras palavras, eu sentia a minha vida mais cheia de deleite. Não sem tristeza ou medo ou dor ou perda. Mas mais cheia de deleite.” (tradução nossa)
Em Café com Canela, a dor de Margarida é uma ferida profunda que provavelmente nunca se fechará por completo e isso merece ser honrado também. Não se trata de negar a tragédia, trata-se de se permitir continuar a viver não apesar dos mortos, mas por eles. Para honrar a vida que eles não podem mais ter, vivendo-a da melhor forma possível.
“O desejo e o prazer são duas formas pelas quais afirmamos que existe algo pelo qual viver.” (BROWN, Adrienne Maree. Pleasure activism: The Power of Feeling Good).
Existe algo muito potente em reconhecer nossa fome. Além de ser uma forma de perceber que se está viva, o desejo quando se é mulher é uma transgressão. Afinal, quando a escassez é regra, a abundância é transgressora.
Sempre me espanta que distúrbios alimentares como a anorexia e a bulimia sejam vistos como formas de chamar atenção. A falta de comida nos torna menores, cada vez menos visíveis. Mulheres são ensinadas a não pedir nada, nunca devemos querer mais do que nos é dado, seja comida, amor ou sexo; distúrbios alimentares são apenas mais uma forma de não causar incômodo com nossos desejos.
Reconhecer essa fome/desejo/vontade é voltar à carne, ao erotismo. Em Como Água para Chocolate, de Afonso Arau, quando os sentimentos de Tita transbordam para além do que lhe é permitido sob o controle tirânico de sua mãe, ela os transfere para a comida que cozinha, compartilhando suas emoções mais profundas com quem se alimenta de seus pratos. Em uma das cenas mais memoráveis do filme, a irmã de Tita fica tão consumida pelo desejo que Tita imbui na comida que ela literalmente rompe em chamas e foge nua com um homem a cavalo.
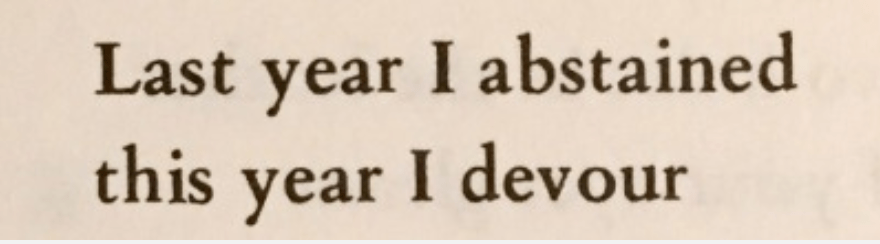
“Ano passado eu me abstive/este ano eu devoro” Mud/Circe poems de Margaret Atwood
A manifestação da fome feminina é libertadora. Na minissérie coreana 밥 잘 사주는 예쁜 누나 (a tradução literal seria algo como “irmã mais velha que me compra comida”, mas na Netflix a série está sob o título Something in the Rain, “algo na chuva”), a protagonista Jin-ah é uma mulher titubeante e recatada, que aguenta o abuso dos chefes calada e é rejeitada por um namorado que não a valoriza. Quando começa a sair para jantar com Joon-hee, o irmão mais novo de sua melhor amiga, a adoração que ele sente por Jin-ah a faz perceber pela primeira vez que seus desejos e vontades são dignos de serem saciados. A coragem de se satisfazer a fortalece.
Algo parecido acontece com Ila, protagonista do filme The Lunchbox do diretor Ritesh Batra. Por conta de um engano no complicado sistema de entrega de comida na Índia, o almoço especial que Ila prepara para tentar reavivar o casamento é entregue para Saajan, um funcionário público viúvo prestes a se aposentar. A partir daí, Ila e Saajan começam a compartilhar sentimentos e histórias muito pessoais em cartas diárias. A vulnerabilidade a que os dois se expõem os aproxima, e Ila continua a preparar comida para Saajan. Se toda carta é uma carta de amor, cada prato preparado sem obrigação para outra pessoa também o é.
A associação entre a fome e o desejo carnal é antiga e já foi muito explorada não apenas pelo cinema e pela arte, mas também por textos religiosos. Afinal, para muitos, o pecado original foi uma mulher comer algo que não devia. Em O Banquete de Babette de Gabriel Axel, vemos uma comunidade religiosa no interior da Dinamarca ficar muito inquieta com o iminente banquete que será oferecido por Babette, uma refugiada francesa que foi acolhida pela pequena vila. Os aldeões observam com crescente alarme enquanto os ingredientes sofisticados como tartaruga e vinhos caríssimos chegam à vila, convencidos de que um banquete como esse fará com que se entreguem ao mundo material e se afastem de Deus.
O que acontece, entretanto, é o contrário. Ao comer da comida de Babette, a pessoas da vila entram em comunhão umas com as outras, o prazer as torna mais generosas e tolerantes, e a comida é tão deliciosa que comê-la se torna uma experiência transcendental, um encontro com as outras pessoas da comunidade e com Deus.
Esse encontro do prazer e da comunhão é uma das coisas que mais me atrai nesses filmes, mas também me interesso pela comida de forma mais banal, uma necessidade do dia-a-dia. Sempre quando penso em comida e cinema, as imagens encantadores das comidas nos filmes do Studio Ghibli me vem à mente. Recentemente percebi que O Serviço de Entregas da Kiki de Hayao Miyazaki é quase um filme sobre comida, embora de forma discreta. Além de trabalhar em uma padaria, Kiki ajuda uma vovó a fazer uma torta para a neta, se preocupa com quanto dinheiro tem para fazer alimentar a si e seu gato Jiji e se emociona ao receber um bolo de presente como agradecimento. Tratam-se de momentos amáveis ou corriqueiros, mas que sempre nos lembram da ternura do cotidiano.

O Serviço de Entregas da Kiki (1989)
Filmes sobre comida se relacionam muito com o tempo. A hora de cada refeição, o tempo de preparo, a estação certa para plantar e para colher. Pequena Floresta, do diretor Jun’ichi Mori, nos faz sentir esse tempo. Dividida em dois filmes de duas horas cada, Pequena Floresta: Verão/Outono e Pequena Floresta: Inverno/Primavera, a trama é quase inexistente. Vemos Ichiko plantar, colher, cozinhar e refletir ao longo de quatro horas no que se torna quase um exercício meditativo. Da primeira vez que assisti aos filmes, fiquei inquieta, já na segunda, o tempo lento do filme me envolveu de tal forma que me senti repleta de calma. “Tudo ao seu tempo” é uma frase que nunca me deu muita tranquilidade, sou impaciente demais para isso – mas perceber que algumas coisas estão além do nosso controle pode ser algo surpreendentemente reconfortante.
A versão coreana de Pequena Floresta, Little Forest, da diretora Yim Soon-rye, também é um filme sobre o tempo, mas este foca mais no conflito da protagonista, na sua jornada interior para a plenitude, é um filme sobre atingir a maturidade, uma história de formação. Assistimos a Hye-won voltar para a casa onde cresceu, cozinhar os pratos que sua mãe a ensinou, mas do seu jeito, aprendendo a ser uma mulher adulta dona de si ao mesmo tempo que consegue, finalmente, entender e perdoar sua mãe por partir.
Cozinhar como ato de memória, de honrar e superar a tradição. Esse é um tema comum quando falamos de comida. Comer Beber Viver de Ang Lee também volta a ele, com a história de três irmãs que vivem na casa do pai chef de cozinha, reunindo-se a cada domingo em torno do ritual de almoço dominical. Cada uma das filhas enfrenta um momento crítico para alcançar a vida adulta e os almoços semanais funcionam como momentos para anunciar os surpreendentes novos eventos para o patriarca da família, o que acaba por alterar a dinâmica familiar e transformá-la em algo novo.
O chef e dono dos restaurantes Momofuku, David Chang, em sua série documental da Netflix, Ugly Delicious, retorna à temática da inovação versus tradição. Chang é conhecido por suas criações excêntricas e fusões de tradições culinárias distintas, mas ele sabe que, para chegar à originalidade e à inovação, é importante conhecer e respeitar as origens e tradições. Esse respeito não é apenas pelos ingredientes, pelas técnicas e nem mesmo pela cultura em que ele está se inspirando, mas pela memória afetiva de cada um.
No terceiro episódio da primeira temporada da série, Comida Caseira, Chang e outros chefs e críticos culinários falam sobre sua relação afetiva com a comida, suas famílias, seus parceiros e parceiras, amigos, filhos. Em um determinado momento, Chang relata que quando ele era mais novo, tudo que ele queria era se afastar da cultura coreana dos pais. Contudo, depois de ter se tornado um chef renomado, ele começou a associar a comida de tradição europeia ao ambiente tóxico e abusivo dos restaurantes onde passou seus 20 anos trabalhando e, cada vez mais, o que ele queria fazer era retornar à comida que sua mãe fazia em sua infância e levar isso para o restaurante. Trazer não apenas sabores deliciosos para os clientes, mas de alguma forma acessar esse lugar mágico da memória e do afeto com a sua comida.
Volto a pensar nos meus pais, em comida, em caminhos para o encontro e para o diálogo. Penso em horas gastas de forma improdutiva, na cozinha, rindo e cozinhando juntos, conversando e bebendo vinho. Essas não são memórias, são imagens forjadas pelos filmes que me ensinaram a comer e a viver. São desejos e há potência reconhecer desejos e em, quem sabe, saciá-los.
Existe um quê de utopia em todos esses filmes e séries sobre comida. São experiências sensoriais que nos fazem quase sentir o cheiro e o sabor de cada coisa, nos levam a pensar em um tempo mais lento, em construção em comunidade, em erotismo e desejo, em pontos de encontro entre gerações, em afeto, deleite, prazer. Pode parecer irresponsável falar em utopias quando parece que estamos caminhando para o abismo, mas, se distopias nos alertam para os perigos de como estamos vivendo, as utopias nos lembram de razões para continuar a lutar para viver.
Leia também:
Café com Canela, por uma espectadora negra entre a fruição e a crítica, de Letícia Bispo
3 OBRAS AUDIOVISUAIS PARA PENSAR SOBRE O ABORTO
Neste 8 de março, enquanto nossos colegas de trabalho nos oferecem rosas e parabenizações inócuas por nossa “força” como mães, filhas e esposas, decidimos fazer uma lista de obras audiovisuais que abordam um assunto de fato relevante na vida das mulheres. Se trata de algo que afeta nossa autonomia e cuja proibição causa nossas mortes: o aborto.
Antes de entrarmos na lista em si, faremos um parênteses para citar alguns dados importantes sobre o aborto no Brasil. Embora pesquisas mostrem que apenas 1,1 milhão de mulheres brasileiras entre 18 e 49 interromperam a gravidez ao menos uma vez, em apenas 12 anos entre 1995 e 2007, mais de três milhões de curetagens pós-aborto foram feitas pelo Sistema Único de Saúde, fazendo desse procedimento o mais realizado pelo SUS. A curetagem se trata de uma cirurgia em que se raspa a cavidade uterina. Ela é feita, na maioria das vezes, em caso de abortos intencionais em que houve complicações. Entretanto, a enorme maioria dos abortos são completados sem problemas, logo, não entram nesses 3,1 milhões de abortos, nos levando a crer que o número de abortos clandestinos feitos no Brasil supera e muito esse número. Não é difícil de entender, então, por que a cada dois dias uma brasileira morre em decorrência de um aborto ilegal.
O audiovisual, na sua capacidade para contar histórias, educar, criar empatia e gerar discussão, é uma forma interessante pela qual podemos refletir o aborto por perspectivas diferentes. Procuramos trazer nessa lista uma variedade de formatos que podem atrair públicos diferentes, temos um podcast, uma série e um filme que tratam do aborto feito ou discutido por mulheres de diferentes países, épocas, idades e classes sociais. Ao final da lista colocamos mais alguns filmes e séries que também tocam no assunto de maneira inteligente.
Mamilos: #2 Precisamos falar sobre aborto, Uber, Lollapalooza (2014-)

O podcast Mamilos é comandado pelas anfitriãs Juliana Wallauer e Cris Martis. Toda semana elas trazem assuntos que vão de economia a memes para serem discutidos no programa por leigos e especialistas. O segundo episódio do podcast trouxe uma longa discussão sobre a legalização do aborto dentro do contexto brasileiro. A conversa entre as duas anfitriãs com os convidados Carlos Merigo e Luiz Yassuda trouxe opiniões diferentes e embasadas. É interessante ver que os quatro participantes possuem todos razões para suas escolhas pessoais, mas suas crenças e vivências não influenciam suas opiniões sobre a questão de forma institucional. Enquanto Wallauer e Merigo dizem não serem capazes de interromper uma gravidez, existe uma clara distinção entre suas escolhas pessoais e sua defesa do direito das mulheres sob seus corpos.
Wallauer e Bartis trazem os argumentos contrários à legalização do aborto sem jamais falarem de forma condescendente ou desrespeitosa às opiniões contrárias, mas argumentando de forma racional e convincente. É um episódio bastante rico e didático, interessante pra mostrar para aquele tio com discurso conservador. Escute aqui.
4 Meses, 3 Semanas e 2 dias (2007)

Romênia, 1987. As amigas Otilia e Gabita precisam de um quarto de hotel para realizar um aborto ilegal. Vemos toda a mecânica do acontecimento, a busca do hotel, o encontro no carro do “médico”, a falta de dinheiro, e ainda questões corriqueiras da vida, como um jantar da família do namorado.
As questões práticas nos assombram: como pagar? E se Gabita tiver uma infecção, é preciso chamar uma ambulância? E se ela for presa por assassinato? O que fazer com o feto depois? Mas o emocional também sofre: o que se passa dentro delas? As dificuldades financeiras, psicológicas e práticas estão todas juntas ali. O minimalismo técnico do filme contribui para que o realismo brutal com que ele apresenta os acontecimentos não se tornem banais, não há necessidade de melodrama, trata-se de uma situação trágica por si só.
Jane the Virgin (2014-)

É interessante ver o tratamento dado a questões como o aborto em séries de televisão, pois elas possuem mais tempo para desenvolver ideias. Jane the Virgin, em particular, trata das questões da maternidade com muita cuidado. A série conta a história de Jane, uma jovem americana de família latina cuja influência da avó católica fez com que ela se decidisse permanecer virgem até o casamento. Só que, devido a um erro médico, ela acaba ficando grávida. Jane está na faculdade, está noiva de um homem que não é o pai do bebê e quer ser escritora. Existem vários motivos para que ela interrompa essa gravidez, mas ela decide manter o bebê. Um espectador desavisado poderia imaginar que isso demonstraria uma posição pró-vida da série, mas seria uma visão superficial. Jane considera o aborto, mas decide ir por outro caminho pois suas crenças católicas não estão de acordo com o ato. Embora ela saiba que é uma decisão válida, não é a escolha certa para ela.
(SPOILERS A SEGUIR)
Na temporada seguinte, a posição dos roteiristas da série fica ainda mais clara: a personagem da mãe de Jane, Xiomara, uma mulher que sonha em ser cantora e não compartilha a religião da filha, interrompe uma gravidez indesejada. Antes de fazer o aborto, Xiomara havia falado diversas vezes que não pretendia mais ter filhos e ela, afinal, exerce seu direito com a interrupção de sua gravidez. É importante lembrar: nem o aborto nem a decisão de ter um filho devem ser obrigações, devem ser escolhas que partem da mulher.
Mais algumas obras audiovisuais que apresentam uma reflexão relevante sobre o aborto:
SETE PERSONAGENS QUE AMAMOS (E SUA JORNADA PARA A MATURIDADE)
Existe algo sobre histórias de formação que mexe com as emoções do público. Talvez tenha algo a ver com o fato de que qualquer adulto tenha que passar pela experiência de alcançar a maturidade, o que faz das obras que exploram o tema especialmente tocantes e identificáveis. A universalidade das histórias de formação faz delas um assunto explorado repetidas vezes, mas, como de costume, as obras mais celebradas do gênero são protagonizadas garotos brancos tendo que lidar com a chegada da vida adulta. Não que Holden Caulfield não seja um personagem memorável, sua tentativa de fuga do mundo dos adultos é algo com que muitos podem se identificar, mas não podemos fingir que a sua experiência não está profundamente ligada ao seu sexo, cor e status social. Temos que parar de fingir que homens brancos heterossexuais são um padrão em que todos podem se ver. É verdade que pessoas de grupos minoritários – mulheres, negros, asiáticos, gays – acabam por ter que se identificar com ou no mínimo conhecer essas histórias simplesmente porque elas estão em todos os lugares e formam o cânone da arte ocidental. Mulheres que estudam e se interessam por literatura são obrigadas a ler livros de autores celebrados que eram extremamente misóginos. Cineastas negros têm que saber que O Nascimento de Uma Nação, um dos filmes que marcaram o cinema, glorifica a criação da Ku Klux Klan. Estudar arte, pertencendo a um grupo minoritário, é, muitas vezes, uma experiência masoquista. E isso não começa com os livros e filmes racistas, misóginos e homofóbicos, vem de algo muito mais sutil e insidioso, da experiência de sermos forçados a nos identificar homens brancos e heterossexuais enquanto continuamos a ser desumanizados pela nossa invisibilidade. Essa lista vem como uma tentativa de abrir horizontes, mostrar novas histórias, dizer: estamos aqui. Existimos.
Rae de My Mad Fat Diary

Os médicos olharam pras minhas pernas e disseram ‘não doeu? Não doeu tanto quando você estava fazendo que queimava respirar?’ Pelo menos elas me lembram que eu sobrevivi. Mas por pouco.
Depois de passar quatro meses numa clínica de recuperação após uma tentativa de suicídio, Rae tem que voltar a conviver com os amigos e a mãe ao mesmo tempo que lida com seus problemas de auto-imagem, depressão e ansiedade. A série trata de diversos assuntos que haviam sido explorados de forma muito tímida por outras séries adolescentes anteriores. A obesidade e o aborto são temas abordados com sensibilidade e consciência, promovendo um debate pertinente e muito honesto. Sem falar da forma sarcástica, cômica e crua que Rae vê o mundo, ela é um presente para espectadores que desejavam uma voz inovadora, engraçada e real.
Shizuku de Whisper of the Heart

Deve ser ótimo saber o que você quer fazer. Eu não faço a mínima ideia, só vou de um dia pro outro.
É seu último ano do ensino fundamental e Shizuku está pronta pra aproveitar o verão e ler todos os livros de fantasia que encontrar na biblioteca. Não demora muito pra ela perceber que todos os livros que ela pega foram lido antes por um tal Seiji Amasawa, que ela acaba por conhecer e, aos trancos e barrancos, se tornar amiga. Ao descobrir sobre o desejo de Seiji de seguir sua paixão pela confecção de violinos, Shizuku é inspirada a pensar em seus próprios desejos para o futuro e descobrir suas próprias aspirações: tornar-se escritora. Apesar de seus medos e incertezas, Shizuku se entrega completamente à empreitada de escrever sua primeira história, por vezes negligenciando a escola, o que preocupa seus pais. Whisper of the Heart apresenta comentários interessantes não só sobre a procura dos sonhos, mas também sobre o expectativas da sociedade japonesa quanto a escola e busca de carreiras criativas.
Wadjda de O Sonho de Wadjda

Você, tímida? Quem dera!
Tudo que a pequena e rebelde Wadjda quer é uma bicicleta verde para apostar corrida com o amigo e, depois da recusa da mãe, ela sabe que a única forma de alcançar seu objetivo é utilizar suas próprias habilidades para arrecadar dinheiro e comprar a bicicleta ela mesma. A trama do filme é simples e simbólica. Além de ter sido o primeiro longa-metragem inteiramente filmado na Arábia Saudita, O Sonho de Wadjda foi também o primeiro filme dirigido por uma mulher saudita, sua história aparentemente simples, protagonizadas por mulheres em uma sociedade misógina, mas que continuam a lutar pelos seus direitos e desejos como podem, ganha um aspecto de resistência quando colocado em uma perspectiva histórica.
Estela de Califórnia

Ah, Estela… Todo mundo tem problemas. É que a gente só repara nos nossos.
O primeiro longa-metragem de ficção de Marina Person conta a história de uma adolescente que sonha em fugir. Fugir de um país sob um governo ditatorial, fugir do pai tirânico, fugir da sua primeira menstruação, que, segundo o mundo, indicava que ela havia se tornado mulher. Ao som de The Cure, Paralamas do Sucesso e Joy Division, vemos Estela descobrir que aquele sangue quatro anos antes nada tinha a ver com se tornar mulher. Vemos sua jornada para a maturidade se desenrolar em livros, amores e desamores, a morte de uma pessoa querida e sua primeira experiência sexual.
Angela de My So-Called Life

As pessoas dizem o tempo todo que você deveria ser você mesmo, como se você mesmo fosse essa coisa definida, como uma torradeira. Como se você soubesse o que é.
Falar da história de maturação de Angela Chase é um tanto quando irônico porque ela nunca acabou. A série que ela protagonizou em meados da década de 90 nunca viu a luz da segunda temporada devido a sua baixa audiência, mas desde então a série ganhou legiões de fãs e se tornou um clássico cult. Isso provavelmente se deve ao fato que a série, até hoje, ressoa profundamente com o público adolescente devido a sinceridade da sua personagem principal, Angela, entre a angústia com o fim de antigas amizades, a criação de novos laços, problemas com os pais e paixonites adolescentes, vemos diversas reflexões de Angela que por vezes hilárias e comoventes e fazem de My So-Called Life uma série memorável.
Alike de Pariah

Um coração partido se abre para o nascer do sol porque até a ferida é uma abertura e eu estou partida, eu estou aberta.
A adolescência é uma época difícil para qualquer um, mas pode ser especialmente dura para uma adolescente negra e lésbica encarando e abraçando a sua própria sexualidade dentro de uma família religiosa. Alike tem que lidar tanto com problemas corriqueiros da idade como brigas com a melhor amiga quanto a homofobia profundamente enraizada da mãe enquanto descobre sua própria identidade e percorre o caminho tortuoso para a vida adulta. Desde as roupas que usa até a pessoa por quem ela vem se apaixonar fazem parte de um processo de auto-aceitação e busca de pertencimento que culminam numa ruptura dolorosa e necessária com a família e a infância.
Malcolm de Dope

Para a maioria dos geeks, um dia ruim pode ser uma piada durante a aula, a ocasional pegadinha com sua comida e, no pior dos casos, levar uma surra dos atletas. Mas quando se mora nos Bottoms, um dia ruim é ser morto por acidente.
No seu último ano do ensino médio, Malcolm Adekanbi ainda está tentando conciliar a sua identidade como um aluno nota 10 com pretensões de entrar em Harvard com a forma que o mundo o vê: um jovem negro criado na periferia de Los Angeles por uma mãe solteira. Em meio a sua busca por fugir dos estereótipos e encontrar o seu lugar no mundo, ele alimenta sua obsessão por cultura hip hop dos anos 90 e toca com seus dois melhores amigos em uma banda punk. Depois de se envolver acidentalmente em uma briga de gangues, ele terá de lidar com tudo que faz parte da sua identidade, inclusive aquilo que ele rejeita.
SOBRE O QUE FALAMOS QUANDO FALAMOS DA MULHER CONFINADA
Há séculos, o tema da mulher confinada tem sido explorado pela ficção. Somos presas em torres guardadas por dragões, em casas governadas por madrastas tiranas, em quartos minúsculos e sem luz, em abrigos subterrâneos. Dentre as versões audiovisuais desse pesadelo, podemos citar A Maçã de Samira Makhmalbaf, O Quarto de Jack de Lenny Abrahamson, As Virgens Suicidas de Sofia Coppola, Mad Max: Estrada da Fúria de George Miller, Cinco Graças de Deniz Gamze Ergüven, Rua Cloverfield 10 de Dan Tratchenberg e até mesmo a série cômica da Netflix, The Unbreakable Kimmy Schmidt.
O confinamento tem uma série de significados recorrentes e também particulares a cada filme, livro ou conto de fadas em que ele aparece. Ele muitas vezes representa ambientes familiares abusivos, parceiros ciumentos, uma sociedade que limita a mulher ao ambiente doméstico, o pânico quanto a sexualidade feminina e a redução da mulher a suas funções reprodutivas. O aprisionamento das “noivas” de Immortan Joe em um cofre é infantilmente simples em sua conotação: mulheres são vistas como objetos de grande valor, mas ainda objetos. A mãe de O Quarto de Jack – no livro – não possui nome, só a vemos ser chamada de “ma”. Encarcerada com seu filho, todas as suas ações são tomadas em função dele, o livro compara a redução da mulher à maternidade com a angústia do confinamento ao mesmo tempo que explora uma certa idealização do que o tempo ilimitado gasto com uma criança – total atenção, zelo, proteção – o mito da mãe sempre presente. Quando “ma” e Jack finalmente escapam, ela já não sabe mais quem é. Fora do quarto, sem ser mãe 100% do tempo, “ma” tem problemas pra encontrar sua identidade.
Em As Virgens Suicidas, Cinco Graças e A Maçã, irmãs são trancafiadas dentro de casa para sua “própria proteção”, pretexto apoiado por convicções religiosas (católicas e islâmicas) que mal escondem a real motivação: o despertar da sexualidade feminina em adolescentes deve ser sufocado a qualquer custo. As Virgens Suicidas ressalta o estranhamento do feminino, elas são observadas pelos meninos da vizinhança com interesse, mas nunca compreensão. Elas exercem fascínio pelo mistério que as mantém distante do mundo, desconexas e perdidas. Cinco Graças busca representar a perda de direitos das mulheres turcas com a chegada ao poder de um partido fundamentalista, o encarceramento das cinco irmãs refletem ideias conservadoras alimentadas pelo cenário político do país.
É interessante observar que o confinamento em algumas histórias não se dão atrás de portas trancadas. No conto de fadas Barba Azul e na compilação de histórias populares As Mil e Uma Noites, em nenhum momento somos informados de que as protagonistas estão confinadas, mas, apesar de correrem risco de vida, nunca nem passa pela cabeça do leitor ou das mulheres que elas deixem seus maridos e famílias. Tratava-se de um confinamento baseado na dependência. A mulher não possuía nenhum tipo de autonomia financeira, não eram treinadas para ou bem-vindas no mercado de trabalho, a família em si era um encarceramento inescapável. Essa realidade, entretanto, não está tão distante quanto gostaríamos. Ainda existem mulheres no mundo que são impedidas de estudar, em alguns países mulheres tem os mesmos direitos legais de um menor de idade.

A Maçã (1998)
Em cada história, as protagonistas apresentam diferentes formas de lidar com suas situações. Em filmes de ação, as mulheres são engenhosas ou fisicamente fortes e tentam escapar a todo custo. Em Rua Cloverfield 10, vemos Michelle afiar uma muleta de madeira para lutar contra seu captor já nos primeiros minutos do filme, em Mad Max: Estrada da Fúria, as “noivas” arriscam suas vidas para fugir com Imperator Furiosa numa alucinante perseguição. Embora seja revigorante ver mulheres enfrentarem seus algozes, é importante lembrar que situações abusivas são muito complexas e perigosas. Não é à toa que muitas mulheres permaneçam com seus parceiros abusadores e não é, como alguns dizem, porque elas gostam de apanhar, e sim, porque elas temem pelas próprias vidas. É irracional tratar de uma questão estrutural como individual. Esperar que mulheres sejam as únicas responsáveis pelo seu bem-estar dentro de uma sociedade que violenta mulheres é um pensamento simplista. Individualmente, as mulheres usam as armas que elas necessitam para sobreviver.
O conto de fadas da Gata Borralheira ilustra bem essa questão mesmo que inadvertidamente. Cinderela é encorajada pela mãe moribunda a permanecer gentil e afável. O que muitas vezes é interpretado como fraqueza e falta de personalidade é o que permite que Cinderela sobreviva aos abusos perpetuados pela madrasta e suas filhas durante toda a sua vida. O Quarto de Jack também mostra como a necessidade de sobreviver faz com que “ma” aja de forma submissa, demonstrando a consciência de que suas melhores chances para proteger a si e Jack estão na docilidade. Ela consegue escapar, e, apesar da tentativa de suicídio, sobrevive, enquanto outras não tem a mesma sorte. Em As Virgens Suicidas, as irmãs Lisbon estão todas mortas ao final do filme. Em Cinco Graças, duas das irmãs casam obrigadas, uma se mata e duas fogem, mas têm poucas perspectivas. Em A Maçã, as duas filhas que ficaram presas por onze anos dentro de casa apresentam sérios problemas de desenvolvimento, mal falam ou andam.
A recorrência do confinamento na ficção fala de um encarceramento maior e invisível, mulheres que são presas pelas amarras de uma sociedade que decreta como elas devem agir, mas não podemos esquecer que encarceramentos reais ainda acontecem. Não acredito que seja coincidência que os dramas que encaram o confinamento de forma mais realista sejam dirigidos por mulheres ou que as histórias mais desesperadoras venham de diretoras de países periféricos. A Maçã foi baseado em fatos reais e a maior parte dos atores viveram os acontecimentos retratados no filme, misturando o documental e a ficção e nos lembrando: embora possamos ver a mulher confinada como uma metáfora, não podemos escapar do fato que ela existe no mundo real.
Ilustração da Morgue.
