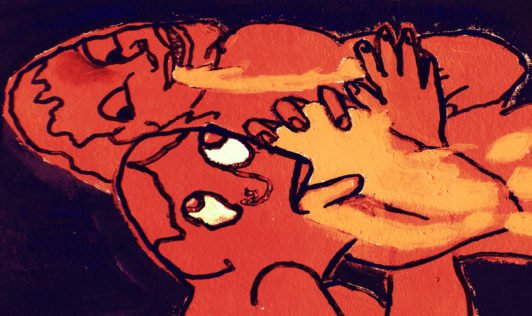OS MONSTROS QUE FAZEM DE NÓS: A BRUXA

Eu esqueci a suavidade porque ela não me serviu.
Catherynne M. Valente
Eu tenho falado de filmes de terror com certa frequência nos últimos meses e prometo que não é intencional, é só que é muito fácil contar histórias aterrorizantes protagonizadas por mulheres. Até pouco tempo atrás, esse protagonismo significava sermos mortas, estupradas, perseguidas e intimidadas, e, embora isso ainda aconteça, em alguns poucos e preciosos filmes, a moral se inverteu. Não somos mais aterrorizadas por nos comportarmos mal, nos comportamos mal por sermos aterrorizadas e essa inversão faz toda a diferença.
Mulheres que transgridem determinados preceitos e são castigadas por isso reforçam nossos valores, enquanto mulheres-monstros produto de uma sociedade tóxica nos fazem questioná-los. A Bruxa está, claramente, posicionada nesta segunda categoria, então, não é muito difícil entender por que, na sessão lotada em que assisti o filme, as reações – comunicadas com bastante ênfase – foram de negativas a indignadas.
Thomasin, a jovem protagonista do filme, é tratada desde o início como um tipo de mercadoria por sua família. Quando essa “mercadoria” começa a se mostrar inconveniente, seu despacho é abertamente discutido pelos pais da menina. A inconveniência que ela apresenta tem muito pouco a ver com qualquer comportamento que ela apresenta, e sim do que é projetado sobre ela. Thomasin é repetidas vezes acusada por membros da sua família pelas ações daqueles a sua volta. O pai vende uma taça de prata da mãe e deixa a culpa recair sobre a filha quando a ausência do objeto é sentida. A mãe está convencida de que ela está seduzindo o irmão, mas todas as vezes que vemos Caleb olhar para Thomasin com desejo, ela não parece estar ciente do fato. A primeira vez que acontece, ela está dormindo. Fica claro que o próprio corpo da menina, que começa a mostrar sinais de estar alcançando maturidade, é o seu maior pecado. “O inferno é uma garota adolescente”, afinal de contas.
Os problemas domésticos somados a acontecimentos sobrenaturais que acometem a família acarretam na histeria que leva as acusações contra a filha mais velha se tornarem em violência. “A Bruxa” que daria título ao filme é apresentada quase como um mau neutro, onipresente e imbatível. O espectador, consciente da inocência de Thomasin, é levado a observar os pais da menina como os verdadeiros vilões da história.

Anya Taylor-Joy como Thomasin
Ao conversar com um amiga, depois de termos assistido a Cinco Graças, falamos brevemente sobre a cena em que uma das meninas é levada ao hospital para que seja comprovada sua virgindade. Antes que o médico a examine, ele pergunta se ela já fez sexo e ela diz que sim, com várias pessoas. Após o exame, ele questiona a mentira, ela responde com um ar cansado que beira o deboche “quando digo que sou virgem, ninguém acredita”.
Cinco Graças é um drama que se passa na Turquia contemporânea, A Bruxa, nos Estados Unidos do século XVII, mas a conclusão que as adolescentes de ambos os filmes chegam não é muito diferente: estamos condenadas de uma forma ou de outra. Chega a ser um pouco trágico que esses dois filmes – o primeiro, um drama realista, o segundo, um filme de terror sobrenatural – encontrem pontos de convergência, mas o que torna A Bruxa tão apavorante, como em qualquer bom filme de terror, é justamente o fato de sua alegoria ter raízes muito reais no mundo do espectador no momento em que ele assiste. E no caso d’A Bruxa especificamente, essas raízes estão fincadas há alguns milênios: não existe monstro mais terrível do que uma mulher. Mas essa é a visão simplista a que já fomos expostos repetidas vezes, A Bruxa vai além e diz: não existe monstro mais poderoso do que uma mulher que já nasceu condenada e se entrega à perversidade de que a acusaram desde o início.
Conte uma mentira vezes o suficiente e ela se torna realidade.
(spoilers a seguir)

No final do filme, vemos toda família de Thomasin assassinada. A menina, ensanguentada, mas ainda inocente, toma o que parece ser sua primeira decisão autônoma. Ao assinar o livro do demônio, ela entrega sua alma e sentimos um alívio que se reflete no rosto extasiado de Thomasin em perceber que ela é, afinal, livre.
Ao sair do cinema, satisfeita, comecei a questionar as minhas próprias conclusões sobre a obra. Mas que liberdade é essa? Se, no final de tudo, ela não tinha nenhuma alternativa? Caso tivesse permanecido na casa isolada, morreria de fome antes do fim do inverno, se voltasse para o vilarejo, seria condenada pelo assassinato da família.
Que liberdade é essa em que falamos quando falamos em sexo livre nos dias de hoje, em que nossos corpos, ora, necessariamente castos, ora, necessariamente profanos, continuam a ser alvo de regras criadas por outras pessoas? De que liberdade estamos falando quando dizemos a mulheres mulçumanas que elas devem retirar seus véus para serem livres? Por que, ao invés de dizer o que uma mulher deve fazer, não perguntamos a ela como ela deseja viver?
A Bruxa, no final das contas, não é um filme sobre empoderamento feminino, mas não tenciona ser. O fato de seus diálogos terem sido retirados de documentos históricos sobre bruxaria serve de lembrete: a realidade e o terror, quando diz respeito a vivência feminina, são quase indistinguíveis e a liberdade ainda está muito, muito distante.
Voltar para tabela de conteúdos desse número