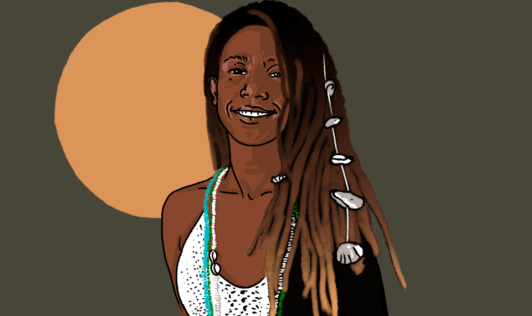CARTA ABERTA DE AMOR AO CINEMA SAPABONDE(ING)
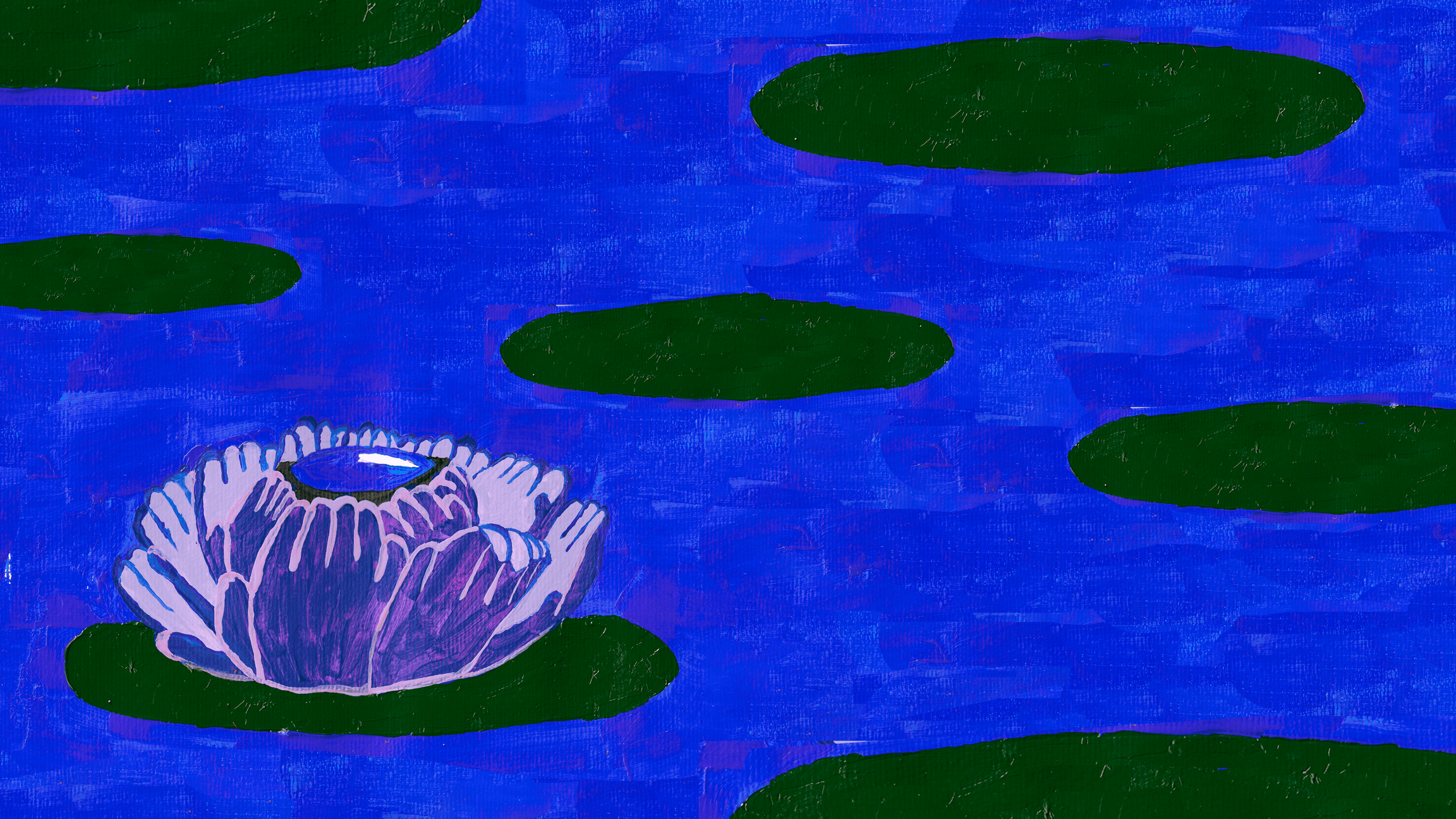 Ilustração de Taís Koshino.
Ilustração de Taís Koshino.Esta carta foi endereçada a Carol Rodrigues, Cris Lyra, Bruna Linzmeyer, Érica Sarmet, Lívia Perez, Juh Almeida, Noá Bonoba, Rafaela Camelo, Yasmin Guimarães e a todas as pessoas realizadoras que estiveram presentes nos encontros do Curso Figurações Lésbicas no Cinema, conduzido por Adriana Azevedo, Alessandra Brandão, Carol Almeida, Érica Sarmet, Tatiana Carvalho e por mim. Ela foi lida na última aula do curso. A despeito desse endereçamento, a carta também quer chegar às pessoas que criam um mundo de imagens habitado pela existência, o desejo, a política e, por que não, a utopia lésbica. A elas eu entrego o que vejo, sinto e penso, ínfima oferenda aos pés da potência que têm demonstrado. Escrevo para vocês para, através de vocês, amar o cinema.
Quando eu era criança, meu pai tinha câmera e projetor super-8, comprados nas pechinchas da Zona Franca de Manaus no início dos anos 80. Eu cresci na extensão da Transamazônica. Explico-me: nasci em João Pessoa e meus pais, equilibristas de uma classe média baixa, viram a oportunidade de realocar a família no Acre, onde viriam a ser professora e servidor técnico da UFAC. Esse é exatamente o trajeto projetado da Transamazônica: da Paraíba ao Acre. Entre idas e voltas de Rio Branco a João Pessoa e depois Olinda, Natal, essa experiência do deslocamento constituiu muito do modo como me apeguei a paisagens e imagens.
Entendi que o possível é fluxo. E foi nesse momento formativo que descobri o cinema, no lençol branco estendido na parede fazendo as vezes de tela. Ali projetavam-se os filmes. Ali eu me projetava, deitando naquele lençol com Suzanne Pleshette n’Os Pássaros, exibido em versão resumida. Sim, meu olhar de criança sapatão já fazia tombar a parede e transformava em tapete o lençol branco que indiscriminadamente acolhia todo tipo de imagem, de desenhos do Pica-Pau a filmes experimentais. E pedia para ver de novo, a titilação provocada pelo sorriso sardônico de Pleshette e pelo terror do ataque dos pássaros formando uma massa de afetos que, não tenho dúvidas, criou o solo necessário para uma cinefilia sensorial.
Acostumei-me com o deslocamento, com o desencaixe das coisas. E isso me fez bem. Mas por que partilho essas memórias de formação cinéfila? Porque quero falar dos deslocamentos e desencaixes que os filmes que vocês realizam, vocês realizadoras lésbicas de uma geração recente que cintila apesar de tudo, vocês que me provocam e, volto a dizer, que me permitem amar ainda mais profundamente o cinema.
Gosto da palavra desencaixar porque ela remete exatamente ao trabalho de não mais fazer caber nas caixas, nas caixinhas, nos caixotes. Algo não encaixa bem e, então, desliza. Recusar o encaixe, o encaixotamento. Amar a xota e o velcro, que fecha e abre, que, por vocação, une sem grudar.
O que vocês, criadoras lésbicas de imagens em movimento, estão fazendo é esse trabalho de desencaixe. Seus corpos, desencaixados das estruturas heterocispatriarcais. Suas narrativas, desencaixadas das expectativas de um mundo que só sabe reproduzir a si mesmo. Vocês são geniais. Colam como velcro nas estruturas quando necessário, mas como velcro, desencaixam quando possível. Uma forma ao mesmo tempo tática e estratégica de se mover pelos espaços institucionais, contrabandeando imagens e histórias. É preciso experimentar na carne esses percursos para criar o conhecimento e desenvolver formas de resistência. É preciso ser do rolê.
Mas é também da ordem do bonde essas formas táticas e estratégicas. Do bonde(ing), como gosta de grafar a Alessandra Brandão, porque estamos falando isso, de bonde que é bonding. O que nos une, o bonde andando. O que nos une, pegar esse bonde andando e sentar à janela, ao lado de uma mulher que amamos. Então vocês formam esses bonde(ing)s nos sets, nas equipes. Pois aqui estamos também falando de uma atividade remunerada. Quem chamará as mulheres para suas equipes para que o nosso quinhão do latifúndio do audiovisual brasileiro seja mais justo?
O latifúndio audiovisual cisheteropatriarcal branco, o macho adulto branco sempre no comando: esse latifúndio ameaça destruir os mundos, assim como o latifúndio das terras ameaça destruir os mundos, assim como o latifúndio epistemológico ameaça destruir os mundos. Aos poucos acampadas nesse latifúndio, vocês vão plantando imagens. Mal sabem eles, os donos do latifúndio, que as cercas e demarcações não são inexpugnáveis. Táticas e estratégicas, vocês encontram as brechas. Um dia, eu sonho, eu tenho essa imagem na cabeça, eles acordarão em pânico ao perceberem que o audiovisual já estará tomado pelas sapas e bichas, pelos pretos e pardos, pelos feios, pelos sujos, e eles nada mais poderão fazer porque o mundo que vocês imaginam hoje terá redemarcado todo esse espaço audiovisual.
Nesse rolê, espero não perder o bonde. Por isso, me desloco. Faço perguntas aos seus filmes. Às vezes eles são bem eloquentes nas respostas. Às vezes, lacônicos, o que me irrita, pois sou espectadora mimada. Mas muitas vezes, eles me surpreendem com a delicadeza amorosa com que me interpelam. Do que tenho visto, uma figura em especial me apareceu nessas respostas amorosas: a sapatão de terreiro.

Na Paraíba, o terreiro é o terreno ao redor da casa, incluindo jardim, laterais e o quintal. E no terreiro das casas acontecem coisas maravilhosas em seus filmes. Lésbicas jovens harmonizam um funk misógino, transformado por elas em ode tesuda à cunilíngua sáfica (Peixe, 2019, de Yasmin Guimarães). Sapatonas de favela fazem o carnaval (no delicioso videoclipe de Tambores de Safo, de 2019). O quintal, o terreiro, é figurado por vocês como um espaço liminar, entre o público e o privado, mostrando que a experiência lésbica é marcada por essas permeabilidade. O quintal, o terreiro, é mesmo lugar de cura, onde as amigas lésbicas acolhem umas às outras, também com o canto, dessa vez exorcizando a memória do trauma das bombas e dos tiros (Quebramar, 2019, de Cris Lyra).
A lésbica de terreiro é invenção de vocês, porque vocês sabem que “onde há lésbica, a lésbica falta”. O terreiro é também espaço da casa que não está ligado à intimidade conjugal do quarto, o que abre a possibilidade de uma miríade de configurações de relação. Então é preciso investigar os espaços onde a lésbica existe e falta e lá está o terreiro, assim como está esse espaço clássico da cultura lésbica, o bar. Eu tenho saudade de uma coisa que nunca vivi com vocês: uma mesa de bar, um karaokê pé-sujo. Saudade do ainda não vivido, né minha filha?
Então, o que queria, com essa carta, é também cantar. Cantar vocês. Cantar vocês. Imantar nossos afetos. E queria dar um nome. Não porque eu acredite na violência adâmica de dar nome a tudo e, com isso, diminuir um tanto a força de existir daquilo que ainda não tem nome ou nunca terá.
Eu queria dar um nome ao cinema de vocês para guardar no meu repertório esse encontro com um cinema que já amo, com quem já moro e crio dois gatos: o cinema do sapabonde(ing). Não vai colar, a expressão é horrível, não tem a menor chance comercial, mas é por aí.
Cantar vocês, cantar com vocês um amor profundo pelas mulheres, imaginadas nas suas existências plurais. Alguém poderia até me perguntar, Rama, por que você ama as mulheres? Não sei. Essa pergunta meu coração nunca me fez. A pergunta mais importante é como amá-las melhor.
Voltar para tabela de conteúdos desse número