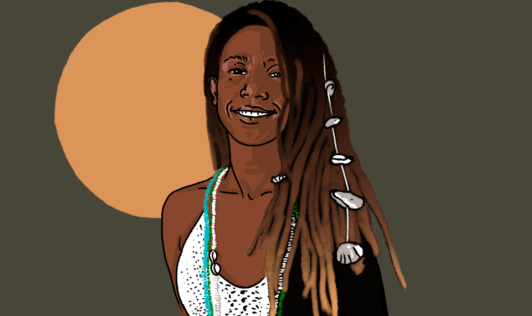FILMES ME ENSINARAM A COMER

Filmes me ensinaram a sentir.
Depois de seis anos, voltei à terapia. Tenho descoberto muitas coisas sobre mim e minhas relações com as pessoas e o mundo, e algo que tem me voltado à mente com alguma frequência é esta frase: filmes me ensinaram a sentir.
No final de 2018, outra frase me perseguia, repetida como um mantra na minha cabeça: “eu quero voltar a ser gente, eu quero voltar a ser gente”. O que, sim, estava relacionado ao ritmo louco de produtividade que nos é exigido atualmente, transformando tudo que nós gostamos/fazemos/somos em algoritmos capazes de gerar lucro enquanto consumimos conteúdo que não parece nunca preencher nosso vazio existencial. Mas, para além dessa ideia de seres humanos como máquinas dentro de uma cadeia de produção interminável, me peguei pela primeira vez questionando essa impessoalidade no contexto familiar e como ela alimentou e foi alimentada pela relação com os meus pais.
Com um pai militar que viajava com frequência durante a minha infância e cuja carreira nos fez morar longe de tios e avós, uma mãe muito jovem e solitária que não pôde ter outros filhos, minha educação emocional – no que diz respeito à construção de relações de afeto em uma comunidade – foi esparsa. Não consigo me lembrar, na minha infância e adolescência, de momentos de rotina do dia-a-dia em que passasse junto com meu pai e minha mãe para conversar. Apesar de meus pais sempre terem sido muito carinhosos, nunca construímos uma troca de pensamentos e diálogo que nos permitisse conhecer uns aos outros de forma profunda.
Pode parecer uma associação inusitada, mas acho que isso se relaciona de alguma forma com o fato de nunca termos, como família, nos importado muito com comida. Não tínhamos o hábito de comer juntos, eu ia para a escola cedo, meu pai trabalhava o dia inteiro, e ninguém dava muita bola para o jantar. Minha mãe nunca gostou de cozinhar e meu pai sempre preferiu requentar a comida no microondas a sair e ter que esperar pela comida por mais de dez minutos. Comíamos cada um numa hora, e a comida nunca era particularmente especial.
Apesar disso, muitas das minhas lembranças com meus pais na infância e na adolescência estão relacionadas a comida, mesmo que comida ruim. Pipoca de microondas no final de semana enquanto meu pai assistia ao futebol; as raras vezes que minha mãe fazia lasanha e eu comia a massa de macarrão com a mão, queimando os dedos e a língua; sorvete e outras besteiras de madrugada com minha mãe enquanto meu pai dormia; visitas mensais ao supermercado com o meu pai, uma das únicas coisas que fazíamos juntos, mesmo depois que eu me tornei uma adolescente mal-humorada. Quase todo o resto da minha memória afetiva foi construída por filmes e livros que caíam nas minhas mãos.

Little Forest (2018)
Não é tão estranho que eu tenha compensado a deficiência na minha formação afetiva com as artes, especialmente a literatura e o cinema. Acredito também que, apesar das peculiaridades do meu histórico familiar, não seja incomum, dentro de uma sociedade ferozmente competitiva e cada vez mais focada no indivíduo, que as pessoas se sintam mais e mais desconectadas de suas comunidades e redes de apoio, com poucas oportunidades para amadurecer emocionalmente. Nossa obsessão até mesmo na política por heróis e vilões tem nos mostrado isso.
Não que todos os filmes e livros caiam na velha dicotomia de bem contra o mal, longe disso. Mas, querendo ou não, essas são histórias que ocupam maior espaço e acabam por povoar o imaginário coletivo com enorme força. Pessoalmente, tenho pouco interesse nesse tipo de narrativa, embora entenda o seu apelo, em especial quando se enxerga a arte como escapismo.
Nos últimos tempos, tenho voltado a pensar sobre isso, como consumimos arte, o que ela representa para nós. Acho curioso que o audiovisual tenha se transformado em mais um utensílio no grande arsenal do tal “self-care” (ou, pelo menos, a ideia propagada nas redes sociais do que é o self-care), como se assistir a seis horas seguidas de uma série para tirar nossa atenção do estado em que se encontra a nossa vida fosse de fato uma prática de auto-cuidado. Confunde-se distração com satisfação, consumo com prazer. Para mim, essas coisas não poderiam estar mais distantes. Tem ficado cada vez mais claro que o que eu procuro é transcendência.
No ano passado, ouvi um episódio no podcast The New Yorker Radio Hour em que o roteirista e diretor Paul Schrader fala sobre sua relação com religião e o cinema. Criado por uma família da Igreja Reformista Cristã calvinista, Schrader, conhecido por ter escrito filmes como Taxi Driver e Touro Indomável, viu seu primeiro filme aos 17 anos de idade. Ele relata que só foi pensar no cinema de forma mais profunda quando entrou em contato com os filmes de Ingmar Bergman e percebeu que eles traziam as mesmas discussões que ele ouvia na sala de aula da faculdade e na igreja. Foi quando percebeu que o cinema e a religião não eram incompatíveis. Alguns anos depois disso, morando em seu próprio carro, sem falar com ninguém por semanas, com uma úlcera no estômago, Schrader sentia algo crescer dentro dele que, se não extirpasse, iria devorá-lo: Travis Bickle, o taxista violento e deprimido de Taxi Driver. Schrader não escreveu o roteiro de Taxi Driver porque queria fazer um filme, mas porque queria exorcizar seu próprio demônio.
O título do episódio, Movies as religion, “filmes como religião”, ressoou em mim. Eu tenho uma história complicada com religiões, há alguns anos não frequento nenhuma igreja e hoje oscilo entre o ateísmo e o agnosticismo, mas não gosto da ideia de que não haja nenhum tipo de magia no mundo.
Este ano, de volta à terapia, ao tentar explicar a alienação eu sentia e a conexão que buscava, eu voltava ao cinema de novo e de novo como uma pessoa religiosa voltaria a passagens do seu livro sagrado. Ao mesmo tempo, estava lidando com a crise da moda dos millenials: a síndrome do burnout. O segundo semestre de 2018 foi repleto de trabalho (parte dele remunerado, outra não) e desgaste emocional (cortesia, dentre outras coisas, das eleições) que acabaram por debilitar muito o meu sono e gerar uma série de crises de ansiedade.
Parte disso estava ligado ao fato de que muito do meu trabalho era feito online ou de forma muito desestruturada. Isso além de fazer trabalho “artístico” e “que eu amo”, o que dificultava muito a separação entre a minha vida profissional e pessoal. As redes sociais se tornaram um espaço de auto promoção e divulgação, o que acabou ainda mais com qualquer divisão entre o trabalho e a vida privada que pudesse existir. Momentos de descanso se tornaram escassos e carregados de culpa, a necessidade de produzir e ser útil me consumiam, minha existência se justificava pelo fazer e não pelo ser.
Quando finalmente percebi que estava doente – física e psicologicamente – uma das primeiras coisas que eu percebi que tinha de fazer era retomar meu senso de valor independente da produtividade. Escrever textos (bons ou ruins) que jamais seriam publicados. Ver filmes e ler livros que eu queria e não porque estava tentando bater uma meta arbitrária. Assistir a dramas coreanos que me davam vergonha. Passear com o cachorro devaneador da minha vizinha por uma hora e meia, duas. Entender que minha existência tinha valor, mesmo que eu não estivesse produzindo.

Something in the Rain (2017)
Nessa mesma época, eu já estava imersa numa intensa maratona, inicialmente acidental, de filmes sobre/com comida que a princípio associei com minha gulodice costumeira e com o conforto que os filmes me traziam já que a maioria deles eu havia assistido antes e gostava bastante. Conforme fui assistindo aos filmes, entretanto, comecei a perceber que talvez a minha obsessão tivesse outras raízes, o que ficou ainda mais claro quando entrei em contato com dois livros sobre prazer.
Um deles foi o Pleasure Activism, cuja tradução seria algo como “Ativismo do prazer”, da pesquisadora Adrienne Maree Brown, no qual ela defende o prazer como uma ferramenta política. Brown escreve: “Parte da razão pela qual tão poucos de nós têm uma relação saudável com o prazer é porque uma pequena minoria da nossa espécie acumula o excesso de recursos, criando uma falsa escassez e, depois, tenta nos vender alegria, tenta nos vender a nós mesmos” (tradução nossa). Vale sublinhar que uma “relação saudável com o prazer” diz respeito também à moderação, e não nos jogarmos aos excessos do consumo para nos distrair de nossas dores e tragédias. Não adianta buscar o prazer para nos desconectarmos do que nos fere; o prazer real, que nutre, é um exercício de conexão.
A ideia de sair da lógica da escassez, a ideia de que o prazer, o deleite e a alegria poderiam ser uma ferramenta de resistência em um momento de tanta agonia pessoal, profissional, social e política, me pareceu revolucionária. Mas não foi a primeira vez que me deparei com esse pensamento.
Quando assisti a Café com Canela de Glenda Nicácio e Ary Rosa em 2017, depois da belíssima sessão no Festival de Brasília, precisei de alguns minutos para entender a euforia que me invadia. Entender a potência de um filme sobre pessoas negras no interior da Bahia que ousam ser felizes, cuidar uns dos outros, nutrir e alimentar uns aos outros, literal e metaforicamente. Estava tão acostumada com o sofrimento a que estão relegados os corpos negros e os corpos de mulheres no cinema, que o choque do deleite, do prazer e das subjetividades representados em Café com Canela me tocaram profundamente.

Café com Canela (2017)
A rede de afetos que vemos no filme é vasta e cada uma é muito particular. Muitas delas são expressas através da comida. O churrasco com os vizinhos cheios de histórias contadas, as lembranças de festa de São João, a sopa dada na boca da avó acamada, a receita de família da coxinha que Violeta vende, o café com canela de Violeta que esquenta o corpo e a alma de Margarida.
O outro livro que eu li nessa época foi The Book of Delights, “O livro dos deleites”, uma compilação de pequenos ensaios (“ensaietes”) em que o autor, o poeta Ross Gay, se debruça sobre um deleite por dia ao longo de um ano (ele não escreveu 365 ensaios, um dos deleites era o deleite de furar compromissos).
Na introdução do livro, Gay escreve:
“Um ou dois meses iniciado o projeto, deleites estavam me chamando: Escreva sobre mim! Escreva sobre mim! Porque é grosseiro ignorar os seus deleites, eu dizia a eles que, embora eles talvez não se tornassem ensaietes, eles ainda assim eram importantes e eu era grato por eles. Em outras palavras, eu sentia a minha vida mais cheia de deleite. Não sem tristeza ou medo ou dor ou perda. Mas mais cheia de deleite.” (tradução nossa)
Em Café com Canela, a dor de Margarida é uma ferida profunda que provavelmente nunca se fechará por completo e isso merece ser honrado também. Não se trata de negar a tragédia, trata-se de se permitir continuar a viver não apesar dos mortos, mas por eles. Para honrar a vida que eles não podem mais ter, vivendo-a da melhor forma possível.
“O desejo e o prazer são duas formas pelas quais afirmamos que existe algo pelo qual viver.” (BROWN, Adrienne Maree. Pleasure activism: The Power of Feeling Good).
Existe algo muito potente em reconhecer nossa fome. Além de ser uma forma de perceber que se está viva, o desejo quando se é mulher é uma transgressão. Afinal, quando a escassez é regra, a abundância é transgressora.
Sempre me espanta que distúrbios alimentares como a anorexia e a bulimia sejam vistos como formas de chamar atenção. A falta de comida nos torna menores, cada vez menos visíveis. Mulheres são ensinadas a não pedir nada, nunca devemos querer mais do que nos é dado, seja comida, amor ou sexo; distúrbios alimentares são apenas mais uma forma de não causar incômodo com nossos desejos.
Reconhecer essa fome/desejo/vontade é voltar à carne, ao erotismo. Em Como Água para Chocolate, de Afonso Arau, quando os sentimentos de Tita transbordam para além do que lhe é permitido sob o controle tirânico de sua mãe, ela os transfere para a comida que cozinha, compartilhando suas emoções mais profundas com quem se alimenta de seus pratos. Em uma das cenas mais memoráveis do filme, a irmã de Tita fica tão consumida pelo desejo que Tita imbui na comida que ela literalmente rompe em chamas e foge nua com um homem a cavalo.
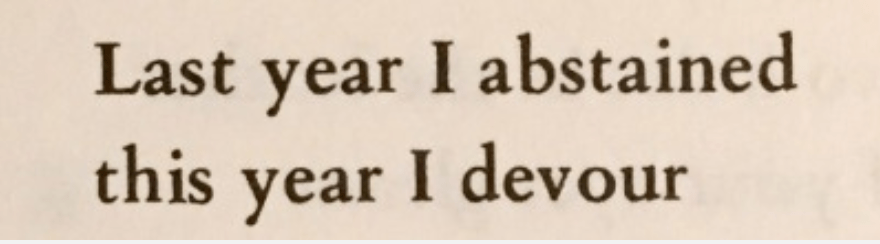
“Ano passado eu me abstive/este ano eu devoro” Mud/Circe poems de Margaret Atwood
A manifestação da fome feminina é libertadora. Na minissérie coreana 밥 잘 사주는 예쁜 누나 (a tradução literal seria algo como “irmã mais velha que me compra comida”, mas na Netflix a série está sob o título Something in the Rain, “algo na chuva”), a protagonista Jin-ah é uma mulher titubeante e recatada, que aguenta o abuso dos chefes calada e é rejeitada por um namorado que não a valoriza. Quando começa a sair para jantar com Joon-hee, o irmão mais novo de sua melhor amiga, a adoração que ele sente por Jin-ah a faz perceber pela primeira vez que seus desejos e vontades são dignos de serem saciados. A coragem de se satisfazer a fortalece.
Algo parecido acontece com Ila, protagonista do filme The Lunchbox do diretor Ritesh Batra. Por conta de um engano no complicado sistema de entrega de comida na Índia, o almoço especial que Ila prepara para tentar reavivar o casamento é entregue para Saajan, um funcionário público viúvo prestes a se aposentar. A partir daí, Ila e Saajan começam a compartilhar sentimentos e histórias muito pessoais em cartas diárias. A vulnerabilidade a que os dois se expõem os aproxima, e Ila continua a preparar comida para Saajan. Se toda carta é uma carta de amor, cada prato preparado sem obrigação para outra pessoa também o é.
A associação entre a fome e o desejo carnal é antiga e já foi muito explorada não apenas pelo cinema e pela arte, mas também por textos religiosos. Afinal, para muitos, o pecado original foi uma mulher comer algo que não devia. Em O Banquete de Babette de Gabriel Axel, vemos uma comunidade religiosa no interior da Dinamarca ficar muito inquieta com o iminente banquete que será oferecido por Babette, uma refugiada francesa que foi acolhida pela pequena vila. Os aldeões observam com crescente alarme enquanto os ingredientes sofisticados como tartaruga e vinhos caríssimos chegam à vila, convencidos de que um banquete como esse fará com que se entreguem ao mundo material e se afastem de Deus.
O que acontece, entretanto, é o contrário. Ao comer da comida de Babette, a pessoas da vila entram em comunhão umas com as outras, o prazer as torna mais generosas e tolerantes, e a comida é tão deliciosa que comê-la se torna uma experiência transcendental, um encontro com as outras pessoas da comunidade e com Deus.
Esse encontro do prazer e da comunhão é uma das coisas que mais me atrai nesses filmes, mas também me interesso pela comida de forma mais banal, uma necessidade do dia-a-dia. Sempre quando penso em comida e cinema, as imagens encantadores das comidas nos filmes do Studio Ghibli me vem à mente. Recentemente percebi que O Serviço de Entregas da Kiki de Hayao Miyazaki é quase um filme sobre comida, embora de forma discreta. Além de trabalhar em uma padaria, Kiki ajuda uma vovó a fazer uma torta para a neta, se preocupa com quanto dinheiro tem para fazer alimentar a si e seu gato Jiji e se emociona ao receber um bolo de presente como agradecimento. Tratam-se de momentos amáveis ou corriqueiros, mas que sempre nos lembram da ternura do cotidiano.

O Serviço de Entregas da Kiki (1989)
Filmes sobre comida se relacionam muito com o tempo. A hora de cada refeição, o tempo de preparo, a estação certa para plantar e para colher. Pequena Floresta, do diretor Jun’ichi Mori, nos faz sentir esse tempo. Dividida em dois filmes de duas horas cada, Pequena Floresta: Verão/Outono e Pequena Floresta: Inverno/Primavera, a trama é quase inexistente. Vemos Ichiko plantar, colher, cozinhar e refletir ao longo de quatro horas no que se torna quase um exercício meditativo. Da primeira vez que assisti aos filmes, fiquei inquieta, já na segunda, o tempo lento do filme me envolveu de tal forma que me senti repleta de calma. “Tudo ao seu tempo” é uma frase que nunca me deu muita tranquilidade, sou impaciente demais para isso – mas perceber que algumas coisas estão além do nosso controle pode ser algo surpreendentemente reconfortante.
A versão coreana de Pequena Floresta, Little Forest, da diretora Yim Soon-rye, também é um filme sobre o tempo, mas este foca mais no conflito da protagonista, na sua jornada interior para a plenitude, é um filme sobre atingir a maturidade, uma história de formação. Assistimos a Hye-won voltar para a casa onde cresceu, cozinhar os pratos que sua mãe a ensinou, mas do seu jeito, aprendendo a ser uma mulher adulta dona de si ao mesmo tempo que consegue, finalmente, entender e perdoar sua mãe por partir.
Cozinhar como ato de memória, de honrar e superar a tradição. Esse é um tema comum quando falamos de comida. Comer Beber Viver de Ang Lee também volta a ele, com a história de três irmãs que vivem na casa do pai chef de cozinha, reunindo-se a cada domingo em torno do ritual de almoço dominical. Cada uma das filhas enfrenta um momento crítico para alcançar a vida adulta e os almoços semanais funcionam como momentos para anunciar os surpreendentes novos eventos para o patriarca da família, o que acaba por alterar a dinâmica familiar e transformá-la em algo novo.
O chef e dono dos restaurantes Momofuku, David Chang, em sua série documental da Netflix, Ugly Delicious, retorna à temática da inovação versus tradição. Chang é conhecido por suas criações excêntricas e fusões de tradições culinárias distintas, mas ele sabe que, para chegar à originalidade e à inovação, é importante conhecer e respeitar as origens e tradições. Esse respeito não é apenas pelos ingredientes, pelas técnicas e nem mesmo pela cultura em que ele está se inspirando, mas pela memória afetiva de cada um.
No terceiro episódio da primeira temporada da série, Comida Caseira, Chang e outros chefs e críticos culinários falam sobre sua relação afetiva com a comida, suas famílias, seus parceiros e parceiras, amigos, filhos. Em um determinado momento, Chang relata que quando ele era mais novo, tudo que ele queria era se afastar da cultura coreana dos pais. Contudo, depois de ter se tornado um chef renomado, ele começou a associar a comida de tradição europeia ao ambiente tóxico e abusivo dos restaurantes onde passou seus 20 anos trabalhando e, cada vez mais, o que ele queria fazer era retornar à comida que sua mãe fazia em sua infância e levar isso para o restaurante. Trazer não apenas sabores deliciosos para os clientes, mas de alguma forma acessar esse lugar mágico da memória e do afeto com a sua comida.
Volto a pensar nos meus pais, em comida, em caminhos para o encontro e para o diálogo. Penso em horas gastas de forma improdutiva, na cozinha, rindo e cozinhando juntos, conversando e bebendo vinho. Essas não são memórias, são imagens forjadas pelos filmes que me ensinaram a comer e a viver. São desejos e há potência reconhecer desejos e em, quem sabe, saciá-los.
Existe um quê de utopia em todos esses filmes e séries sobre comida. São experiências sensoriais que nos fazem quase sentir o cheiro e o sabor de cada coisa, nos levam a pensar em um tempo mais lento, em construção em comunidade, em erotismo e desejo, em pontos de encontro entre gerações, em afeto, deleite, prazer. Pode parecer irresponsável falar em utopias quando parece que estamos caminhando para o abismo, mas, se distopias nos alertam para os perigos de como estamos vivendo, as utopias nos lembram de razões para continuar a lutar para viver.
Leia também:
Café com Canela, por uma espectadora negra entre a fruição e a crítica, de Letícia Bispo
Hunger Makes Me, de Jess Zimmerman
Voltar para tabela de conteúdos desse número