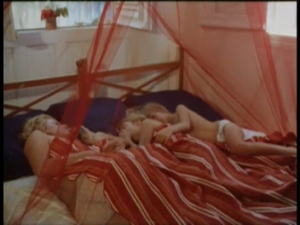ACERCA DA VOZ E DA IMAGEM: SURNAME VIET GIVEN NAME NAM
“Quando chegam os antropólogos, os Deuses saem.”
— Provérbio haitiano.
“Eu não quero falar sobre. Eu quero falar perto de.”
— Trinh T. Minh-ha, em Reassemblage.
Em um livro chamado “Men Explain Things to Me”, Rebecca Solnit questiona o papel da mulher enquanto pesquisadora e estudante, e de que forma as opressões sistêmicas patriarcais minam (quando não sumariamente fazem sumir) todo o nosso comportamento perante a sociedade. Disse ela:
A crítica de Solnit é voltada a uma interdição da experiência do Contar e do Fazer que nos constituem enquanto pessoa, e, sobretudo, quanto ao contar histórias apesar de. Nesse sentido, há Trinh T. Minh-ha, cineasta vietnamita que imigrou para os Estados Unidos em 1970 e fez do seu fazer enquanto artista algo multiforme: cineasta, artista visual, escritora, teórica, crítica.
Em seu primeiro trabalho, Reassemblage (1982), Minh-ha abre um filme sobre o Senegal, um país para ela até então desconhecido, dizendo que não gostaria de falar do terceiro mundo enquanto um experimento etnográfico exótico, mas sim, falar ao lado dele. Como parte dele enquanto imigrante, mulher asiática, fugida da guerra, perguntando ao espectador o que é que tem de ser dito, se o discurso documental hegemônico prioriza o discurso univocal? O que se espera da imagem cinematográfica e da representação de sociedades não ocidentais? Se a ideia de pertencimento, nação, território, lar nos parece ser uma garantia elementar dentro da civilização ocidental, como articular um discurso imagético e vocal sobre civilizações orientais em deslocamento constante? Como contar a história de quem sempre nos conta histórias? Quais são os limites do real, documental, ficção, fato, analogia e assimetria? É possível retratar um único Outro como a voz de um povo por inteiro? O que é o sólido e o que se desmancha no ar?
Para essas e tantas outras questões, Trinh T. Minh-ha, em 1989, faz Surname Viet Given Name Nam (traduzido em português para Sobrenome Viet Nome Nam), um documentário híbrido: imagens de arquivo, citações, canções, split screens, depoimentos de mulheres médicas, donas de casa misturadas com contos de fundação, super-exposições, preto e branco, discursos entrecortados e sobrepostos, interrupções. Botar-se ao lado botando na mesa milhares de imagens com milhares de vozes. O documental como lugar do real vivido.

I) Imagem:
“Jump cuts, pans irregulares, inacabadas, insignificantes, rostos partidos, corpos, ações, acontecimentos, ritmos, imagens ritmadas, fora do tom, discordantes, cores irregulares, vibrantes, saturadas ou muito brilhantes, enquadrando e reenquadrando.”
— Trinh T. Minh-ha em When The Moon Waxes Red
Ao princípio, Trinh T. Minh-ha articula uma forma documental que nos parece a mais usual quando tratamos do gênero e sua liminaridade entre documentário e etnografia: uma pesquisa de campo em que cinco mulheres são entrevistadas sobre a condição da mulher vietnamita em uma sociedade em transição. Mulheres em constante fuga e abdicação, contando pequenos trechos do cotidiano, a composição da família patriarcal, as opressões, prisões, o entrelugar entre o comunismo e o capitalismo pós-guerra do Vietnã, um estado de sítio e desconfiança civilizacional, a resiliência como forma de esperar por uma sociedade que está em constante vir a ser, mas não é. Um filme cuja mise-en-scène aparenta ser comum ao documentário — cabeças falantes se dirigindo a um entrevistador extraquadro — mas isso somado aos diversos discursos em que a imagem se mistura e se entrecorta, como um caleidoscópio da cultura vietnamita, uma miríade de vozes e imagens, danças e sons se mesclando às cartelas de texto. É engendrada uma rede de discursos que se tornam um só; o de mulheres sem alma, no life, no self. Homens que não voltam da guerra. Mulheres que se curvam. Dúzias de médicas cruzando pontes a pé. Nadando mares. Traçando rotas de fuga com os filhos nos braços.
Em aparência, a tendência ocidentalizadora é tomar o documental como uma única voz dotada de um único discurso. E, ainda mais, se tratando de uma matéria filmada em uma ideia de terceiro mundo, tudo se torna objeto de exotismo. Mas isso não é o caso aqui. Não se trata de um documentário. Minh-ha deixa claro: “Alguns chamam de Documentário. Eu chamo de Não Arte, Não Experimento, Não Ficção, Não Documentário. Dizer algo, ou nada e deixar que a realidade adentre. Se capturar. Isso, eu sinto, não há como se render. Os contrários se encontram e se cruzam e eu trabalho no limiar de todas essas categorias.” A multiplicidade das imagens é esse limiar, o limiar entre fato e ficção, palavra e silêncio, política e representação; em certo momento, a narradora nos diz: “O cinema que nos é dado como hegemônico é formado de efeitos especiais. Tal como a guerra.” Presenciamos a construção de uma sociedade em construção por imagens em construção que se retroalimentam. O que haveria de errado nisso?
Logo, não existe um caráter documental no cinema; tudo que há é o real e dele não existe mentira — tudo é verdade ou não é cinema, tampouco vida. O que existe é uma linha entre a realidade e a estetização de uma realidade. Estetização essa, comum no cinema hollywoodiano; a exposição da matéria filmada enquanto material de vivissecção pura e simples. O prazer puramente criado e articulado por uma sociedade visual por natureza — a sociedade que cria e recria imagens, cria e recria mulheres, cria e recria a guerra incessantemente para satisfazer um tipo de prazer desprazeroso; o prazer do desastre, da guerra, da estetização da desgraça. A exploração da matéria filmada para lançar o olhar com condescendência, acreditar que o olhar dominante é o único possível em termos de discurso.
Mas não estamos falando aqui de estetização, e tampouco de hegemonias possíveis. E Minh-ha, após noventa minutos dos 108 de filme, abre o seu jogo: Se isso é uma não arte e um não experimento e o cinema é feito de efeitos especiais, que Surname Viet Given Name Nam também o seja. Ela nos diz que há uma verdade nos depoimentos das cinco mulheres, mas nos é retida, selecionada e deslocada. São usados critérios como idade, profissão, região. Os discursos são cortados e recortados. Entre a linguagem interior e a verdade exterior, temos a espontaneidade das mulheres contando tantas histórias com naturalidade. Histórias essas que não são as delas. Elas são não atrizes, mulheres vietnamitas que imigraram para os Estados Unidos e, decidiram por bem, participar do filme como uma forma de desmistificar a identidade asiática e vietnamita como una – pois essa é uma tendência ocidentalista de massificação da cultura asiática como um evento feérico e exótico — denunciar as opressões das que ficaram em seu país de origem e interditar o discurso de que o sacrifício e a anulação enquanto mulher e ser ativo na sociedade são a única forma de sobrevivência. E esse é dos trunfos, o maior trunfo de Surname Viet Given Name Nam: dar a possibilidade de ouvir os dois lados da matéria filmada. Os lados de quem atravessou oceanos para contar a história de quem ficou.

II) Discurso:
“Nós somos exibidos como gabinetes de curiosidades na Segunda, exaltados como cultura na Terça, denunciados como imorais e insalubres na Quarta, reapresentados como experimentos científicos na Quinta, celebrados por algum motivo estético obscuro na Sexta, esquecidos no Sábado e revistos como pitorescos no Domingo. Nós somos mal interpretados pela crítica especializada e estamos sujeitos ao imperialismo espiritual, nossos esforços mais sagrados são tomados como objetos de escambo, nossas histórias traçadas, nossa psique analisada, e quando todos se aproveitaram de nós de todas as maneiras, somos expulsos de nossas terras natais, de nossas casas modestas e colocados em arranha-céus cromados.”
— Maya Deren em The Divine Horsemen.
O ponto central de Surname é trazer para o primeiro plano questões que vão além da superfície do material filmado; a ideia de uma representação do irrepresentável – no sentido daquilo que não está projetado em grandes salas de cinema como protagonista. Ao tratar da mulher vietnamita encoberta por imagens e referenciais que as sufocam, nas linhas que se entrecruzam entre o tradicional e o ocidental colonizador, os padrões estabelecidos de comportamento esperados para as mulheres seguem os mesmos, tanto para as que cruzaram o oceano quanto para as que ficaram. Em um trecho do filme uma das personagens nos diz “tudo o que temos é a esperança de uma sociedade melhor, mas o sol nasce todos os dias e permanecemos no mesmo lugar”. Entre o capitalismo e o comunismo, abre-se uma fenda que engole as mulheres igualmente: entre as mães solo, donas de casa, médicas, elas falam em espíritos sem vida e sem individuação.
Porém, lado a lado com mulheres que se aniquilam, a estrutura fílmica se vale da citação direta de The Tale of Kiều, um épico fundador escrito por Nguyen Du no século XIX, considerado como um conto norteador da moral e da construção histórica da sociedade vietnamita. Kiều, uma jovem, se vê refém das circunstâncias familiares e, para salvar a família, tem de se sacrificar enquanto mulher pura e casta e passar por privações que a deixam à margem da sociedade. O arco de Kiều é marcado por uma espécie de redenção à revelia, pois salva a família e não salva a si mesma, indo parar numa espécie de claustro. A ideia de uma mulher que se desprende dos papéis socialmente impostos não como questionamento sobre feminilidade ou de questionamento do papel patriarcal, mas sim como forma de preservação familiar, proteção do marido, obediência aos filhos, aceitar tudo com resiliência e silêncio dentro das casas e longe dos locais de trabalho é um dos pilares da sociedade vietnamita, que perdura até hoje. As mulheres, mesmo as que se revelam não atrizes e estão em outro país, dizem: “Disse aos meus amigos que faria um filme para contar a história da mulher vietnamita e, para atrizes e pessoas que mexem com esse tipo de coisa, há termos não tão educados.” Kiều, tanto como as atrizes do filme, passou por tormentos e tribulações, apesar de. E essa é a experiência unificadora, um conto cautelar que ressoa na vida de todas, de uma maneira ou de outra. Todas vencem, tornam-se diferentes à sua maneira, trabalham, provém sustento, são profissionais, saem dos lares e do papel doméstico, mas ainda assim, as raízes ficam expostas por gerações e gerações, mesmo após cruzar um oceano.
Nesse caso, o local do não documental e da não etnografia proposta por Minh-ha enquanto um estudo do povo, é, antes de mais nada, o falar ao lado, criticar abertamente a ideia de que o documental (ou o estudo do real) ofereça uma única possibilidade de discurso e de representação. Não existe um único real; tanto o real quanto a realidade existentes no mundo que nos cerca é subjetivo e plurivocal.
No filme, ao utilizar imagens de arquivo, poemas, analogias, canções e depoimentos das mulheres vietnamitas como forma de representar as opressões sistêmicas que abarcam classe, gênero, cor, política e colonização, expande-se um horizonte discursivo, um horizonte tão complexo que uma simples expedição de caráter científico analítico não daria conta. Afinal, o relato científico lida com um ambiente controlável e lida com um único Outro. As tradições orais, a cultura, a dissolução das imagens, o entrecortar das vozes, o desfazer e refazer da linguagem, a tradução, a leitura e a constituição da identidade são Outros, muitos Outros. Se não há documentário per se — estruturado e teorizado por tantos outros, revivido e debatido em batalhas do Antigo contra o Moderno — há uma ressurreição do real pela ficcionalização e pela narração; o reforço de que há uma sociedade cindida por mazelas políticas não exime que as histórias não sejam contadas, que o real não seja retratado tal qual por diferentes vozes.
Contar histórias e se fazer preciso é, talvez, uma das metas do cinema e da literatura de modo geral. Independente de cinema narrativo ou experimental, há sempre algo a se contar. E, grosso modo, a transmissão de um conteúdo para outro meio ou linguagem é o que chamamos de tradução. Nem todo conteúdo tradutório é simples; mas, como disse Haroldo de Campos, quanto mais inçado de dificuldades for o texto, mais recriável e mais sedutor ele se torna enquanto possibilidade de recriação. Surname Viet Given Name Nam nos mostra que a tradução cultural de imagens, discursos, vozes, não toma o objeto filmado de assalto e o destitui da verdade, mas sim, a reforça o suficiente para dizer que enquanto houver mulheres no Vietnã (ou fora dele) que nos contem a história das que estiveram e estão lá, a história será sempre reescrita, ressignificada, retomada pelas imagens e pelas vozes.
“O seu nome era privilégio, mas o dela era possibilidade. O seu era a mesma história, mas o dela era um novo conto sobre a possibilidade de mudança de uma história que permanece inacabada, que inclui todos nós, que importa tanto, mas tanto, que veremos, faremos e contaremos nas semanas, meses, anos, décadas por vir.”
— Rebecca Solnit, em Men Explain Things to Me.

O LUGAR ONDE EU APRENDI A PENSAR AUDIOVISUALMENTE FOI NUM TERREIRO: ENTREVISTA COM VIVIANE FERREIRA
Nossa terceira entrevistada é Viviane Ferreira e o texto “O lugar onde eu aprendi a pensar audiovisualmente foi num terreiro” é fruto dessa conversa que tivemos em junho de 2020, de forma online. As entrevistas são parte da minha pesquisa de mestrado, que reflete sobre os olhares agenciados por diretoras negras do cinema brasileiro. Ao longo de dois anos e meio pude acompanhar, refletir e conversar com Viviane Ferreira, Everlane Moraes, Glenda Nicácio e Renata Martins. A pesquisa foi realizada pelo Programa de Pós Graduação em Meio e Processos Audiovisuais da ECA/USP com auxílio da FAPESP e do CNPq.
Do Coqueiro Grande, periferia de Salvador (BA), Viviane se formou cineasta circulando por muitos espaços: no terreiro fundado por sua bisavó, nas apresentações de teatro no bar de sua tia, nos cursos de formação da CIPÓ e do CEAFRO, nas aulas de cavaquinho, e outros. A curiosa menina que lavava o tanque com anil se perguntava se era algo como aquela substância que deixava o mar do filme “Lagoa Azul” tão azul. Com esse olhar múltiplo que se tornou uma das figuras mais relevantes do cinema atual. Pela Odun Produções, dirigiu os documentários “Peregrinação” (2014), “Dê sua ideia, debata!” (2008), os videoclipes “D’origem Africana” (2013) e “Amor ao Rap” (2012); os curtas de ficção “Mumbi7cena Pós Burkina” (2007) e “O Dia de Jerusa” (2014); e em 2019 o longa-metragem de ficção “O dia com Jerusa” (disponível na Netflix). A formação política ao longo de sua trajetória, marcada pelas instituições que passou, a fez uma cineasta que acredita pisicianamente na construção coletiva de um cinema comprometido com a emancipação e liberdade das pessoas pretas. Em sua trajetória, foi uma das fundadoras e presidente da Associação de Profissionais do Audiovisual Negro (APAN) e atualmente é diretora-presidente da SPCINE. Boa leitura!
Lygia Pereira: A primeira coisa que eu costumo perguntar é basicamente para você se apresentar. Quem você é? Da onde você vem? E como você chega no audiovisual?
Viviane Ferreira: Eu sou do Coqueiro Grande e é importante pra mim sempre começar por aí, Coqueiro Grande é um bairro na periferia de Salvador, na Bahia, e eu chego no audiovisual porque venho de uma família que eu acho que se eu precisasse descrever em duas palavras seria: liberdade e sonho. Então assim, é um incentivo à liberdade de sonhar naquele Coqueiro Grande que às vezes até a gente se assusta com a ausência de limites pra isso. E mesmo estando num bairro da periferia de Salvador, que obviamente vivenciou e vivencia todas as limitações de uma periferia, eu tive a possibilidade de experimentar tudo aquilo que eu me interessei por experimentar, saca? No Coqueiro Grande tinha plateia pra tudo. Então eu queria pintar, minha mãe comprou a tela do tamanho que dava pra comprar, as tintas guache que era o que cabia também no bolso de uma manicure e a parte a óleo eu fiz com os esmaltes dela mesmo e tava tudo certo. A única coisa era que a arte ficou muito feia. Naquela época eu ainda não sabia direito ainda o que era expressionismo, surrealismo, se não eu poderia ter defendido melhor minha arte, mas na minha exposição particular pra família minha arte foi reprovada porque era tudo muito feio e eu precisava melhorar um tantinho mais. Nesse negócio de ser reprovada, eu desgostei, não quis mais ser artista plástica. Já tava em outra vibe e aí quis fazer teatro. A gente montou um grupo de teatro no bairro e fazia apresentações na igreja, nos terreiros de Candomblé. No Coqueiro Grande tem uma quantidade de terreiro, no bairro e na adjacência, então a gente fazia apresentações de teatro nos terreiros, nas igrejas e nos bares. Tinha dois bares de minhas tias e em dia de domingo a gente fazia apresentações no bar de tia Denga e no bar de Jurema. Então esses eram os nossos palcos: terreiro, bar e igreja.
Com dezesseis foi quando eu fui pro CEFET e aí eu fui viver o centro da cidade e meio que me afastei das atividades coletivas do bairro. Com dezesseis rolou esse afastamento, mas dos onze aos dezesseis eu era super atuante em tudo. Eu queria ser esportista, então, eu comecei a jogar futebol. Eu participava do time de futebol do bairro, da igreja. Aí na escola fui pra banda, pra fanfarra, aprender a tocar caixa. Queria instrumento de sopro, mas eu tenho problema no pulmão, então eu nunca consegui instrumento de sopro. Aí decidi ir pro cavaquinho. e aí Comecei a estudar cavaquinho e abandonei artes plásticas. Me desinteressei mais por teatro, queria ser cavaquinista e tocar chorinho. E eu tô falando dessas coisas, porque o audiovisual chegou desse jeito. Eu assistia muito filme e aí todas as sessões de filme, Sessão da Tarde, Tela Quente…
L: Era mais televisão?
V: Era mais televisão. Acho que eram dois rituais: assistir TV e ir na locadora pegar fita VHS. Só que para pegar fita VHS eu dependia das minhas primas mais velhas, então não era uma coisa que eu conseguia organizar a depender do meu desejo. Tinha que juntar a galera que ia pagar pelos filmes e ainda tinha que dar sorte das pessoas quererem assistir os mesmos filmes que eu. Mas tudo que passava na televisão eu via enlouquecidamente. E aí teve um dia que de manhã eu tinha lavado o tanque… O tanque da casa de minha tia era aqueles tanques construídos de alvenaria e aí você precisa lavar constantemente por causa de dengue e todas essas coisas. Tem um produto chamado anil, que você coloca dentro do tanque pra purificar a água. Até hoje eu não pesquisei pra saber as propriedades do anil, vou fazer isso. Eu tinha lavado o tanque com a minha tia, a gente terminou, ela jogou o anil e o anil vai dissolvendo e a água fica toda azulzinha e aí vai ficando transparente de novo, negócio bem massa. Naquele dia passou na Sessão da Tarde Lagoa Azul ou De volta à Lagoa Azul e eu lembro da cor do mar do filme, e eu falava: “Caramba, como é que faz o mar ficar com essa cor?” Porque era um azul muito forte e não é a mesma cor do mar de Salvador. E eu fiquei: “Será que os caras usam anil no momento que tão fazendo o filme?”
Eu fiquei nessa coisa de tentar descobrir como eles tinham deixado aquele mar tão azul e comecei a pensar sobre isso. Eu lembro que naquele mesmo dia, na madrugada, eles passaram um filme com o Tarantino. Lá na Tela Quente eles passaram “Um drinque no inferno” e aí eu fiquei muito alucinada de como eles tinham conseguido garantir os efeitos e as porradas e os cortes de cabeça daquele filme. Eu lembro que no outro dia conversando com minha mãe eu falei: “Nossa esse negócio de fazer filme deve ser muito massa, imagina? Você colocar um azul tão azul quanto o tanque de tia Nenga.” Comecei a falar dessas coisas e eu sei que coisa de duas ou três semanas depois, minha mãe apareceu em casa com um folheto da “Cipó – Comunicação Interativa”. A Cipó é uma ONG que tem em Salvador que dava formação pra jovens naquele período, dava formação inicial em audiovisual, fotografia e várias coisas, e tava com processo seletivo aberto. Ela me inscreveu no processo, eu passei, e na Cipó acabou sendo o meu primeiro contato com a câmera, com o universo e com o pensar audiovisual. E daí pra cá o bichinho mordeu, porque as revoluções começaram a acontecer nesse período. Eu fazia Cinema, TV e Vídeo na Cipó, estudava cavaquinho na Escola de Cadetes Mirins, em Lauro de Freitas em parceria com a Aeronáutica — a ideia era formar jovens que quisessem ingressar na carreira na aeronáutica e eu tinha intenção de ser piloto ou construir avião. Além disso, eu já fazia teatro no CEAFRO, que é a organização de mulheres negras que fica no 2 de julho, no centro de Salvador. E aí nesse processo todo, na Cipó a gente tinha acesso à informação e à técnica e a pensar o audiovisual de uma perspectiva social. No CEAFRO era a discussão das questões raciais, com recorte de gênero, se utilizava muito as linguagens artísticas pra isso. Lá tinha essa coisa da sedimentação do pensamento racial, dos processos, e a gente tinha constantemente atividades de cineclube no CEAFRO. E quem fazia, quem coordenava essas atividades de cineclube era Luís Orlando. Luís Orlando foi um dos maiores cineclubistas que esse país conheceu. Lembro que numa das atividades do cineclube eu falei para Luís Orlando que eu queria fazer cinema, que eu queria ser roteirista, e ele me perguntou que cinema eu queria fazer. Aí eu falei: “Ah, Luís, cinema é cinema”, ele falou: “Não, você precisa decidir. Você quer fazer cinema negro, você quer fazer cinema de branco, que cinema você quer fazer?”. E aí ele começou a me apresentar algumas coisas, ele me apresentou Sembène, me apresentou o Zózimo Bulbul. Então a primeira pessoa a me falar de Zózimo Bulbul na vida foi Luís Orlando, saca? Que me apresentou os filmes do Joel Zito. E aí nessa dinâmica do pensar fazer cinema, a partir do momento que eu comecei a pensar de fato em fazer, porque eu tava nessa fase de escolher o que fazer no vestibular, já não tinha mais outra alternativa pra mim que não fosse pensar em fazer cinema negro. Essa ideia que me interessava, de fazer um cinema para contribuir com as lutas de combate ao racismo foi muito forte, foi construída ali durante meu processo de estada entre o CEAFRO e a CIPÓ.
L: Como você vê o cinema negro na transmissão de modos de viver? E como você pensa/observa o cinema negro em termos estéticos?
V: Pensar o cinema negro como transmissão dos modos viver é acreditar e defender um cinema que é feito a partir de experiências de corpos e de um grupo que foi pouco representado distante de estereótipos. Então é pensar nas diversas formas de sobrevivência, porque é difícil a gente falar em viver no sufocamento do racismo que a gente vive no Brasil. Mas as diversas formas de sobrevivência inventadas pela população negra no Brasil são um repertório muito vasto. Eu acho que, sobretudo, fazer cinema negro é olhar para esses raqueamentos de continuar existindo. É a gente conseguir olhar para um filme como o “Aquém das Nuvens” [de Renata Martins] e entender que, na zona leste, periferia de São Paulo, você tinha ali um amor preto que durou muitos e muitos anos e que seguiu no além vida. Então a imagem de um casal de idosos pretos apaixonados é de um raqueamento de modos de viver absurdo, porque você pensar que são corpos que nesse sistema que a gente tá, existem pra morte, e conseguiram envelhecer, mais do que conseguiram envelhecer, conseguiram envelhecer se amando, mais do que o amor protocolar, na real eles viveram em processo de paixão até aquela altura da vida. Eu olho pro cinema negro desse lugar, a gente tem dores e delícias nesse processo de raqueamento de nossa permanência nessa diáspora, e aí são pras dores e delícias desses corpos que o cinema negro olha como modo de vida, como modo de existência. Pra mim não dá pra sintetizar em uma única forma, em um único modo. Consequentemente não dá pra gente defender uma única estética para o cinema negro. Talvez com esse afã e esse desejo de unificar as coisas, talvez pra apaziguar os corações da galera que gosta muito de perguntar qual é a estética do cinema negro, é a gente dizer que o cinema negro é composto por uma estética múltipla. É um movimento multiestético, multifacetado, ele é diverso porque as existências negras são diversas e elas são muito diferentes entre si. Elas podem se assemelhar em algumas coisas, mas a gente pode encontrar existências negras antagônicas e díspares a depender do contexto que a gente for apontar nossa câmera. E erigir nossa narrativa é um movimento que produz narrativa e que garante produtos e peças muito complexas. Porque não dá pra você pegar, por exemplo, o “Pattaki” [de Everlane Moraes] e olhar na mesma régua que você olha “Café com canela” [de Glenda Nicácio e Ary Rosa], eu iria falar que não dá pra você pegar o “Aquém das nuvens” e olhar na mesma régua que o “Dia com Jerusa”, mas você consegue identificar aproximações, sabe? Tem conexões entre essas duas narrativas, mas entre elas também têm pontos de muito antagonismo, elas também olham para lugares muito diferentes. Você vai olhar o “Aquém” e tem uma narrativa muito redonda e clássica, do início ao fim, cê vai olhar pro “Dia de Jerusa”, você vai precisar tá com o olhar treinado para vivenciar coisas em camadas, do contrário você vai questionar toda a parte inicial do filme, do contrário você vai dizer: “Ah, mas pra que esses personagens aí na rua?”, “Mas por quê existe o Kleber com um poema do Luiz Gama abrindo, se depois a gente tá na casa dessa senhora, esse personagem não aparece?” São coisas que a gente vai ouvindo e precisando explicar no meio do caminho que torna nossos fazeres muito específicos, em determinadas questões. E é muito legal, porque os filmes vão encontrar pontos de diálogo, mas eles vão defender uma singularidade existencial, tal qual os nossos corpos defendem o direito pela própria singularidade. Eu gosto muito da ideia do corpo negro território.
É complexo você pensar os modos de viver do cinema negro, dos movimentos de cinema negro, porque primeiro você precisa entender que o próprio movimento é múltiplo. Depois, você precisa ter noção de que o corpo negro que integra esse movimento precisa dizer que integra, porque existem pessoas negras que fazem audiovisual em outros movimentos que não o movimento de audiovisual negro e essas pessoas também têm o direito de fazê-lo. Então é importante que você saiba que se a pessoa que você tá colocando na caixinha de cinema negro, ela de fato se identifica e se autodeclarou como integrante desse movimento. Pra mim, se você tem uma coisa que unifica de alguma maneira nossa estética é um compromisso político com a desconstrução de estereótipos sobre as nossas existências. E a maneira que a gente vai desconstruir esses estereótipos são infinitas.

L: Gostei muito do que você falou. Observo estéticas e linguagens muito diferentes entre você, Everlane, Glenda e Renata, por exemplo. Pegando o gancho do compromisso político, queria saber um pouco mais das suas escolhas estéticas. Como é o seu processo criativo, por exemplo?
V: Eu tenho um fluxo de pensamento que é muito acelerado. Eu tenho muitos cadernos, porque eu rabisco muito. Tem coisas que eu não consigo traduzir em palavras, então eu rabisco e aí no dia seguinte eu já não sei mais o que o rabisco significa, mas naquele momento era importante pra reduzir o fluxo de pensamento, até para conseguir descansar ou simplesmente viver. Nesse sentido, eu fui me entendendo também e construindo de um jeito que eu chamo de camadas. Eu faço muitas coisas, e eu sempre fiz muitas coisas ao mesmo tempo, eu sempre transitei em universos muito diferentes desde sempre, então ao mesmo tempo que eu estava crescendo dentro do terreiro de Candomblé, eu tava fazendo crisma, primeira comunhão na Igreja e gostando de todas as coisas, essas coisas não estavam em conflito não. Entendendo que tinha coisas que eu gostava na Igreja, então eu vivenciava na Igreja, tinha coisas que eu gostava no terreiro, eu vivenciava no terreiro, e tinha coisas que eu não gostava em nenhum dos dois espaços, então eu não aparecia nas coisas que eu não gostava. Ao mesmo tempo que eu tocava cavaquinho, eu fazia teatro, ao mesmo tempo que eu pensava como é que fazia cinema, eu tava jogando futebol, pensando que de fato eu poderia entrar pra seleção brasileira de futebol um dia. E isso me acompanha também nas minhas escolhas profissionais, da mesma maneira que eu saí de Salvador muito certa de que estava vindo pra São Paulo estudar cinema, pra mim não foi um problema ou uma crise fazer a faculdade de Direito, porque era desejo também estudar Direito e não era conflitante. Eu não consigo olhar pro mundo enxergando as muitas coisas como antagônicas ou como numa relação de disputa e do conflito, acho que eu sou muito da filosofia do “cabendo tudo dá”, sabe? Organizando todo mundo come. Que é o princípio de você pensar no Caruru de Cosme e Damião na Bahia e aí você tem lá um alguidá gigante no centro da sala, e você tem doze meninos comendo ali ao mesmo tempo, sete meninos comendo ao mesmo tempo naquele mesmo alguidá e tem frango pra todo mundo, tem caruru pra todo mundo, tem de tudo pra todo mundo. E se você não gostar da banana frita, você não vai comer a banana frita, não vai comer a rapadura, vai intercambiar ali. Então esse fluxo de coisas diferentes pra mim não é conflituoso, não é um problema. Então quando eu produzo, no ponto de vista audiovisual, as narrativas também vêm desse lugar múltiplo, em camadas. Eu tenho a sensação real de que acabo sempre começando falando de muitas coisas ao mesmo tempo, e coisas grandes e complexas, em um espaço de tempo que, se a gente for pensar as orientações clássicas da narrativa audiovisual, seria melhor dividir em três ou quatro filmes. Mas também são questões que acabam me inquietando e me atravessando ao mesmo tempo, então eu não conseguiria dar conta delas de maneira isolada. E aí isso acaba indo pros filmes de maneira muito veemente. Eu precisei entender que isso tem a ver com a forma como eu penso, a forma como eu olho pro mundo, a forma como eu vivo, pra eu entender que eu não estava fazendo cinema errado, então entender que é o meu processo criativo, que é minha forma de pensar e minha forma de me expressar e compartilhar com o mundo.
Do ponto de vista estético tem duas coisas que me chamam muito, que é que eu reflito muito sobre o tempo, o tempo como unidade, o tempo como elemento. Eu sou do Candomblé Angola e pro Angola tempo é Orixá, então é energia que orienta e que conduz tudo, essa noção do “Tudo com tempo tem tempo”, sabe? Tempo acaba sendo uma energia que me orienta muito e quando tô olhando pra narrativa, tanto a narrativa do Mumbi [Mumbi 7 Cenas Pós-Burkina], quanto no Jerusa, a reflexão sobre esse tempo existencial tá ali. Eu tentei traduzir isso pro tempo dos planos, e eu tentei traduzir isso pro tempo entre as personagens. Uma coisa é você olhar pra Mumbi e você pensar na relação dela com o tempo com que aquela personagem insone que fica presa na cama e tá presa no presente refletindo sobre um futuro incerto dela, que só ela pode encontrar dentro dela as respostas pra aquilo, mas ela tá questionando o momento dela, ela tá questionando o tempo e tá lidando com isso e ao mesmo tempo no Mumbi era falado do tempo histórico da arte cinematográfica. Então o que a gente tem projetado nas paredes do quarto dela como se fossem pensamentos filmados, é uma linha do tempo da história do cinema de alguma forma e aí eu fico sempre pensando que os planos precisam garantir tempo pra gente observar a angústia e a sensação daquelas personagens. Essa coisa do plano, que você tem tempo de sentir o que tá acontecendo é algo que você consegue ver, tanto no Mumbi quanto no Jerusa, ou até mesmo nos videoclipes, porque é algo que me inquieta, porque eu fico pensando e eu quero entender como que o tempo funciona e como é que ele age em nossa vida, inclusive cinematograficamente falando.

O outro elemento é a questão da oralidade. Eu sou do Candomblé desde sempre, tenho 35 anos de idade, nascida no terreiro, vim do terreiro, minha bisavó fundou um terreiro em 1940 e vivi minha vida inteira de frente pra esse terreiro. E em um dado momento eu entendi que o lugar onde eu mais assisti cinema, onde eu mais vivenciei cinema foi dentro do terreiro. Pra mim as cerimônias e os rituais são completamente audiovisuais e é por isso que eu gosto muito do termo audiovisual, porque acho que o audiovisual expande a compreensão das coisas e a compreensão da produção imagética mesmo e você também expande a possibilidade de legitimação de dispositivos. Então, se você compreende dentro de um terreiro de Candomblé o olho humano como dispositivo que captura essas imagens e a memória individual e coletiva é o que armazena tudo isso, e você consegue partir do princípio que a música, o som acompanham todos os processos dentro do terreiro e visualmente, cada ritual, cada cerimônia, tem a sua estética, a sua forma, as suas cores, os gestos e movimentos específicos, o que é aquilo cotidianamente que não seja uma vivência audiovisual? E aí audiovisual na sua essência porque toda tecnologia ainda é o corpo humano. Quando você pensa na criatividade, quando você pensa na memória individual e coletiva como armazenador dessas imagens, quando você pensa nesse lugar de testemunha ocular como o olho como dispositivo de captura dessas imagens. E aí eu comecei a questionar muito essa coisa de se pensar o cinema nessa chave do quanto menos se fala, melhor. Porque a oralidade dentro desse universo é fundamental para que a gente consiga garantir aquela experiência audiovisual de dentro de um terreiro, sobretudo no processo de transmissão da memória coletiva a oralidade é central. Eu não consigo me enxergar fazendo cinema reduzindo tanto a oralidade… Eu não consigo, porque o lugar que eu aprendi a pensar audiovisualmente foi num terreiro e aí quando eu entendi isso muita coisa se aquietou no meu coração, nas trocas com os colegas de profissão. Explico pra você porque são vocês, mas tem uma galera que eu não vou bater esse papo, não vai entender, não tô a fim de explicar e eu nem quero que aprenda pra ser bem sincera, não vou bater esse papo. A galera vai pegar meu filme, vai pegar meu roteiro e vai falar “nossa, mas é muito falado, corta o diálogo ali, corta o diálogo aqui”, eu vou ouvir, vou entender, mas eu não vou abrir mão da oralidade como uma investigação audiovisual. Quando eu olho pra minha construção de diálogo, por exemplo, o meu esforço é para garantir que eles sejam tão visuais quanto são as histórias que minha avó e minha bisavó me contaram. E eu modifico se eu percebo que, a partir do que está sendo dito, ou se eu recebo o feedback que a partir do que tá sendo dito a outra pessoa não consegue visualizar, vai pra um lugar de abstração, aí pra mim a própria oralidade deixa de ser audiovisual. Então do mesmo jeito que, do ponto de vista da orientação clássica do narrar cinematograficamente, a gente recebe o comando “olha, as descrições quanto mais visuais, melhor”, pra mim, o diálogo quanto mais visual melhor. Eu nem sei lhe dizer se eu faço isso bem, mas eu consigo compartilhar com você que, se existe uma cachaça estética que eu tenho, e tento fazer e investigar nos meus filmes, são esses dois elementos: a relação com o tempo e a relação com a oralidade, tentando transformá-la no mais visual possível. Eu acho que essa é a questão, porque aí você consegue trabalhar com a imaginação do outro, sabe? E quando você consegue trabalhar com a imaginação do outro, você consegue permitir que as outras pessoas reconheçam a liberdade da própria existência.
L: Em “O dia de Jerusa”, algo que eu reparei foi a relação com o tempo também. A Silvia preocupada com o futuro, Jerusa rememorando o passado e aquele encontro ali, que existe no momento do filme.
V: É isso, de alguma maneira na tríade, Silvia olhando pro futuro, Jerusa olhando pro passado e tudo acontecendo naquele encontro, naquele tempo presente. Lembra que eu falei que às vezes eu rabisco muito as coisas? Então, eu rabisquei muito o Sankofa para conseguir chegar nesse lugar. O brochezinho de Jerusa é um sankofa. Exatamente por conta dessa relação com a representação do tempo, e essa coisa do você pensar esse campo ainda que a partir de vivências específicas, você também está dialogando com signos que falam de nossos tempos, do ponto de vista coletivo. Então, fazia sentido naquele momento uma personagem como Silvia estar vinculada com as questões de pensar a universidade, seja no lugar de estudante como no curta, seja no lugar de professora como é no longa, porque são inquietações do nosso tempo. O curta foi feito num momento, no sufocamento de tudo. Estar na universidade era a utopia de que seríamos corpos salvos da mira da polícia, por exemplo. Assim, era utopia. Então a gente começou a se debater por todas as frestas possíveis, em todas as periferias desse país tentando encontrar um caminho que nos levasse até a universidade. A maneira como os movimentos sociais e como as políticas públicas, naquele momento, apontavam a universidade como caminho pra gente, era impossível não colocar a Silvia nesse conflito, que era o conflito do tempo. Quando eu venho fazer o longa, já em 2018, a gente já tem um novo conflito. A gente já tem gerações de corpos pretos formados academicamente, aos montes, a gente tem uma profusão de vozes em diversas áreas questionando as epistemologias acadêmicas, questionando os espaços e a saúde desses espaços para receber as nossas existências e entendendo que garantir uma multiplicidade, uma possibilidade de mais professores e professoras negras nos espaços acadêmicos é uma alternativa para que esses espaços também sejam vistos como espaços de cura e de construção saudável pra gente. Pra mim soava muito incoerente continuar num longa-metragem discutindo o conflito de uma jovem negra que estava querendo entrar na universidade. Porque na minha cabeça ela já tinha crescido, já tinha conseguido passar, e agora ela não queria mais só estudar, ela queria dar aula naquele espaço também. Então tem essas diferenças no processo que têm muito a ver com as questões que me inquietavam no tempo.
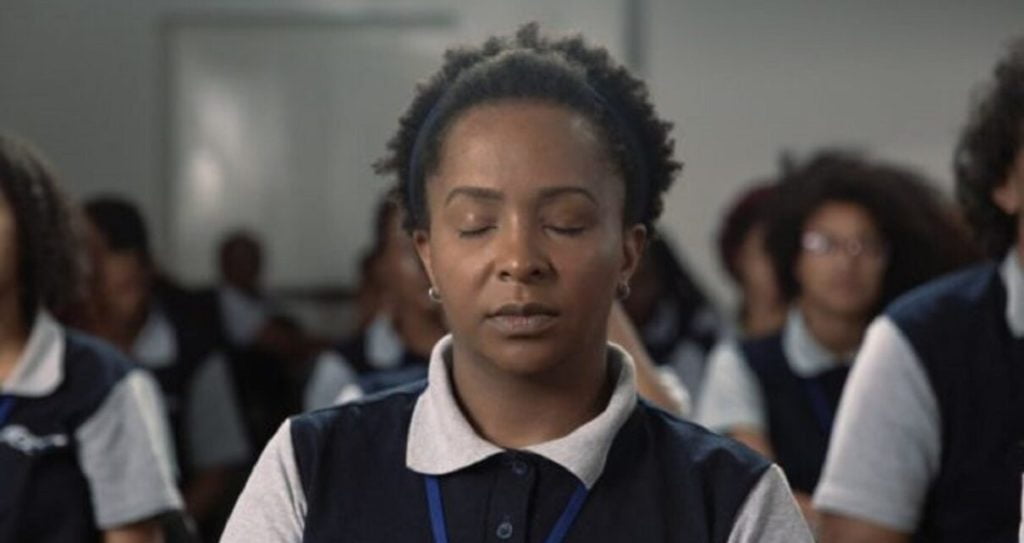
Há uma necessidade também de falar de algumas coisas de maneira coordenada e juntas em um momento só. É algo que tem a ver com a ausência de certezas da nossa possibilidade de continuar existindo no mundo audiovisual nessa posição de narradores e narradoras. Se você me perguntar hoje qual é a única certeza que eu tenho é: eu não sei sobreviver fazendo outra coisa. E isso me preocupa. Porque quando eu era adolescente, nas minhas férias eu ia pro salão com a minha mãe pra fazer unha. Porque minha mãe me dizia assim: “Olha, se nada der certo pelo menos a minha profissão você vai ter.” Mas eu não sei mais pegar no alicate. Então se der uma merda generalizada eu não vou conseguir… antes de eu fazer uma unha bem, como eu fazia quando eu tinha catorze anos, eu tive que cortar ou tirar muito bife de muita gente. Hoje eu já não sei mais fazer com habilidade e agilidade que eu fazia naquele momento.Tenho conversado com a Larissa, Fulana de Tal, a gente troca muito. E falei assim pra ela: “Laris, a gente tá muito fodida, velho.” Porque a gente entrou nesse negócio de viver de cinema e aí a gente desaprendeu a viver de outras coisas. A gente fala: “Não, tipo, mulher preta, massa! A gente dá conta de fazer qualquer coisa, o que vier a gente faz pra sobreviver…” É mentira. Eu não dou conta de sobreviver, por exemplo, como empregada doméstica, ou como diarista, e isso me atormenta. Porque é uma tecnologia que nos sustenta coletivamente há muitas gerações. Como é que a gente se apropria de novas tecnologias de existência sem esquecer as anteriores? Me atormenta demais me sentir incapaz de, se necessário, sobreviver da maneira que minha ancestrais sobreviveram, saca? Eu voltei a cozinhar alucinadamente pra relembrar. Eu acho que eu consigo inventar hoje de fazer três, quatro ou cinco pratos gourmet pra vender, e ainda vou depender de um público que acredite nesse rolê meio gourmet. Então, é um negócio que a gente precisa pensar pra dinâmica da sobrevivência. Mas, ao mesmo tempo, eu não sei fazer outra coisa pra viver que não seja cinema.

L: Acho que só fluiu, só fluindo, assim. Mas gostaria de ouvir você falar da APAN [Associação dxs Profissionais do Audiovisual Negro]. Acho que você é uma figura bem interessante de ouvir e emblemática pra gente pensar a articulação entre o cinema negro e a política.
V: Minha relação com as artes foi construída muito a partir de instituições e eu não consigo olhar pro mundo sem reconhecer a importância delas. Entendendo as instituições como elementos estruturantes e elementos a serem reestruturados conscientemente. Não é essa coisa da instituição do ponto de vista rígido. Elas existem e têm uma função de existir. E acredito que elas estão em disputa constantemente. Nesse sentido penso o Estado como instituição maior que acaba gerindo nossas vidas.
Eu acredito muito no processo de construção coletiva. Mas, agora no contexto da pandemia, sobretudo, tem uma galera sofrendo um choque de realidade e dizendo “Não, não… calma, calma.” Sabe. Se articular, importante, pensar no coletivo é importante, sabe, a gente não tem estrutura pra ficar sendo corpos pretos soltos nesse mundo, nessa selva violenta que é o audiovisual. Porque tipo o boy artista branco, que não é nem da vila Madalena, tá em outras questões da burguesia. “Mano, veio pandemia, de boa, vou pro sítio da família ficar mais distante do vírus. Enquanto isso vou usar esse tempo como ócio criativo, porque aí depois vou poder conectar com meu pai, com meu tio, meu padrinho, sei lá quem, que é dono daquela grande produtora ou CEO daquela plataforma de streaming, vou conseguir ofertar uma narrativa audiovisual sobre esses reles mortais”. Tipo, a nossa galera não. A nossa galera com cinquenta troféus, com não sei quantas passadas por tapete vermelhos nacionais e internacionais começou a se preocupar com aluguel, saca? Decretaram a pandemia dia 17 de março. Dia 20 tinha uma galera nossa desesperada porque não sabia como ia pagar o aluguel de abril. De repente chegou 25 de março, tava desesperada porque a dispensa tava ficando vazia e não sabia nem como acabar de comer em março pra entender como pagar o aluguel de abril, saca? Não tô dizendo que esse é o contexto bom não, mas eu acho que de alguma maneira a ferida real do processo ficou mais exposta pra uma galera. Estar em uma organização como a APAN nesse momento, nesse contexto, pra mim fez uma diferença do ponto de vista positivo, fundamental. A APAN é uma organização que nasce exatamente do nosso questionamento à institucionalidade. Então, você tava ali, tipo, 2013 acho que foi o boom dos primeiros desembolsos da ANCINE. Todo mundo tava filmando, a gente queria filmar também. A gente queria filmar com aquele dinheiro que todo mundo tava acessando. Quando a gente foi olhar os editais do FSA de 2014 aqueles critérios não funcionavam… Botava cara crachá, a gente não se identificava ali, saca? Aí a gente tinha o Encontro de Cinema Negro Zózimo Bulbul desde 2007, onde todos os anos a gente encontrava e Zózimo disse que ali era o lugar pra gente pensar estratégia para continuar existindo. Então a gente pensou estrategicamente que era importante chamar alguém da ANCINE lá pra explicar pra gente os critérios, mas mais do que explicar porque ousadia também faz parte da nossa existência, era pra dizer: “Vamo mudar esse negócio aí pra gente caber”. A gente não tava nem discutindo muito o formato, a gente só queria fazer parte. E o que a gente recebeu de retorno do pessoal da ANCINE naquele momento foi que as associações do setor tinham decidido aqueles critérios. O Estado não tinha decidido sozinho, o setor tinha decidido junto com o Estado. Aí a gente olhou, tomou na cara e falou assim, gente, mas que organizações são essas? Quem faz parte? Ninguém fazia parte. O Joel Zito tava lá, aí a gente falou assim: Joel, você faz parte? Joel falou assim: “Eu já fiz. Não faço mais, não tenho paciência, essas organizações não nos cabem, não nos querem, não nos escutam…”

Aí a gente falou: “Ah beleza, então a gente precisa criar a nossa…”. A APAN nasce daí. E naquele momento, quando terminou o encontro de 2014, eu lembro que a gente abriu um grupo secreto no Facebook e todo mundo do Brasil que a gente sabia que fazia audiovisual e era preto a gente foi enfiando nesse grupo secreto. A gente passou um ano discutindo, vendo estatuto de tudo quanto é organização pra gente conseguir chegar no que é o estatuto da APAN. E olhando pra história e trajetória dos movimentos negros a gente entendia que era importante a gente escolher, tipo, uma bandeira inicialmente, uma pauta política inicialmente e brigar por ela, assim, com unha e dentes. Aí nesse processo a gente escolhe a pauta das políticas de ações afirmativas. Primeiro, que a gente já tinha decisão no STF, que garantia a constitucionalidade da coisa. Segundo, que a gente já tinha o case de sucesso na educação. Aí eles entenderam que era um momento em que vários setores estavam discutindo ações afirmativas no mercado de trabalho. Pra gente era importante começar os debates via APAN pautando as políticas de ação afirmativas. E pra gente era importante, inclusive, reposicionar a compreensão em torno do conceito, porque me incomodava bastante essa coisa de reduzir as “ações afirmativas” à “política de cotas”.
A cota é uma espécie do gênero. Uma das coisas que a gente debateu muito era essa coisa que a gente precisava dizer que “não é só cotas”. É cotas e um monte de outras ações. A APAN se tornou um processo que a gente aprende todo dia como dar conta. Primeiro a gente entendeu que não fazia sentido ser uma organização de roteiristas, de diretores ou de produtores, porque a questão identitária, ela era do ponto de vista racial, era o que nos unia. Quando você fala da manifestação do racismo, ele se manifesta em todos os elos da cadeia.
A gente precisava dar conta disso, por isso que é Associação dos Profissionais do Audiovisual Negro, e não dos diretores ou produtores ou qualquer coisa do tipo, porque a gente tá falando de combater um fenômeno como o racismo, que acaba atingindo o corpo preto independentemente da função que ele esteja dentro do cenário. A outra coisa é essa parada de como a gente iria romper com esta hegemonia do Sudeste no audiovisual, então era importante que fosse uma organização nacional. Por mais que a gente já tenha iniciado com um número maior de pessoas presentes no eixo mesmo, tipo em São Paulo, acho que a presença da Bahia, e naquele momento inicial a gente tinha muitos integrantes do Tela Preta na associação, assim, fazia a gente puxar o olhar pro Nordeste, pro Norte, o tempo todo. Então, a APAN, por exemplo, é uma organização que até hoje a gente vai vivendo o desafio de conseguir atuar no país inteiro. E pra viver esse desafio tem uma coisa que é fundamental, que é você descentralizar as ações. Descentralização é você descentralizar a possibilidade de representação. A gente precisava pensar a coisa e sistemas desassociados e que as associadas conseguissem no seu lugar também falar em nome da organização. Esse é um processo que, nos últimos três anos, gradativamente tem acontecido. Eu fico muito feliz com o processo, porque não é fácil, não é simples, mas ao mesmo tempo a gente tem conseguido juntar muita gente boa, muita gente comprometida. Tem sido um passo que, independente das ações diretamente institucionais, as pessoas têm conseguido se conectar e seguir alternativas umas pras outras. E acho que é isso. Acho que a APAN no audiovisual é uma organização que pelo menos se pretende a existir como uma irmandade dos desvalidos, a irmandade da boa morte, saca?
Então, mais do que se pensar nesse lugar das instituições no formato meio cartesiano de existência, a gente tem olhado muito para experiências de instituições negras que conseguiram se manter vivas por séculos. Então assim, acho que a Sociedade dos Desvalidos [Sociedade Protetora dos Desvalidos] é muito massa de você olhar pra forma de organização, dessa organização que surge para garantir a morte digna pras pessoas pretas ainda no período da escravização. A partir dessa organização negra, por exemplo, que o Estado organiza o que a gente hoje conhece como INSS.
L: Ao falar da APAN, das irmandades, das ganhadeiras, você fala de muita coisa. Essa organização, essa produção de sentido, de ideias é o que, conscientemente ou não, acho que isso é que sustenta a população negra brasileira.
V: Por isso que eu gosto muito de questionar o dispositivo. Você pensar o universo do axé como um universo essencialmente audiovisual, entendendo o corpo, entendo o olho como esse dispositivo que captura as imagens. Se a gente parte desse princípio, eu conseguiria fazer a afirmação de que uma Ialorixá, ela é essencialmente uma cineasta. Eu consigo acolher essa afirmação. Mas, na década de 90, uma mulher preta com uma câmera de vídeo, ela não era chamada de cineasta porque ela não tava operando película, mas ela tava produzindo imagem. Se a gente não enfrenta o debate sobre o que é legitimado como dispositivo de captura imagética, a gente abre mão de séculos de produção de imagens garantidos por nós mesmos sobre nossa própria existência narrativa. Porque eu posso não ter a foto da minha bisavó materna, mas eu tenho a imagem dela gravada porque minha tia avó me falou que ela era uma preta, esguia, nobre, uma mulher muito brava. Eu consigo imaginar. Diante de um registro de retrato falado eu conseguiria rever aquilo que minha tia avó me falou sobre minha bisavó, e conseguir olhar para um retrato dela. Porque a imagem foi produzida pra mim do ponto de vista oral e o dispositivo usado pra capturar aquela imagem foi o olhar da minha tia avó. Então, se eu considero isso como um dispositivo histórico, historicamente sempre existiram cineastas negras. É necessário que o nosso ponto de partida para acolhida da nossa produção imagética seja útil. Porque a nossa experiência de vida e de existência é outra.
L: Você gostaria de acrescentar alguma coisa?
V: Tem uma coisa, Lygia, pensando um pouco como sintetizar como eu vejo essa atuação da APAN e todas essas coisas que a gente tá fazendo. Quando lá na minha dissertação do mestrado eu falo dos movimentos de cinema negro como um movimento organizado por três elementos, que são: corpo negro território, o poder de invenção e a liberdade poética. Pra mim a APAN atua diretamente na nossa possibilidade de garantir esse poder de invenção. Porque a gente precisa de ferramentas para inventar, a gente precisa de condições para seguir inventando, pra seguir criando. A partir das perguntas: Quem pode criar? Quem pode imaginar? Quem tem as condições ideais? Quem come todo dia pra conseguir fazer isso com tranquilidade? Quem tem o melhor ambiente pra fazer isso? E depois que você inventa, quem pode experimentar? Quem tem a possibilidade de errar e experimentar de novo, e tentar de novo até chegar numa elaboração possível de dizer: “Nesse momento eu consigo apresentar essa obra”? Então acho que tudo que a APAN faz e tenta fazer nesse contexto é se somar aos movimentos de audiovisuais negros, defendendo e abrindo caminhos para que cada dia a gente tenha mais poder de invenção. E quanto, do ponto de vista estético, a gente consegue conectar diretamente com essa coisa do corpo negro território e com a liberdade poética, a liberdade de fazer aquilo que a gente quiser, como a gente quiser, na linguagem que a gente quiser. Eu acho que, institucionalmente, tem aí uma responsabilidade com o eixo do poder de invenção.

Um dia com Jerusa está disponível na Netflix.
RASCUNHOS RUIDOSOS: O CINEMA DE PAULA GAITÁN
Ilustração de Isabella Pina
“O ouvido não tem preferência particular por um ‘ponto de vista’. Nós somos envolvidos pelo som. Este forma uma rede sem costuras em torno de nós. Costumamos dizer: ‘A música encherá o ar.’ Nunca dizemos: ‘A música encherá um segmento particular do ar”.
— Marshall McLuhan
No cinema, há uma relação entre som e imagem que é naturalizada. Essa convenção prevê que a coexistência dessas duas linguagens — como elementos que se acompanham — depende da atividade espectatorial. Ou seja, nós, dimensionadas pela própria experiência de visionamento, construímos todas as relações entre som e imagem nos filmes. No entanto, há uma disparidade entre a visão e a Audiovisão1, quando penso na autonomia da espectadora de interceder no embate entre seu próprio corpo e os filmes. Esse quadro envolve ambiguidades e imprecisões que me parecem ter raízes na própria evidência visual na tela do cinema que, inevitavelmente, é mediada pelo olhar de quem assiste.


O visível está sempre em disputa com o invisível, uma vez que podemos fechar os olhos e escolher quais imagens queremos ver. Contudo, o som não pode ser mediado pelos ouvidos de quem escuta, não podemos nos fechar para as sonoridades — tão pouco para os ruídos. Talvez, a desconfiança no ouvido (é bíblico que é preciso “ver para crer”) aconteça em função de não possuirmos pálpebras sonoras2. Então, como suscitar imagens pelo som e reconstruir imageticamente a experiência não mediada das densidades sonoras que não se obstruem entre si, mas que estão em choque constante com o corpo de quem vê e escuta?
Quiçá, a filmografia de Paula Gaitán, uma das cineastas mais originais do nosso tempo, possa ser um caminho possível para responder essas perguntas. Em suas produções mais recentes, Paula assume a impossibilidade da mediação corpórea do som — ou em outras palavras o fato de não termos autonomia sobre o que podemos ou não ouvir — como método. Pela inquietude de seu próprio corpo-câmera, traduz as modulações dos sons, silêncios e ruídos para as texturas da imagem. Em Noite (2015) e Sutis Interferências (2016), a associação livre entre as técnicas do cinema e o caráter inexorável (ou implacável) da música são exemplos de sua artesania. Nesse caso, só ver não é o suficiente, precisamos nos abrir para a escuta.
II.

No silêncio absoluto da imagem (a tela preta), o som se manifesta através de repetições obsessivas e ritmadas. Logo de início, a construção narrativa de Noite (2015) indica o esforço da realizadora em criar cadências, impor ritmos e ressonâncias. Nos primeiros dois minutos e trinta e seis segundos não há experiência visual, apenas sonoridades. Em vista disso, a paisagem sonora é pensada antes da imagem e também é o que vai delimitar, posteriormente, o ritmo visual. Na primeira cena, onde têm-se uma tela exibindo 2001: uma odisséia no espaço (1968), filme dirigido por Stanley Kubrick, percebemos que a câmera estabelece um jogo de relações simultâneas: Paula filma telas que exibem outros filmes, outras cenas, outros shows, outras performances… e constrói texturas que brincam com a qualidade plástica da imagem. Vários elementos visuais coexistem para construir um ritmo, assim como a reverberação sonora que introduz a narrativa fílmica. De certo modo, Paula assume os ruídos das imagens para nos auxiliar a ver o que ouvimos.
Bullerengue, música eletrônica, rock progressivo, jazz e MPB são alguns exemplos dos muitos ritmos articulados no filme. No desenho de som de Noite, a modulação para outros tons se dá pelos ruídos, uma vez que o que liga uma música a outra são barulhos incômodos e desarticulados das frequências convencionais da música. O interessante é que na imagem também é criada uma outra espécie de ruído que serve como fio condutor de uma variedade de texturas visuais e sonoras: a personagem de Clara Choveaux. Na primeira cena em que aparece, Clara está sozinha no plano, iluminada por luzes coloridas de tons quentes. Ela fuma um cigarro e percorre o olhar para o nada que lhe cerca. Por vezes, parece estar ouvindo a voz impotente de Petrona Martinez, numa canção em extracampo. De algum modo, a música opera uma colisão com o corpo da personagem, que sorri como se pudesse ouvir o que estamos ouvindo. Clara se movimenta, é como se quisesse dançar, entretanto, o choque do corpo com aquele som que está aquém da imagem, leva, novamente, à tela preta: uma sobrecarga de frequências sonoro-visuais. Da sobrecarga nasce a desorganização, o ruído.

Essa presença feminina é ruidosa em muitos níveis, imageticamente, por exemplo, esse ruído é trabalhado por texturas; em algumas cenas, Clara é filmada através de um tecido esvoaçante ou está vestida com um figurino que destoa das outras pessoas nas festas. No entanto, no decorrer daqueles recortes da vida noturna carioca, vai deixando de ser esse corpo desarticulado e torna-se parte dos espaços, é como se o nosso corpo, como espectadoras, fosse se acostumando com os ruídos, as vibrações desordenadas. A mesma coisa acontece com o ruído sonoro, no início do filme os ruídos são extremamente desagradáveis aos ouvidos, mas, depois, conforme vamos nos acostumando com essa manifestação sonora, tornam-se apenas sons. Dessa forma, a impossibilidade da mediação corpórea das densidades sonoras é traduzida para a imagem e, assim, é criada uma fruição de visionamento que não se limita às possibilidades da imagem e do som como elemento que existiria para acompanhar essa imagem. Há um choque de frequências polissêmicas entre o ver e o ouvir que não só suscita cenas experimentais, mas também questiona a ideia de ruído visível.


“músicas melancólicas começam a tocar, as bordas começam a desafiar o centro do pensamento, isso significa medo?”
Jota Mombaça e Musa Michelle Mattiuzzi 3
III.
Em Sutis Interferências, a dissonância rítmica é construída a partir de justaposições; entre a cineasta e o músico; entre a câmera e a guitarra; entre o som e o que se diz sobre o som. Sinto que o ruído é algo a ser decifrado na imagem. Uma tensão entre dois ritmos distintos, dois modos de produção. A relação entre Arto Lindsay e Paula Gaitán se dá pela impossibilidade do diálogo. “Não entendi muito bem”, responde Arto em uma conversa com a realizadora. Nesse sentido, a obra se diferencia, por exemplo, de É Rocha e Rio, Negro Léo (2020), em que a voz é o som principal — como um instrumento solista — e as ideias faladas estabelecem a lógica de encadeamento da narrativa.

Já em Sutis Interferências, Paula abre mão do verbocentrismo4 e assume o ruído como som fundamental, diferente de como acontece majoritariamente no cinema em que o ruído é apenas um acompanhamento. São múltiplos ruídos: o ruído sonoro, o da iluminação que intervém nas cenas — e que ora produz sombra, ora embeleza os instrumentos — e as interferências de montagem que sobrepõem uma fala à outra. Materializando, assim, a desorganização do ruído na imagem. Relações simultâneas que convocam a atenção da espectadora e que conectam os dois processos de criação: o do músico e o da cineasta.
Assim como em Noite, o começo do filme é o som se materializando no silêncio absoluto da imagem. São conversas fugazes sobre o processo do documentário, desde a provocação de Paula de não pretender fazer perguntas convencionais ao músico ou o diálogo sobre o ar condicionado que precisa ser desligado para que não haja ruídos na captação sonora. De certo modo, há uma preocupação em evidenciar os processos, as modulações dos sons acidentais. Apesar dessa primeira cena do filme ser uma conversa clássica motivada pela voz, o restante dos diálogos presentes no filme foram materializados formalmente nas técnicas do cinema e da música. O método retratista de Gaitán trabalha as intensidades e rejeita a transparência, escolhe vibrações como instrumento de visionamento. Paula filma através de recortes: meia face, um par de óculos, uma mão que entra em atrito com a guitarra e também assume o assincronismo da imagem e do som como método. Em algumas cenas, na imagem compreendemos que Arto está falando, mas o som que aparece em off não é o da voz e sim de alguma música. O que se ouve está em conflito com o que se vê.

Diferentes ambiências localizam o processo criativo de Arto — e o de Paula. Nas filmagens dos concertos, sons e imagens oscilam no plano e podemos perceber que os ruídos são proposições nas duas criações. Trata-se de um trabalho manual de busca incessante por frequências, para depois articulá-las em energia. Em uma das cenas finais do filme, Paula interpela o método tradicional de entrevista no cinema e evoca sua radicalidade nas sonoridades. Enquanto ela, em extracampo, e Arto no centro do plano conversam, a montagem sobrepõe as falas do músico e cria uma combinação sonora que remete às operações simultâneas da música. No entanto, quando Arto fala sobre o ruído, volta a sincronia de seu corpo com a voz. Em outras cenas, ao mesmo tempo em que a voz de Arto opera em off, seu rosto está em silêncio. É um jogo que também interfere nas relações do corpo com o som, uma vez que exige certa autonomia de quem escuta em perceber as múltiplas camadas sonoras. Esse gesto evidencia a preocupação em retratar o choque do som com os corpos por construções estéticas ásperas, perceptíveis.
IV.

A radicalidade do cinema de Paula Gaitán se dá pela manipulação do som como modulação que evoca imagens. A inventividade própria e a busca pelo inexplorável se materializa em um groove. É possível pensar o que se vê a partir do que se escuta. E sentir o ímpeto que nasce dessa relação. O cinema de Gaitán não se encaixa em um imaginário em que as mulheres se relacionam com a música de forma apaziguada, é justamente na recusa pelo apaziguamento que encontra saída no experimental. De certa maneira, Paula rejeita a construção narrativa canônica do cinema para evidenciar que tudo é construído mediante um acordo — do visível, mas, principalmente, do audível — entre obra e a espectadora. É bruta, impiedosa e exorbitante a cada timbre, cada frame, cada movimento de câmera.
A sensibilidade em Noite e Sutis Interferências não parte de uma colocação pessoal, do valor coletivo que a vivência individual feminina poderia ter, na realidade, também rejeita esses rótulos e escolhe narrar pelo que ainda não foi assimilado a ponto de se tornar outro tipo de ordem, são os ruídos: uma personagem que é mais presença que personagem, os corpos em contraste com as luzes artificiais, a montagem guiada pelos frenesis das batidas sonoras e o cansaço do corpo como proposição. Quando as operações sonoras suscitam imagens, são criadas múltiplas cadências capazes de construir uma polissemia visual e outros sons que são construídos como fruto dessa associação. Texturas, jogos de luz e sombra e personagens desarticulados do próprio tempo também são ritmos construídos. Paula se afasta da narrativa clássica para fabular pelos ruídos, nos convidando a ouvir os seus filmes e a vibrar com eles. São obras atmosféricas que lançam uma proposição para a própria lógica da espectatorialidade: a brutalidade sonora nos instiga a manter as pálpebras bem abertas.
referências bibliográficas
CHION, Michel. A audiovisão: som e imagem no cinema. Lisboa: Texto & Grafia, 2011.
MCLUHAN, Marshall, FIORE, Quentin. O meio são as massagens. São Paulo: UBU Editora, 1967.
SILVA, D. F. A dívida impagável. São Paulo: Casa do povo, 2019.
REVIRAR A HISTÓRIA, REMONTAR OS RESTOS: CONVERSA COM ANITA LEANDRO SOBRE RETRATOS DE IDENTIFICAÇÃO
A entrevista a seguir foi realizada no dia 21 de setembro de 2019, com Anita Leandro, pesquisadora, professora da ECO/UFRJ e diretora do filme Retratos de Identificação (2014) em Belo Horizonte, Minas Gerais, a partir da proposta de minha dissertação de mestrado no PPGCOM/UFMG — “Formas cinematográficas de rememoração da ditadura militar pelas mulheres: uma análise do filme Retratos de Identificação” —, que investiga em que medida o cinema feito por e com mulheres, ao rememorar a ditadura civil-militar brasileira, é capaz de — através da pesquisa dos arquivos, da montagem dos vestígios, e dos testemunhos — contar a história a contrapelo e reconstruir a memória daquelas que resistiram às formas de opressão do período. Retratos de Identificação é um filme feito entre 2010 e 2014, a partir de uma pesquisa da diretora nos acervos do DOPS da Guanabara/RJ — onde encontrou 90% do material utilizado no filme — e no Superior Tribunal Militar. Durante esse tempo, Anita Leandro5 selecionou e buscou documentos que pudessem ser utilizados para recuperar histórias sobre militantes que integraram organizações armadas no período da ditadura militar brasileira, sendo eles: Antônio Roberto Espinosa, comandante nacional da VAR-PALMARES, Chael Schreier e Maria Auxiliadora Lara Barcellos (Dora), militantes da mesma organização, e Reinaldo Guarany, da Aliança Libertadora Nacional (ALN). Retratos de Identificação restitui uma história que liga os quatro personagens através dos seus testemunhos e dos arquivos documentais e fílmicos presentes nos filmes Brasil: Um relato de tortura (1971), de Saul Landau e Haskel Wexler, e Não é hora de chorar (1971), de Luiz Alberto Sanz e Pedro Chaskel. Quarenta e dois anos separam as falas de Dora, registradas no exílio, e o depoimento de seus ex-companheiros. Passado e presente compartilham um mesmo espaço, criado pela montagem.
No documentário, a narrativa retoma cronologicamente a vida de Dora e são seus dois ex-companheiros e sobreviventes que dão os testemunhos no presente, Reinaldo e Espinosa. Retratos inicia com o dia da prisão de Dora, em 21 de novembro de 19696, juntamente com Chael e Espinosa, no aparelho em que viviam na clandestinidade, no Rio de Janeiro. A narrativa também retoma, posteriormente, o dia de sua saída do país com os 70 presos políticos enviados ao Chile (para onde Reinaldo também foi enviado) como exigência para a libertação do embaixador suíço, Giovani Bucher — sequestrado pelo grupo liderado por Carlos Lamarca. O fim do filme se dá no relato do dia do suicídio de Dora por Reinaldo, em 1976, em Berlim.
Retratos de Identificação também desmente a versão do capitão Celso Lauria sobre a morte de Chael Schreier, através do confronto de documentos oficiais: um laudo de necrópsia e um negativo de Chael no DOPS/GB, de frente e de perfil — encontrado no Acervo DOPS/GB APERJ por Anita Leandro durante a pesquisa do filme —, e um documento forjado pelo capitão, que afirmava falsamente que a causa da morte do estudante teria sido um infarto, decorrente dos ferimentos sofridos durante a emboscada policial em 1969. O cruzamento das informações trouxe à tona a história de um assassinato durante interrogatório, entregue pela diretora à Comissão Nacional da Verdade. O filme encontra-se disponível e com acesso gratuito na plataforma Vimeo.
Minha dissertação, portanto, foca na análise das estratégias formais e narrativas do filme Retratos de Identificação (2014), de Anita Leandro, com interesse particular às especificidades da presença feminina na história da ditadura civil-militar brasileira e como essa escrita cinematográfica aciona, estética e politicamente, a memória, o corpo e o olhar feminino. Assim, propus um encontro com Anita Leandro para refletirmos entre tantas questões, sobre o dispositivo do filme, o encontro com os personagens e o uso dos arquivos.

Anita Leandro: cineasta, pesquisadora e professora da ECO/UFRJ.
Letícia Marotta: Anita, nessa entrevista, queria trazer questões, dúvidas que surgiram no meu processo de pesquisa do filme. Até porque você escreveu sobre o Retratos de Identificação e já tem muita coisa nos seus textos…
Anita Leandro: Escrevi até mesmo para entender o que eu tinha feito.7 Se eu tinha realmente feito um filme ou se eu estava colocando em prática alguns pensamentos teóricos, abstratos. A situação de posição do pesquisador que faz filmes é um negócio meio ambíguo, você fica ali no meio do caminho, entre duas coisas. É muito pensado e se você não é surpreendido pelo mundo filmado, não tem filme. Você tem que se colocar suficientemente em risco para ser pego de surpresa e para que haja filme. Se não, o que tem é um artigo. Então, foi até pra entender até onde ia o que eu tinha feito, até onde aquilo ali era um filme.
LM: E você se encontrou na escrita?
AL: É, para traduzir um pouco o método, né? Porque eu filmei assim, no feeling. Eu farejei que a imagem era uma mediação possível para uma fala impossível. A imagem, o vestígio do passado, o documento, poderia funcionar muito bem no set de filmagem como uma terceira pessoa — além de quem filma e da pessoa filmada — como uma espécie de válvula de escape, janela, porta, saída para a pessoa. Até para que ela pudesse não falar nada também. Se ela quisesse ficar só em silêncio, só olhando a imagem, já seria um filme pra mim, não precisava de nada mais. Não era uma pesquisa histórica, era um encontro que ia ser filmado ali. Não era uma enquete de historiadora, de socióloga, nada disso. Era um encontro, eu sabia que eles nunca tinham visto essas imagens, e imaginava o efeito que isso produziria neles.
LM: O que você imaginou?
AL: Eu imaginava que o Reinaldo conseguiria falar alguma coisa, apesar da impossibilidade de dizer. Imaginava que a mediação da imagem ia conseguir chegar a alguma coisa próxima da literatura que ele já tinha produzido. Eu tinha lido o livro que ele escreveu logo após a morte da Dora, que é “A fuga”, e fiquei muito impressionada com esse livro, embora ele fale que em termos literários não é uma obra tão importante quanto “Fornos quentes”, livro que ele fez depois. Eu gosto mais da “A Fuga” do que do “Fornos quentes” porque ele escreve ali no meio da escuridão, no dia seguinte ao suicídio da Dora, e faz para se salvar, e acho que ele se salva. A literatura mediou a elaboração de um luto. Então, eu achava que a imagem podia ter essa função de mediadora.
No caso do Espinosa, eu achava que essa mediação poderia revelar outra coisa porque, embora eu não o conhecesse quando fui filmá-lo, tinha lido também o que ele escreveu. Outro tipo de escrita, professor, de ciências políticas, enciclopedista, é o comandante, né? Ele tinha uma fala muito preparada, mas do encontro dele das imagens nasceu uma fala que não era a que ele queria, mas a que ele precisava para si. Ele conseguiu chorar, por exemplo. Ele chorou tão discretamente que eu não o vi chorando na hora da filmagem. Depois, conversando com ele por telefone, Espinosa me contou que chorou, e aí eu voltei na imagem e ele está realmente chorando quando começa a falar que estava dentro do camburão e a Dora e o Chael estavam lá atirando na polícia… Então, na mediação da imagem, eu tinha esse faro de que ela poderia permitir um retorno ao passado, desestabilizando aquele discurso pronto que precisava ser desestabilizado. E, ao mesmo tempo, permitir tanto ao Reinaldo quanto ao Espinosa fazer alguma coisa daquelas lembranças, elaborar um discurso daquelas lembranças. Um discurso outro.

LM: Eu tenho muita curiosidade sobre a cena em que o Espinosa se vê naquela imagem, ensanguentado. É um momento que ele tem um encontro com ele mesmo diante da câmera, em uma fotografia que ele nunca tinha visto. Ele para alguns segundos e olha…
AL: Foi nesse momento que ele chorou e eu nem percebi. Era tão bem preparado que não percebi, depois eu voltei à imagem e vi. Esse momento foi particularmente forte. Hoje mesmo, eu estava aqui escrevendo sobre essa imagem. Fiquei pensando sobre essa imagem do Espinosa especificamente porque nas outras imagens de prisioneiro político o máximo que pode acontecer como desvio da função da imagem é o torso nu. Não é o caso do Espinosa que tem uma infração muito grave aqui, que é esse sangue todo. Então a imagem que era feita para identificar o prisioneiro, ela identifica não só o prisioneiro, mas toda a violência do extracampo. Estou tentando entender isso, o extracampo, e como ele entra por infração. Acho que essa imagem é violenta porque nós temos acesso a um extracampo que não está dado, e que nos identifica enquanto espectador possível. Essa imagem da Dora, do Reinaldo, do Chael — do Chael não, porque ele está com o torso nu, e os outros vestidos —, só tem o número de cadastro que os identifica como prisioneiros. Como o Reinaldo fala: “Isso não é foto de família, de frente e de perfil é foto de preso”, ou seja, foto de preso é foto sem contraplano, sem extracampo. Essas imagens não foram feitas para chegar até nós, elas foram feitas para circular entre os próprios policiais, entre agências de repressão, para identificação. E, de repente, vaza uma coisa do extracampo que é esse sangue todo…
LM: Ele até fala da calça ensanguentada…nós temos acesso a esse extracampo…
AL: Essa calça tem uma história longa, ela foi parar no museu! Tinha um jornalista que era ligado aos direitos humanos estrangeiros que pediu a calça, levou a calça consigo. Ele falou que foi parar em um museu, não sei onde!
LM: Tem a foto da Dora também, né? Com o curativo na testa. Talvez a única imagem que tenha essa marca visível da violência no corpo dela…
AL: É.
LM: Você encontrou outros arquivos, Anita? Tiveram outros arquivos que ficaram fora do filme?
AL: Pouca coisa. Em relação a essas quatro pessoas [Dora, Reinaldo, Chael e Espinosa] foi o que pude encontrar. Eu sabia que tinha mais coisa, mas não tive tempo, nem disponibilidade, nem dinheiro para ir atrás. O meu projeto incluía — além dos arquivos do DOPS da Guanabara, onde eu encontrei 90% desse material — uma pesquisa no Superior Tribunal Militar. Eu sabia que era aquela hora ou nunca. Tive acesso porque existia a Comissão de Anistia que hoje está fechada. Já conversei com pessoas que tentaram entrar lá e foram barradas, ainda no governo Temer. Eu sabia que eu tinha que ir naquele momento. Tinha até reservado as passagens para Brasília, mas não pude ir por conta do trabalho. Então eu não pude ir a Brasília, mas o pessoal da Comissão da Anistia foi lá pra mim enquanto eu fazia a pesquisa. Só que eles pesquisaram só um volume, são onze volumes! Nesse único, mandaram pra mim 500 páginas. Eu tenho um calhamaço lá em casa. O filme já estava pronto quando chegou esse material que ficou rodando nas agências de Correios até chegar no Rio. Chegaram as imagens que abrem o filme, a Dora sendo seguida. Eu pensei: como vou usar isso agora? Eu não tenho como pagar a equipe! Então eu fiz, eu que reproduzi e coloquei na montagem! Aquilo não foi nem finalizado, não tinha nem mais tempo! Eu pedi ao Guilherme Hoffman e a Marta (irmã) e foi com eles dois que eu fiz aquela sequência de abertura.
A foto da Dora machucada também veio nessa leva, eu tinha uma foto da Dora machucada, mas estava tão apagada que não dava pra ver o curativo. Era a mesma foto que tinha um xerox no DOPS da Guanabara que veio mais nítida do Superior Tribunal Militar. E foi só, o restante eu já tinha. Mas isso era apenas uma pasta! Tinham onze pastas da VAR-PALMARES. Eu tenho certeza absoluta que nessas onze pastas — como a certeza que eu estou viva — tem as fotos do julgamento da VAR-PALMARES. Uma das fotos que escapou foi aquela da Dilma, que a direita lançou na época em que ela foi eleita: “olha aqui ela foi prisioneira política”… que a Dilma: “ah é, vocês querem ver essas imagens então tá tudo liberado agora” e veio aquela lei que liberou pra todo mundo. A Dora e o Espinosa, e o Chael já morto, foram julgados nesse mesmo processo da Dilma. A Dilma e o Espinosa estavam em dois processos. A Dora e o Chael estavam em um desses processos. Então, se eu tivesse esse material eu teria outra sequência, e a Dilma teria se tornado personagem do filme. Era esse o projeto! Eu queria botar a mão nessas imagens para ir lá encontrar com a Dilma, entendeu?! Embora ela não tenha sido presa junto com eles, ela participou do mesmo processo e eu já achava isso importante na época porque eu já via o desastre. Eu estava tão enfiada nisso aí, eu já estava vendo o fim do túnel. Não sei porque sabia que o negócio não ia segurar, eu sentia isso. Bem sensitiva, teoria da conspiração, mas era isso mesmo.

Então o que tinha além do que coloquei no filme: algumas imagens do aeroporto. Do aeroporto tem muita coisa que eu não utilizei porque elas eram um pouco repetitivas. Tem três fotógrafos. Tem fotógrafos da polícia que aparecem no campo. Eu ia entrar nisso e acabou que nem entrei, nem usei essa imagem. Tinha duas imagens que aparecia o fotógrafo e tem uma imagem do Reinaldo no momento da saída da prisão com mais duas outras pessoas, ele fala que fotografavam os presos em dupla, em trinca. Tem uma foto de um trio que eu não utilizei porque o filme ia crescer muito. Teria que explicar quem era esse trio. As fotografias em dupla e trinca das quais o Reinaldo se refere foram feitas lá no CENIMAR, na Ilha das Flores. Na prisão da marinha, onde ele ficou preso.
Ele ficou na Marinha porque era lá que cuidavam dos processos da ALN [Aliança Libertadora Nacional, organização de luta armada de esquerda que enfrentou a ditadura militar brasileira instaurada em 1964]. O Espinosa foi para Tiradentes, Dora foi para a Vila Militar. Eles foram pra Vila Militar porque era lá que cuidavam dos processos da VAR-PALMARES. As agências separavam, elas trocavam informações, eram especializadas em determinadas organizações para poder obter mais coisas nas torturas.
Sobre o Chael, eu só tinha essas duas imagens. No momento da prisão de 69 e no momento da prisão de 68 que é aquela que aparece no cartaz do filme, que foi tirada pela polícia quando ele foi preso em São Paulo. Ele ficou um dia preso só, o pai dele foi lá e o tirou, ele ainda não tinha entrado na clandestinidade, ainda era estudante de medicina. Sobre o Chael, eu sabia que existiam as imagens da autópsia, do cadáver. O IML faz sistematicamente fotografias do corpo, antes de entregar para a família. Eu sabia que existia e aí quando encontrei o número da pasta onde estariam as fotos do Chael, o IML não queria me entregar. Eu ameacei com processo porque a lei de direito à imagem garantia, e aí eles me falaram que estava em aspecto gosmento. Eles abandonaram todos os arquivos no chão, em uma casa velha lá da Lapa, e mudaram de sede. E aí a chuva caiu, o telhado desabou e desde 1969 estava tudo submerso na água. Devia estar gosmento mesmo… então tinha coisa, mas eu cheguei tarde.
LM: Sobre a Lei de Acesso à Informação, você acha que ela beneficiou o filme de alguma maneira?
AL: Quando eu comecei a pesquisar não tinha essa lei ainda. A lei não existia e só soube dela tardiamente. Porque antes da Lei de Acesso você tinha que ter autorização dos espólios, quando as pessoas já tinham morrido, ou das pessoas sobreviventes. Eu já tinha essas autorizações, algumas delas.
LM: Então nenhum desses arquivos você conseguiu por causa da Lei?
AL: Não. Teve coisa depois que eu precisei das autorizações, eu não me lembro mais em que época eu peguei as autorizações. Eu sei que fiquei muito tempo com o telefone da família do Chael, e eu não tinha coragem de falar com a mãe dele. Quando finalmente liguei, a mãe dele já tinha morrido. E a Dora: quando a mãe dela me deu autorização ela estava hospitalizada e não saiu mais do hospital, a Dona Clélia. Mas a Lei de Acesso foi muito importante para as pessoas se informarem. Foi uma coisa muito inteligente feita pela Dilma. Porque quando ela foi eleita, a direita ficava insinuando, falando como se estivesse descobrindo a roda que a Dilma foi presa, que ela foi isso e aquilo, contando muita mentira. Então, a partir dessa lei, você tem acesso às informações. Foi muito importante para a historiografia. Depois, para a divulgação da imagem é outra coisa, realmente precisa da autorização da pessoa. Mas, para o filme, eu tenho que recuperar quando eu tive a autorização dos familiares, que eu não me lembro se foi antes ou depois. A lei é de 2012, né? É… eu não me lembro. Eu demorei muito para achar as primeiras imagens. Por que a questão não é só a lei de acesso, é a dificuldade do acesso aos arquivos. Eu passei dois, três anos, e eu não sabia se ia ter filme porque eu não achava as imagens. Eu demorei muito para achar essa série de fotografias da prisão da Dora. Demorei muito! Um dia, a Clarissa, que trabalha no acervo, chegou pra mim com um envelopinho meio escondido e me mostrou. Eu não tinha ainda a autorização. Então quando eu fui atrás da família não tinha lei.

LM: Me conta o seu caminho até o encontro com a Dora?
AL: Ah, foi assim. A Tereza Bastos, minha colega, tinha trabalhado nos arquivos do DOPS da Guanabara/RJ, na parte de iconografia, fez pesquisa em fotografia e ela me falou: “Ah, você precisa conhecer os arquivos, é muito interessante, você vai gostar”. Eu fui lá com ela, pra ver as fotos dos meus amigos presos. E fui logo lá, nos arquivos da COLINA, que era a organização que eu conhecia melhor e fui achando todo mundo que eu conhecia, “quero cópia para mostrar isso aqui pra eles”. Até os erros da polícia, fui achando engraçado, eles colocavam os nomes errados. Eu achei aquilo muito interessante e ao sair de lá eu falei com ela que era preciso fazer um filme. Esse material é muito rico.
Comecei a pesquisar sobre COLINA, eu achei que seria um filme sobre COLINA [Comando de Libertação Nacional, organização revolucionária de esquerda que enfrentou a ditadura militar], que era mais fácil pra mim porque eu conhecia muita gente. Aí, no meio da pesquisa eu folheei, meio ao acaso. Folheei todas as pastas, sui generis, sem nenhum método, as pastas “Acervos da Polícia Política”. Tem milhares de pastas e fui riscando pra ver o que existia com fotografia. O pesquisador até hoje não tem acesso ao acervo fotográfico porque para você ter acesso a ele, você já tem que chegar com um nome. “Eu quero as fotos de fulano…” Naquela época, nem isso. Foto era apenas com autorização das pessoas. Então, era impossível fazer uma pesquisa de acervo fotográfico se você não trabalhasse lá, como era o caso da Tereza. Como eu não trabalhava lá dentro, a única forma de acesso a documentação fotográfica pra mim foi essa: pegar pasta por pasta e ver o que existia como xerox, porque nas pastas só tem xerox, quando tem. Os historiadores fizeram uma triagem para preservar o documento fotográfico, separaram texto de imagem. Documentos textuais ficaram nas pastas e os fotográficos foram para um acervo específico. Então, muitas vezes você encontra o documento sem a foto, e você pode pedi-la. Muitas vezes você não sabe se aquele documento tem foto, mas a foto existe. A dificuldade não é tanto a lei, mas a dificuldade de preservação e a bagunça do arquivamento. Porque eu encontrei muita fotografia colada uma na outra. Quando o Reinaldo fala “ah, eles deviam ter tido mais cuidado”, eram fotografias coladas uma na outra, arquivadas de uma maneira assim, meio… e o modo como os historiadores e arquivistas receberam isso do DOPS. Eles receberam isso do DOPS dentro de sacos, tudo misturado e bagunçado.
No meio do caminho, folheei várias coisas e encontrei xerox de fotografias da saída dos “setenta” [os conhecidos como “setenta” foram setenta militantes que exilados no Chile, em troca da soltura do embaixador suíço, Giovanni Enrico Bucher, no Rio de Janeiro, sequestrado por um comando da Vanguarda Popular Revolucionária (VPR), liderado por Carlos Lamarca. A VPR exigia a libertação de setenta presos políticos, com a divulgação dos nomes em um manifesto, o congelamento dos preços em todo o país por noventa dias e a liberação das catracas no Rio de Janeiro.] Eu vi lá, entre outras fotos, a da Dora. Só que o rosto da Dora é um rosto marcante.
Me chamou atenção pela beleza do rosto, mas não parei, só vi. Tinha uma foto dela em pé, com uma camisa estampada. Aí, quando fui assistir o Brazil: A report on torture (1971) [documentário de Haskell Wexler e Saul Landau com depoimentos de brasileiros torturados e exilados no Chile], que eu não tinha visto, eu olhei e falei: “essa moça parece com aquela que eu vi lá na pasta”, voltei na pasta e era ela mesmo. Foi aí que pensei que daria um filme. Fui atrás da história da Dora e fiquei sabendo como o Chael morreu. Depois fui atrás do livro do Reinaldo.
LM: Então a Dora foi a primeira personagem que você encontrou e a primeira imagem?
AL: Foi. Graças ao filme do Saul Landau que me levou até ela. Fui atrás do Reinaldo, descobri o outro filme do Luiz Alberto Sanz, Não é hora de chorar (1971) [guerrilheiro exilado na Suécia, tornou-se cineasta], que não estava na internet na época. Fiquei conhecendo o Sanz e fui atrás do Espinosa depois. Foi assim.
LM: E sobre esses filmes, que estavam perdidos…
AL: Eu tinha o DVD do filme do Landau e o do Sanz, ele me emprestou uma cópia, uma [fita] Mini-Dv, uma Beta, eu não cheguei a restaurar porque não tinha dinheiro pra isso. Eu legendei o filme do Sanz e nós fizemos uma mostra com os filmes dele. Não só com esse, mas um outro que se chama Quando Chegar o Momento (Dora) (1978), que estava em sueco, tinha português, francês, espanhol… foi feita uma legendagem artesanal. Eu, uma aluna bolsista, a Maria Bogado, e meu monitor. Nós fizemos a legendagem e fizemos a mostra. Não chegou a ser uma restauração, foi uma espécie de avant première de um filme que nunca tinha passado no Brasil. Apenas uma vez, para um grupo fechado, mas que ninguém conhecia.

LM: E sobre os trechos desses filmes que você usa em Retratos de Identificação, como foi esse recorte?
AL: Do filme do Sanz, eu usei quase tudo da Dora, porque a fala dela no filme no Sanz é uma fala diferenciada. Ela não está sendo entrevistada por um jornalista, como é o caso do filme do Landau. Por mais próximo que esse jornalista seja, por mais bem preparado, por mais que ele se identifique com a história que está sendo filmada, com a sorte daquelas pessoas, é uma coisa de jornalista, e de jornalista americano. Você vê como ele reconstitui as cenas de tortura, é um negócio terrível, né? Para o espectador e para as pessoas, sobretudo que foram filmadas. Elas estão filmando ali porque elas querem denunciar. É uma outra tortura. Tem uma criança que chora, uma coisa horrorosa. O trabalho do Sanz é outra coisa. Ele tá ali nos “setenta”, ele foi torturado. O Sanz sabe do que ele está falando e ele encena a tortura sem o personagem do torturador e sem o torturado. Ele pede para um ator que se coloque ali no pau de arara, numa coisa fabricada. É muito diferente. Como a Dora tem diante dela o Sanz, ou seja, uma outra testemunha, a fala dela não é para um espectador longínquo, distante. Ela está em uma conversa com o Sanz, um acontecimento pessoal. Ao mesmo tempo que ela está sabendo que ela está falando para o futuro, ela tem ali diante dela um cara que sabe o que ela viveu. Um cúmplice, um camarada, um companheiro. Então a fala dela do filme do Sanz eu me senti à vontade de usar quase tudo.
Inicialmente eu não usava a imagem, porque eu tinha encontrado com o sobrinho da Dora e ele estava fazendo um filme sobre ela na época. Então eu achava que ele tinha por direito utilizar essas imagens. Como o filme da Emília Silveira foi lançado (Setenta, 2013) e utilizava as imagens da Dora, então eu pensei: agora que todo mundo tá usando eu não vou me privar, né? Não só por uma questão de privação, mas o filme precisava da presença física da Dora, não bastava só a fala dela. Eu tinha poucas fotografias dela, a do momento da prisão que era o momento mais importante da fala dela, e da saída, que era o momento da tortura, e eu não tinha imagens.
Tinha imagens do momento dela sendo presa, que é essa do cartaz do filme, e dela logo depois, já com a cara quebrada e as imagens da saída, que são as imagens dela nua e as imagens de corpo inteiro, vestida. Inclusive, aquelas imagens dela nua eu uso no momento do filme que narro a tortura, deixando claro para o espectador que as fotografias correspondem ao momento de sua saída, tem a data na imagem. Ao mesmo tempo ela falava do desnudamento como uma forma de tortura, como uma tática a mais de tortura. Então era importante mostrar essas imagens para a fala dela. A imagem a posteriori referendou a fala da Dora. Então era importante vê-la falando e eu acho que trouxe a presença dela pro filme. Ela tá ali em iguais condições com o Reinaldo e com o Espinosa. Ela é um personagem presente, enquanto o Chael tem só a foto dele, não tem voz, não tem nada. Ele fala através do Espinosa e da Dora. Então era muito importante, porque a Dora também ela trazia essa denúncia, ela era testemunha da morte do Chael. Era muito importante que ela aparecesse. Então foi assim que foi selecionado.
LM: No filme do Landau tem vários outros momentos que Dora aparece, quando ela está com a Nancy. E nesse filme ela ri muito…
AL: Ela ri de nervoso, ela não ri, ela tem um esgar. Reinaldo fala isso, que ela saiu da prisão com um certo esgar. O Espinosa também falou que não reconheceu a Dora quando ele viu as imagens, a tortura a deixou muito marcada fisicamente…

LM: Tem uma cena também dela dando um tchau quando ela tá entrando no carro…
AL: No Chile, né? Aquilo foi o único momento, a única imagem ilustrativa que eu me permiti utilizar, porque o Reinaldo falava do Chile e tem aquele plano sequência. Ela vem com o Landau e a Carmela, eles dão dois beijinhos, ela entra no carro e dá um tchauzinho. Foi a única imagem que eu me permiti usar porque a parte do Chile é um momento sem imagem e, no Chile, a prisão se prolonga, a perseguição se prolonga, a tortura se prolonga. Eu queria trazer o Chile. Se eu tivesse alguma imagem dela na Alemanha, seria uma imagem muito feliz, ela com o Reinaldo no dia que eles foram passear na Alemanha Oriental, e eles fizeram uma foto lá. Se eu tivesse achado as fotos da polícia, o Reinaldo conta que eles eram muito vigiados lá, que eles eram filmados, se eu tivesse encontrado isso eu teria usado. A imagem do filme do Landau lá no Chile, foi realmente, porque no momento do Chile era importante. Tem um momento longo do que aconteceu no Chile pelo Reinaldo e, aquela imagem trazia a Dora no Chile. Foi meio instintivo, sabendo dos riscos que aquilo ali causava, o que significava o risco de cair em uma ilustração. Porque o tempo todo eu montei com esse rigor, aí chegou essa imagem, e ela dava tchau e o Reinaldo faz “assim” com a mão: tem um raccord, eles se encontram lá na montagem.
LM: Eu vejo essa imagem como um gesto de despedida a nós. Ali ela começa a se despedir do filme, né?
AL: A gente já está no final do filme, né? Eu gostei disso! Eu queria falar mais do Chile, porque foi um trauma para essa geração. O Sanz fala: “Eu vivi três golpes já”. O de 2016 foi o terceiro na vida deles. Então foi mais isso, trazer a presença dela no Chile e, ao mesmo tempo, aquela imagem no Chile trazia também uma espécie de esperança. Parecia que ela tinha recuperado a juventude dela, a crença no projeto político. Ela estava realizada fazendo aquele trabalho social no Chile, ela ia fazer uma coisa meio revolucionária no campo da medicina, que era juntar psiquiatria com ginecologia, que foi a área que ela começou a se especializar na Alemanha. Olha que coisa bacana: medicina social, psiquiatria e ginecologia. Ali estava começando um outro mundo e veio um outro golpe. Foi por isso que me permiti. Mas na hora da montagem eu descobri uma coisa que só a montagem permitiria, que foi esse encontro, das mãos com o Reinaldo, tem um raccord inesperado. Eu montei depois que eu vi.
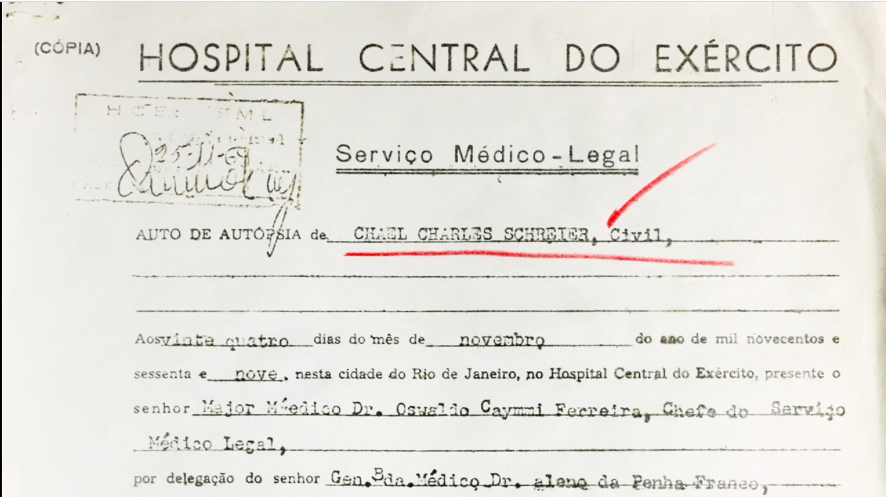
LM: Anita, sobre os negativos que você encontrou e a comprovação do assassinato do Chael, ele acontece na fotografia por um descuido da polícia em abrir demais o plano?
AL: Tem isso, mas não só isso. A prova do crime do assassinato do Chael tem pelo menos três evidências: uma delas é o testemunho do Espinosa. O laudo de necropsia é um negócio impressionante. Eu peguei aquele laudo e fiz um trabalho, um estudo daquele laudo junto com um amigo que é médico, cirurgião. Eu pedi pra ele ler e me explicar o que era cada um daqueles termos. Quando chegou um momento da leitura, ele leu e disse: “tinha médico na tortura”, e eu perguntei como ele sabia.
Ele me respondeu: “Seis pontos de sutura de fio de seda no maxilar na região mentoneira” — que era a região do queixo — e só um médico poderia fazer isso. Então, durante a tortura ele foi remendado pra continuar a ser torturado. Aquele documento ali já era o bastante pra incriminar todos os torturadores. Foi um documento lavrado pelo Hospital do Exército pra onde ele foi levado. Ele foi assassinado na Vila Militar. De lá, o corpo foi levado para o Hospital do Exército para fazer um laudo de necropsia, um atestado de óbito, pra depois mandar pro IML. O mandaram pra lá e um dos chefes da tortura, o que forjou o documento, Celso Lauria [à época, capitão do Exército], ele tentou, segundo o Espinosa, subornar as regras do hospital para que dissessem que Chael chegou vivo, mas ele não consegue e os caras do hospital não estavam sabendo de nada, lavraram aquilo ali. O médico que estava de plantão mandou fazer uma necropsia como se fosse qualquer morto. E o morto ali está trucidado, está em pedaços. Ninguém morre ali, daquele jeito, em uma troca de tiros da polícia, sem nenhum tiro no corpo. Aquilo ali [a foto encontrada por Anita no arquivo DOPS] já é um documento suficiente. É com base naquele documento que a morte do Chael foi denunciada no mundo. Tanto na [revista] Veja quanto na mídia europeia.
LM: E que salvou o Espinosa…
AL: É, exatamente. Os negativos já tinham começado a amarelar, eles são bonitos, tem um amarelado em baixo, às vezes em cima, aquele enquadramento, plano aproximado e cintura. Aquilo ali eu acho que era de praxe, eu não comparei com outros negativos, é uma investigação interessante a se fazer. Mas eu acho que era de praxe, eles faziam aquele tipo de enquadramento mesmo, às vezes para não ficar muito próximo do prisioneiro, agora que tô pensando nisso. Devia ter uma distância mínima que eles deviam ficar, por segurança… eles faziam a foto mais aberta e depois, reenquadravam. O que eles distribuíam para as agências de informação era a foto reenquadrada, 3×4, jamais o plano aproximado da cintura, só o plano aproximado do peito. O que achei primeiro foi a série em plano aproximado do peito. Muito tempo depois eu achei, junto, em outro envelopinho, os negativos. Quando eu olhei contra a luz que eu vi, eu não acreditei. Aquilo ali respaldava, caso alguém tivesse mais alguma dúvida. E, além disso, havia os documentos do Celso Lauria que encontrei também, tentando desmentir e se prevenir com base no documento do próprio Hospital do Exército… aquelas mentiras todas que ele inventou. Tem esse documento falso que testemunha essa atrocidade. E então tem três documentos, e mais o testemunho oral do Espinosa. Foi muito importante o testemunho oral do Espinosa, porque ele morreu em 2018 e ficou esse testemunho dele. Não deu tempo de fazer outro filme com ele, que era o seu sonho, sobre os feitos da guerrilha. O filme que ele tanto queria.

LM: Você levou esses negativos para a Comissão Nacional da Verdade, não foi?
AL: Foi. Teve uma sessão em janeiro de 2014. Nesse mês a CNV convocou os torturadores do Chael e o Espinosa. […]. E, nesse dia, a CNV não tinha nenhum dos documentos, tinha apenas do Espinosa e o conhecimento do laudo de necropsia. Eles não tinham conhecimento da foto que levei.
LM: A foto que você encontrou a partir da pesquisa do filme? O filme já estava pronto?
AL: Isso, em 2014. O filme já estava pronto. A pré-estreia foi em setembro de 2014, no cinquentenário, mera coincidência. 7 de setembro estava lá com a exposição, cheio de black block, foi muito bom. Foi muito legal, o Espinosa estava muito feliz, ele ficou muito feliz com esse público. Foi uma das exposições mais concorridas do RJ, foi muito bom [a exposição Arquivos da Ditadura (2014) foi composta por instalações sonoras e fotografias de identificação policial de presos políticos, criada a partir do filme Retratos de identificação]. Foi um momento já de uma certa tensão daquelas manifestações [que aconteceram em todo o país a partir de junho de 2013], algumas prisões já estavam sendo feitas, então era muito tenso. A gente sabia que haveria um golpe a qualquer momento.
LM: Essa era uma das minhas perguntas, sobre o contexto em que o filme foi gestado.
AL: Foi um momento tenso demais. Quando começou eu não imaginava isso. Comecei com um desejo nobre, de professora, de quem vai começar um filme para os alunos que não sabem nada sobre a ditadura, porque eu fiquei chocada com a desinformação. Cheguei no Rio, em 2009, voltando da França e fiquei chocada com a inocência dos estudantes, eu precisava fazer alguma coisa e foi aí que resolvi pesquisar esses arquivos e fazer o filme. Mas, no meio do caminho, a coisa foi ficando muito séria. Em 2014 quando o filme saiu as manifestações já tinham tomado outro rumo, já estavam completamente ocupadas pela extrema direita.
LM: Outra coisa que eu queria te perguntar é sobre a denúncia da Dora. Ela denuncia o assassinato do Chael em um documento escrito que contém as torturas que ela sofreu. Está naquele relatório de Mortos e Desaparecidos de 1995. Comparando esse relato escrito com o que ela fala no filme do Sanz, em 1971, ela reduz muito no testemunho, principalmente sobre o que ela passou. O documento revela atrocidades, é assustador.
AL: É, eu queria ter trabalhado isso, mas não deu tempo… e, alguém tinha que ler esse documento, mas quem? Espinosa? Achei que podia ser uma coisa que violava a intimidade dela porque ela fez aquilo por escrito. Ela tinha que estar viva. É igual as fotos dela nua, como usar aquilo ali? A irmã dela disse que eu podia usar o que eu quisesse, que tinha total confiança, mas eu não podia usar as fotos dela nua. A forma que eu encontrei pra usar foi aquela ali [fragmentos do corpo de Dora], porque eu precisava ao mesmo tempo usar. A Marta foi ao Rio umas três vezes para achar aqueles enquadramentos. Ela ficava trabalhando aqui e eu lá. A gente trocando imagens pela internet, foi muito difícil. Tinha um risco de sensualizar aquela beleza, algo tão sórdido e tão cruel.
LM: E só havia uma imagem dela nua?
AL: Na verdade, eu não tenho aqui pra te mostrar, mas ela de frente, de costas e de perfil. Um tríptico. Frente, costas e perfil. Foto retangular, ela de corpo inteiro e de calcinha. Só de calcinha.
LM: E em todas essas fotos ela desvia o olhar, né?
AL: Todas.

LM: Você fez um roteiro, Anita?
AL: Na verdade, quando eu fui filmar eu já tinha todo o filme na cabeça. Eu já tinha o filme todo montado. Eu não sabia o que o Reinaldo e o Espinosa iam falar, mas eu sabia o que eles não iriam falar, o que não ia estar no filme. No filme eu queria que eles falassem, o Reinaldo da morte da Dora e o Espinosa da morte do Chael. Pra mim, o filme era isso, dois vivos que iam falar de dois mortos. Eu sabia a ordem das sequências porque ia ter uma ordem da filmagem, na ordem cronológica dos acontecimentos históricos, eu ia seguir essa ordem. Tinha uma estrutura ali, um roteiro prévio. Eu já tinha feito até alguns ensaios de montagem, mesmo antes de filmá-los. Eu tinha pensado muito porque eu já tinha as imagens todas, eu filmei com muita antecedência, então já sabia na ordem como elas iam entrar no filme. Todas as variações, o tamanho do filme que eu podia ter. Eu não tinha imagem para além de uma hora e dez. Eu só não sabia o que eles iam dizer, mas eu sabia assim, que eu ia começar com o Espinosa contando a prisão, que a Dora ia dialogar com o Espinosa, que iam ser aquelas imagens do momento da prisão… Ah, aquelas imagens do arsenal encontradas pela polícia vieram do Superior Tribunal Militar também, na última hora. Eu acrescentei no final. Aquela parte da Dora que foi seguida não existia, mas já estava tudo naquela ordem já. Eu sabia que a parte do Espinosa ia terminar na hora que o Espinosa ia embora, não sabia que ele ia falar que ela ia embora…
LM: Você não esperava que o Reinaldo levantasse no final?
AL: Não! Aquilo foi um dos presentes do acaso. Quando você se prepara demais, o Labarthe, que é um cara que eu adoro, ele fala isso, que tem dois tipos de cineasta. Em francês tem duas palavras, o caçador e o que faz a armadilha. O chasseur, o caçador, é o que vai atrás, o cineasta do cinema direto. O cineasta do dispositivo fica na espreita esperando a presa passar, faz a armadilha e espera. Eu sabia que tinha um dispositivo ali que funcionava ou que não ia funcionar de jeito nenhum, mas era o que eu tinha e tinha que contar com isso. E aí, de repente, o Reinaldo se levanta. Quando ele levantou foi uma tensão muito grande, porque eu estava filmando pela primeira vez com o Alexandre no som e o Marcelo na câmera e eu nunca tinha trabalhado com eles. São dois colegas da faculdade que eu convidei pra fazer o filme comigo fora do horário de trabalho deles. Nós filmamos o Reinaldo no dia 7 de setembro. O Espinosa nós também filmamos no domingo, saímos daqui na sexta à noite, filmamos no sábado e voltamos domingo.
O Marcelo reproduziu um estúdio fotográfico comigo dentro do Arquivo. Nós montamos um pra fazer a reprodução dos acervos todos…
LM: O que você fez? Eu não entendi…
AL: Nós montamos um estúdio dentro do Arquivo Público, em uma mesa de trabalho e lá a gente fez uma câmera escura, e montamos uma table top com a câmera de cabeça pra baixo. Embaixo tinha um vidro para a fotografia ficar bem colada. A gente tampava, fazia uma câmera escura com iluminação lá dentro e reproduzia cada fotografia nesse esquema. Só que o Arquivo fechava às quatro da tarde. Todo dia a gente tinha que montar essa barraca toda.
Bom, então eu estava lá com esses dois quando o Reinaldo desapareceu lá atrás da parede. Eu não podia respirar, porque o medo que eu tinha era que eles desligassem os aparelhos. Fiquei numa tensão muito grande com medo deles desligarem, e eles não desligaram. 42 segundos depois o Reinaldo volta e termina o filme ali. Foi a última coisa que a gente filmou. No final, ele conta como eles foram perseguidos lá na Alemanha e tal, depois da morte da Dora, da banana que ele deu à polícia alemã quando eles deram o passaporte pra ele – mas isso está numa cartela só. Quando terminamos tudo, fomos embora e o Fernando falou assim: “nossa, eu fiquei com tanto medo que você desligasse”. Então eles também estavam totalmente entregues à situação!
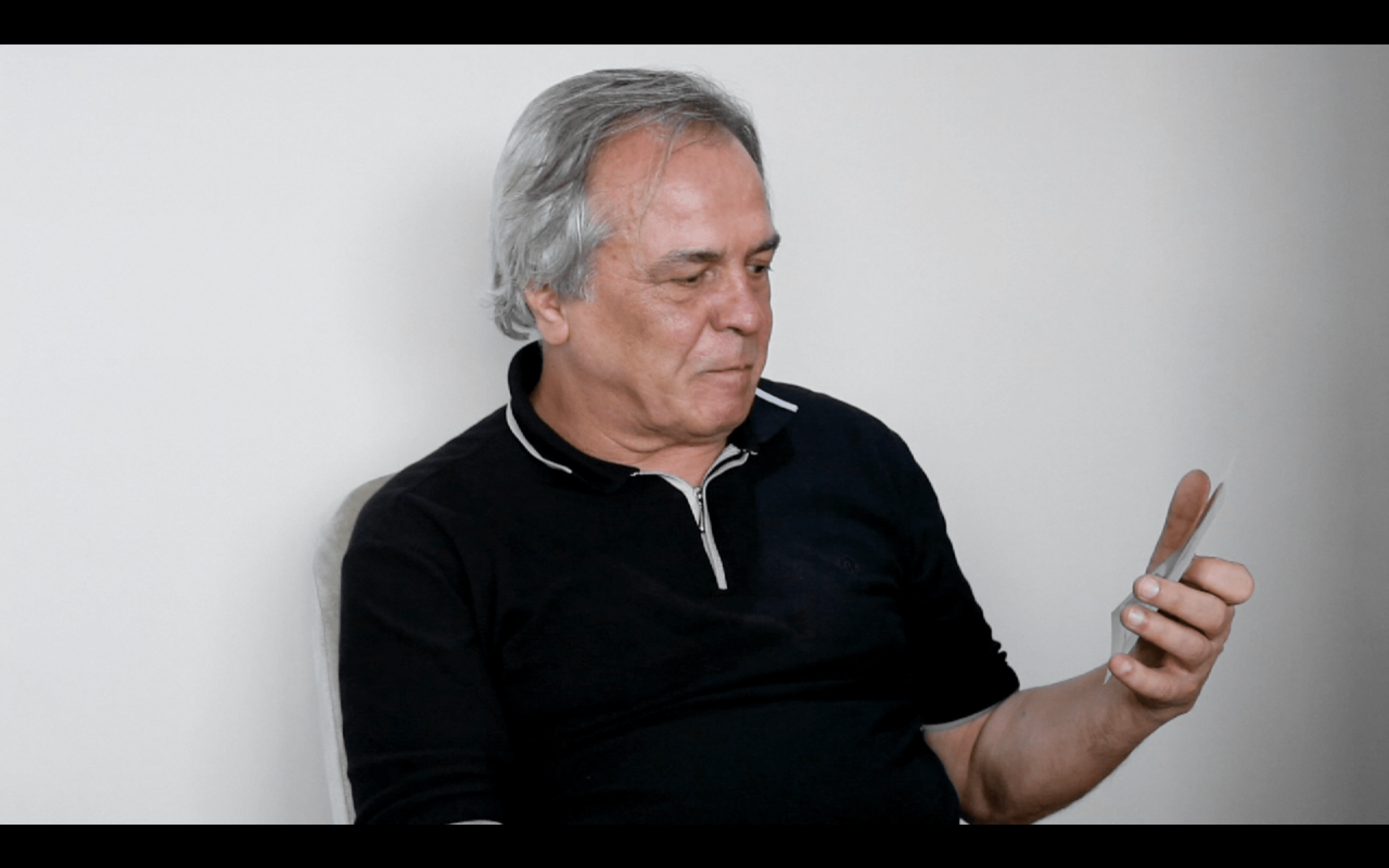
Antônio Roberto Espinosa foi um jornalista, escritor e professor de Ciências Políticas e Relações Internacionais. Comandante das organizações VPR e VAR-Palmares, no período da ditadura, Espinosa foi um quadro importante da resistência.
LM: Então só pra confirmar, primeiro você filmou o Reinaldo e depois o Espinosa?
AL: Foi. Reinaldo nós filmamos dia 7 de setembro de 2013 e o Espinosa em outubro de 2013, lá em Osasco, São Paulo, na casa dele. Em novembro eu voltei a São Paulo para fazer a gravação só do áudio da leitura do laudo de necropsia. Você pode ver que a voz dele está diferente, ele estava rouco no dia que eu cheguei lá. Não era a mesma voz, ali eu fui sozinha, eu mesma que fiz.
LM: Anita, eu queria te ouvir, a partir do contato que você teve com o Reinaldo e o Espinosa, o que foi o suicídio da Dora pra você.
AL: É difícil, né? Até para o Reinaldo é difícil saber porque a Dora se suicidou. Ele fala isso no filme, tem várias razões, tem a formação familiar rígida, sequelas da tortura, a relação dela com ele que não era fácil. Tem o fato dela ser psiquiatra e psicanalista e saber o que estava acontecendo com ela, que aquilo era um processo, não um surto… e tem coisas que ele falou que não podia contar. Então é muito difícil você saber o que significa um suicídio, né? É uma pergunta sem resposta. O que nós, externamente, exclusivamente podemos analisar é de um ponto de vista da história, da grande história da ditadura. Eu só posso ver isso aí em um conjunto de vários suicídios de presos políticos que passa pelo da Dora e do Frei Tito — que foi mais ou menos na época. Tiveram vários outros. Teve um recentemente, enquanto eu fazia o filme, que é o Marcão. Tem muitos casos e eles continuam acontecendo. O suicídio é algo que não conseguimos explicar nem julgar. É um ato extremo.
Por mais que o Reinaldo diga que tem muitas variantes do suicídio da Dora. Aquela que nos diz respeito enquanto espectadores de um filme, cidadã da história, leitor da história, alguém concernido pelo passado é a própria história. Algumas pessoas conseguem contornar e outras não… as pessoas que eu conheci que foram torturadas se apegaram muito aos filhos para sobreviver. Muitas delas fizeram filhos e filhas para sobreviver. Reinaldo fala que os filhos foram a Disneylândia dele. Ele viveu em função das filhas.
LM: O livro dele também como forma de elaboração…
AL: É, mas ele tem que ter mais que isso pra aguentar. Então é o limite de cada um, em função do que cada um viveu, do que cada um é… Não sei responder isso não, não sei mesmo. Não tem jeito de fazer. #
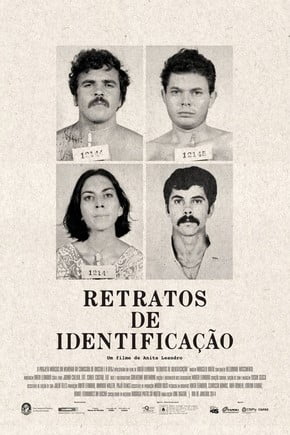
Retratos de Identificação (2014): https://vimeo.com/110206302
CARTA A JULIANO GOMES (OU POR UM CINEMA NEGRO QUE SE LANCE AO ABISMO)
Oi, Juliano!
Espero que tu esteja bem e com saúde.
Depois de tanto tempo lendo e relendo esses textos publicados por você, Heitor e Bruno, chego aqui para esticar o papo desses posicionamentos que se tornaram uma importante conversa pública acerca do cinema negro brasileiro. Endereço essa carta a você, a partir da revista Verberenas, para dar circularidade a esse debate, algo que parece ser — e ter sido — fundamental para o desenvolvimento dessa discussão.
Entendi quando você disse, lá no seu primeiro texto, que se sentiu convocado pelo Heitor a escrever, mesmo sem que ele tenha te endereçado algo. Ele fez perguntas espinhosas para aquele 2018. Quais filmes serão percebidos como “mais negros” que outros? Quais ‘mise en scène’ serão interpretadas como “mais próximas” de uma autoria negra do que outras?
Acho que elaboramos algumas respostas. Ou, talvez, nem tantas…
Mas gostaria de compartilhar que, quando olho para os seus últimos textos, sinto algo parecido: eles me convocam.
Queria te dizer também sobre as minhas motivações em fazer essa carta na Verberenas.
Sendo este um periódico construído por e dedicado aos cinemas produzidos por mulheres cis, trans, travestis e pessoas não-binárias, pareceu-me oportuno publicar esse texto por aqui. Não me inclino a essencializar meus sentidos por ser uma mulher cis negra etc.; mas o fato dessa discussão pública sobre cinema negro se pavimentar entre boys aparece como um sintoma dos mecanismos que circunscrevem e operam (n)a crítica cinematográfica. Não falo isso para apontar o dedo para você, Heitor ou Bruno — isso não é sobre individualidades! —, mas ao campo. E pelo reconhecimento de que ainda, nós, mulheres, sobretudo negras, encontramos dificuldades reincidentes para nos posicionarmos nesse meio.
Bom, essa não é uma carta sobre who can speak, confesso. O que me alimenta aqui é a possibilidade de elaborar caminhos alternativos, de dialogar com produções e pensamentos, sobretudo, de mulheres e negras acerca do cinema, na aposta de encontrar evidências e materiais que talvez não tenham sido levantados ou ganhado tanto destaque dentro das publicações que vocês fizeram anteriormente. Vislumbro mobilizar outras vozes para essa conversa, ansiando que ela encontre diferentes espaços e impulsione a elaboração de novos textos.
Ah, decidi criar uma nova numeração, visse?
Para todas as pessoas que estiverem lendo essa carta: recomendo enfaticamente o retorno aos outros textos. Vale muito a pena.
0.
No início de 2021, durante o programa AMPLI_AR – Oficina de Crítica Cinematográfica, que ministrei com Bruno Galindo na Mostra Negritude Infinita (CE), tentei mapear algumas perspectivas e tendências contemporâneas que estão tomando corpo no campo cinematográfico negro. Desenhei possíveis redes de circulação de ideias, buscando encontrar reverberações desses pensamentos em propostas curatoriais, nos festivais e na crítica. Nos últimos anos, foram publicados artigos e ensaios que fazem vibrar sentidos que nos aproximam das matérias que envolvem e estão em disputa no cinema negro brasileiro.
Olhando mais de perto, esses discursos e perspectivas apontam para uma comunidade amplamente marcada por dessemelhanças: em suas formas de olhar para o passado, em suas constelações fílmicas, em seus pontos de partida para a leitura do contexto contemporâneo e em suas sensibilidades sobre o que é (ou pode vir a ser) o cinema negro.
Essas ideias evidentemente instáveis em torno do cinema negro criam uma atmosfera trêmula que rompe com desejos de uniformidade, com o gosto palatável e admirável de ser black cinema numa foto ou numa live. As contradições estão postas e elas abrigam o potencial de desfazer certos signos que circundam as palavras “cinema” e “negro”. Te digo: acredito que buscar zonas de contato entre essas dissonâncias poderia mesmo nos direcionar a um campo co-criado entre vários agentes. Não como uma forma de coletivização forçada e simbolicamente construída por uma categorização (cinema negro), mas como uma maneira de nos lançarmos no risco e na radicalidade de viver o coletivo, em sua dinâmica viva e contraditória.
Discordâncias podem construir um campo.
E esse conjunto de cartas é uma evidência disso.
-1.
O aumento do número de festivais, mostras e outros espaços de cinema voltados para as produções fílmicas negras, suas estéticas e temáticas produziu a consolidação do que convencionalmente chamamos hoje de “cinema negro brasileiro”. A retórica do “abrir o debate” e do “cenário de escassez” já não faz mais tanto sentido. Heitor apontou isso lá em 2018, inclusive. Sendo esse cinema um corpo “vigoroso” e “heterogêneo”, compreender a formação de coletividades negras comprometidas com a cocriação de cenários dialógicos implica o reconhecimento não apenas de suas infinitas possibilidades estéticas, temáticas e políticas, mas também de seus modos de fazer, ocupar e construir projetos dentro do campo cinematográfico.
-2.
Ser preto e ser antirracista é a trend. Consumidas e apropriadas, esse é o lema. Pretos no topo [da Prada]! Se há navegação no sistema (ocupar cargos, festivais, grandes instituições, produzir filmes dentro de certos moldes por sobrevivência), também há risco de captura (ser ‘autêntico’, responder à expectativa do que é ser negro nas telas, vender as pautas políticas, comprar o discurso de empoderamento capitalista). Mas a real é que, na corrida para construirmos um chão todo nosso, temáticas, estéticas e discursos variados sobre ser negro na tela e na autoria fortalecem e enclausuram aquelas que escolhem viver com e/ou contra às instituições e expectativas que são projetadas em relação ao cinema negro.
-3.
Desobedecermos à transparência neoliberal e sermos descompromissadas com a “visibilidade messiânica” pode ser um caminho para hackear e recusar as demandas e performatividades esperadas em imagens convencionalmente e capitalisticamente compreendidas como negras.
O cinema negro é infinito, certo?
Blackness = Time ÷ Media = ∞ (Márcio Cruz, 2021)
-3.1
Se esse infinito negro não está ligado apenas à performatividade na e através da imagem, mas a um método e um modo de sentir e perceber o cinema negro, por que ainda legitimamos o gesto inaugural desse campo como aquele que se fundamentou em “avanços” estéticos e discursivos atrelados às perspectivas antirracistas — em uma evidente contraposição aos gêneros e personagens que habitavam as obras dos predecessores de Zózimo Bulbul? É infinito só no contemporâneo? E, se infinito, o assunto do filme não precisa ser evidentemente racial para a legitimação de uma linhagem, certo? Produzindo essa quebra, para onde esse infinito poderia apontar?
-4.
Nos últimos dois anos, dediquei-me a pesquisar as ações do Teatro Experimental do Negro (1945-1968). Revirando documentos e leituras bibliográficas, constatei que boa parte dos modos de narrar essa vasta e complexa experiência aderem-se aos olhares, escritos e memórias arquivados pelo seu “maior agitador”, Abdias Nascimento. Para grande parte de teóricas e pesquisadoras, a criação do TEN seria a ação fundadora dos teatros negros no Brasil: pela luta antirracista empreendida nos palcos brasileiros; por sua oposição aos modos de representação estereotipados acerca da negrura e por ter formado um corpo significativo de atores e atrizes negros na primeira metade do século XX.
Historiografar as ações do grupo unicamente a partir da perspectiva de Abdias, além de mascarar as contradições que atravessavam as experiências do grupo, produz apagamentos em relação a outras pessoas que participaram ativamente de sua construção, como Ruth de Souza, Haroldo Costa, Léa Garcia, Maria Nascimento, Aguinaldo Camargo, entre outras. A quem possa interessar, alguns veículos de imprensa da época retratavam o TEN como uma iniciativa coletiva, acredita?
Veja, estou mencionando aqui uma invisibilização que vem de dentro, pela aderência historiográfica às narrativas construídas durante décadas pelo porta-voz do TEN, que, sem dúvidas, é um dos intelectuais brasileiros mais importantes que temos. Só que eu aposto que é super possível admirarmos suas ações e ideias, sem necessariamente fazermos vista grossa às complexidades, às disputas e às contradições que habitaram um projeto tão multifacetado como o do Teatro Experimental do Negro.
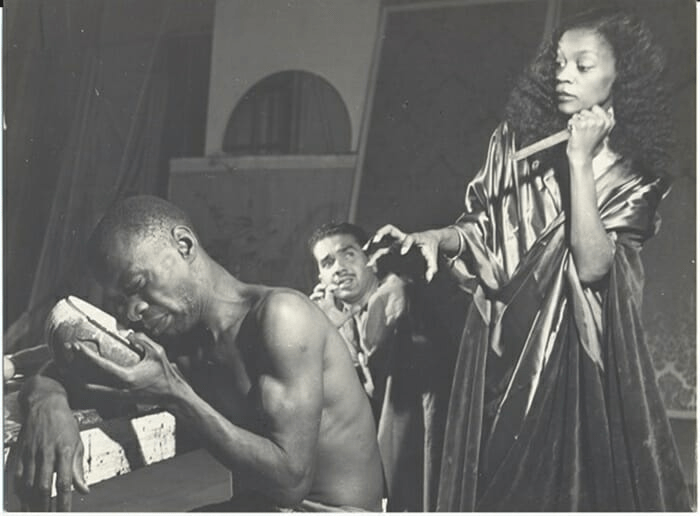
Ruth de Souza em O Filho Pródigo (1947)
A tese de doutorado do Júlio Cláudio da Silva mexe bem nessas feridas: ao investigar o Arquivo Ruth de Souza (LABHOI-UFF), em conjunção com a biografia e as entrevistas concedidas pela atriz ao longo de sua carreira, o pesquisador faz uma série de operações historiográficas que contradizem e incidem nas narrativas convencionais acerca do TEN, o que possibilita o deslocamento do tom personalista e paternal projetado sobre a história e memória do grupo.
Outros dois pontos revisitados por ele e que, ainda hoje, são pouco investigados: a aderência do TEN ao discurso ideológico da democracia racial (o jornal Quilombo, por exemplo, dedicava uma coluna ao tema e recebia diversos intelectuais, entre eles, Gilberto Freyre, que assinou um texto já na primeira edição do veículo de imprensa) e a construção de discursos que produziram uma oposição frontal aos teatros de revista negros; que contribuiu para promover, até hoje, a secundarização de experiências comerciais e populares negras e de seus agentes, como João Cândido (De Chocolat), Pixinguinha, Grande Otelo e Ascendina dos Santos (Rosa Negra).
Bom, por que estou falando disso tudo?
Você usou um termo: “zózimocentrismo obsessivo”.
À primeira vista, parece distante a minha aproximação entre Abdias e Zózimo, uma vez que essa narrativa, no caso do cinema, não foi criada pelo próprio Bulbul, diferentemente do que ocorrera com Abdias… No entanto, posso elencar algumas coisas que são comuns entre as noções em torno do teatro e do cinema negros:
#1: Há uma figura paternalista e suas ações influenciam na construção dos entendimentos sobre a linguagem em perspectivas pretas (ex.: as dimensões política e antirracista são interpretadas como ações inéditas de seus “fundadores”, e marcam as definições contemporâneas acerca do campo cinematográfico e teatral negros);
#2: Nega-se um passado indigesto, que deve ser colocado em oposição à iniciativa proposta por essas figuras e/ou grupos, produzindo uma evidente hierarquia dentro do campo por meio da deslegitimação do que veio antes (no cinema, as chanchadas; no teatro, os teatros de revista negros — e nesse caso, os dois estão relacionados ao circuito comercial e popular);
#3: Os legados desses “fundadores” são sempre retomados no presente como meio de legitimação de suas realizações pioneiras, o que inviabiliza um olhar para ações anteriores ou circundantes aos seus atos inaugurais (Alma no Olho, no caso do cinema; fundação do TEN, no teatro).
Seria possível ir além desse binarismo determinante? Como fugir do desejo de sempre construir um inimigo em comum? Que tal abandonarmos a excepcionalidade e nos deslocarmos até Pista de grama (Haroldo Costa, 1958), Um é pouco, dois é bom (Odilon Lopez, 1971), As aventuras amorosas de um padeiro (Waldir Onofre, 1976) ou Na boca do mundo (Antonio Pitanga, 1978)? Se alguns deles foram perdidos, como olhar para seus rastros em meio às documentações? E por que não, criá-los? Fabulá-los?
Poderíamos deixar de pensar somente no agora e no desejo de “refutar o passado” — com o intuito de reelaboramos os procedimentos de investigação e os modos de narrar e fazer ver os cinemas brasileiros e negros, a partir de perspectivas críticas não brancas e não eurocêntricas? Documentar e elaborar o presente só são uma parte do trabalho. Em meio às noções de tempo que se baseiam na ideia de progresso para impor destruição naquilo que está por todos os lados, virar as costas a esses vestígios me soa terrivelmente branco.

Cinema de preto (Danddara, 2004)
-4.1
O curta Cinema de preto (Danddara, 2004) conecta o cinema negro ao Abdias e ao TEN… O intelectual negro é apresentado no filme como porta-voz da luta antirracista brasileira, que elabora uma crítica ao passado colonial do país e aponta para uma necessidade de oposição ao silenciamento e à imagem estereotipada que rondam os signos da negrura nos campos artístico e das lutas políticas. Coincidentemente ou não, temas caros ao cinema negro, né?
A escolha de inserir fotografias das montagens do TEN no curta não deve ter sido aleatória. Elas aparecem em conjunção ao texto enunciado por Abdias, mas ainda como fricção entre imagem projetada pelo filme e a materialidade de um passado artístico que ainda pulsa e jorra adubo fortuito para pensar o cinema negro. Nem deve ter sido ao acaso a escolha de entrar no acervo de Abdias e deixar a tela ser contaminada pelas cores vibrantes e os traços escuros das obras de Nascimento, conectadas ao cotidiano das ruas, dos terreiros e, sobretudo, ao trabalho protagonizado e ocupado por profissionais negros no cinema.
Como tu diz: pista quente!
-4.2
Vou retomar uma coisa: quando você fala em obsessivo, reconheço o termo numa ideia de apego, certo? Menos do que um delírio ou coisa parecida, acredito que há um movimento contínuo de aproximação historiográfica com o legado produzido por Zózimo Bulbul, seja em sua produção fílmica, como em seu projeto cinematográfico. Mas fico pensando: estamos debatendo seus projetos? Há um risco imanente da cristalização de sua figura. No entanto, não deveríamos cristalizar nenhum ou nenhuma intelectual negra que abriu e se mantém em nossos caminhos. Uma vez ouvi que desrespeitar essas figuras, no sentido de tirá-las de um pedestal e chamá-las para a conversa, seria o melhor que poderíamos fazer para honrar aqueles e aquelas que vieram antes de nós. E, mais uma vez, isso não é sobre individualidades. Não é a pessoa Zózimo que estamos “colocando em xeque”. Confrontá-lo e fazer perguntas a seus programas e iniciativas pode ser um caminho para construirmos diálogos e não fecharmos essas proposições em si mesmas.
-5.
“O momento é de transição, de disputa no moldar na mudança.”
Concordo.
E os seus escritos me fazem pensar em uma coisa: parece que essas disputas são sempre externas à comunidade, já percebeu? Só que, na real, nós também disputamos projetos, né? E isso pode ser bom. Aquilo que comumente chamamos de hegemônico, que tem cor, raça, gênero, sexualidade e produz a norma, pode acabar virando um ótimo aparato discursivo para fingirmos que estamos longe do risco de criarmos nossos próprios embates e assimetrias, em que as dinâmicas de poder também vibram.
Tenho minhas dúvidas.
-6.
Bom, de fato, somos diferentes. A modernidade produziu essa diferença e tá aí cumprindo sua função. Mas se estamos falando de cultura e processos socioculturais, nada do que fazemos é excepcional, porque pode ser apreendido. Quem disse isso não fui eu, foi a Leda Maria Martins. E ela continuou: “aquilo que nos habita como pensamento pode habitar qualquer pessoa”. Ter intimidade em relação aos nossos saberes não nos confere nenhum tipo de superpoder. Aposto que as percepções do que é “nosso” são bem diferentes. Mas como encontrar zonas de contato entre elas sem nos anularmos, sem omitirmos nossas infinitas discordâncias? Para senti-las, é preciso botar os posicionamentos para jogo, desejando que em algum lugar eles se toquem e se transformem a partir desse encontro.
-6.1
Esse negócio de ser especial é uma merda para quem é negra e escreve críticas.
-6.2
Sobre ser crítica e negra:
#1: não precisamos ativar a todo momento a primeira voz do singular nos nossos textos para estarmos implicadas no que estamos escrevendo. o que era uma questão de posicionalidade, tornou-se exigência (para nós, negras). e isso não é bom.
#2: não damos conta de tudo e nem temos todas as ferramentas para ler e discutir sobre filmes (negros). e tá tudo bem. não saber é o que também possibilita continuar trabalhando.
#3: falar que críticas são “negativas” ou “positivas” é uma redução terrível, se quisermos ir ao encontro com as obras, habitar a contradição delas. logo, escrever criticamente sobre filmes de realizadoras negras não deveria ser um problema e nem deveria nos tornar brancas (pasmem, já ouvi isso!), quando levantamos o desejo de não ativar uma sensibilidade contemplativa ou de pura aderência em relação às obras.
#4: pensar não é coisa de branco, certo? certo.

Amor Maldito (Adélia Sampaio, 1984)
-7.
Se temos um Pater, por que não procurarmos nossa Mater, né? Adélia Sampaio tá aí, mas o desejo pelo pioneirismo sob qualquer circunstância (primeira de tal ano, segunda de não sei o que) só serve para reproduzir competitividade e produzir silêncios historiográficos. Não que eu tenha apego à flecha do tempo como categoria para elaborar narrativas, mas a repetição dessa disputa, com certeza, dispara uma série de problemas em todas as temporalidades.
O modo capitalista-neoliberal de estar no mundo, além de adorar um token, ama ver preto “brigando entre si” em busca de favorecimento individual. Esse tipo de conflito só endossa o não reconhecimento da existência de outros movimentos, parcerias, discursos, projetos, pessoas, questões materiais e entraves que possibilitaram e cocriaram (des)especificidades para a chegada de realizadoras e realizadores negros no campo. Ser o primeiro ou primeira, no final das contas, pouco tem função quando a gente se propõe a olhar para as coisas de maneira mais complexa e conjuntural. Que tenhamos conflitos. Mas pela construção de um terreno onde as oposições nos mobilizem e nos desloquem de um ponto, ideia ou certeza — que até então compartilhamos — em direção a um outro lugar.
-7.1
Imagina se a gente descobre que teve um filme realizado por uma cineasta negra antes da Adélia? Os saberes, tecnologias e memórias pretos são queimados desde sempre, né? Nada, afinal, é uma certeza. Mas sempre há um indício que vibra e permanece. Se isso acontecer, vamos destronar a pioneira da vez? Quando nos dermos conta de que a linha histórica pós-Adélia que está sendo elaborada hoje ainda-já está cheia de lacunas… Com certeza voltaremos a esses escritos e nos perguntaremos, no mínimo, sobre os danos provocados pelo desejo de escolhermos narrar essas realizações pela via da excepcionalidade.
-8.
Na edição especial da Filme & Cultura (1983), Grande Otelo faz um comentário sobre Alma no Olho (Zózimo Bulbul, 1979): “[ele] fez um [filme] que era a exaltação dele mesmo. De certo modo, pode até ser um libelo da raça através das imagens, mas como o Zózimo tem, ou teve, uma imagem de ser um negro bonito, isso bateu em mim de outro jeito”.
Parece picuinha, né? E pode ser. Mas olha só: temos aqui a leitura de um ator negro sobre um curta-metragem de uma pessoa que, posteriormente, seria considerada como fundamental para a construção da ideia do cinema negro no Brasil. Não é qualquer ator. Não é qualquer comentário. O que podemos investigar a partir dessa imagem projetada por Grande Otelo em relação ao Zózimo? Como a questão da aparência possibilitava ou interditava Zózimo dentro do campo cinematográfico? Isso influiu na realização de seu primeiro filme? De onde parte, por sua vez, essa “desconfiança” de Grande Otelo, mesmo considerando o Zózimo, e consequentemente seu filme, como um “libelo da raça através da imagem”? Quais leituras podemos traçar a partir daí?
Zózimo, na mesma revista, comenta sobre o cinema brasileiro e a representação negra nas telas: “ninguém, a não ser no período do Cinema Novo, dignou-se a escrever um papel sério para o negro. (…) O próprio Grande Otelo, um dos nossos melhores atores, é sempre visto nos piores papéis”.
Como o ator e diretor construiu em sua trajetória essa legitimação do Cinema Novo? Só por sua participação nos filmes? O que estava em jogo? E essa afirmação em relação ao Otelo: o que pode ser entendido como “piores papéis”? É a partir daí que se estrutura a hierarquia entre as possibilidades representacionais? Como isso se edificou na época? Como isso impacta nossas percepções, recepções e leituras sobre os filmes do passado?

Também somos irmãos (José Carlos Burle, 1949)
-8.1
“As designações de ʽrepresentação positivaʽ versus ʽrepresentação negativaʽ em relação às representações da pretitude e de pessoas negras podem ser frustrantes. Tomadas como simples descritores, são categorias limitantes que não nos permitem acessar a gama completa e complexa de imagens que circulam nos meios de comunicação, nem permitem a possibilidade de envolvimento matizado com essas imagens por parte das pessoas que as consomem. Os usos convencionais de políticas ʽpositivasʽ e ʽnegativasʽ apoiam políticas de respeitabilidade e de fechamento de possibilidades de concepções e desempenhos de identidades multifacetadas. No pior dos casos, invocar estas categorias sem críticas reforça as ideologias racistas que utilizam discursos de excepcionalismo negro para marginalizar ainda mais os comportamentos pretos e as pessoas que se desviam das normas brancas, de classe média e heterossexuais.” [tradução livre] (Racquel Gates, em Double Negative)
-8.2
O discurso do Zózimo em relação aos papéis de Otelo, além de ser reducionista, parece fazer parte da rejeição acentuada cultivada pelos cinemanovistas em relação às chanchadas.
Vamos desconsiderar que, por exemplo, Moleque Tião (José Carlos Burle, 1943) foi inspirado na biografia de Grande Otelo e foi protagonizado por ele? E o personagem dele em Também somos todos irmãos (José Carlos Burle, 1949)? E em Ladrões de Cinema (Fernando Coni Campos, 1977)?
Num pólo oposto, a gente ignora Compasso de Espera (Antunes Filho, 1973), ou esse podemos salvar porque o roteiro foi coescrito com o Zózimo?
Inclusive, uma pequena observação: curioso o Zózimo ter escolhido esse filme do Antunes Filho para ser digitalizado em seu projeto Obras raras do Cinema Negro da década de 70, não? Estamos fazendo perguntas em relação a isso?
-8.3.
Quando perguntei, lá em cima, sobre o Grande Otelo, foi vislumbrando encontrar seu lugar de inventividade no processo coletivo que é fazer um filme. Se não podemos, simplesmente, ignorar a autoria daqueles diretores e diretoras que assinam as obras, por que não podemos provocar um deslocamento no modo de olhar para esses filmes do passado através da produção crítica? Descentralizar a figura da autoria dos diretores é escolher ir em busca de campos de força onde as criações e invenções de atores, atrizes e outros trabalhadores negros do cinema pulsem e revelem sua força criativa e autônoma, nos proporcionando percorrer pelas coisas que parecem escapar das próprias obras. É reposicionar nossa sensibilidade para a produção de um gesto crítico e historiográfico que vai atrás da agência coletiva e autoral de artistas negros e negras que correm o risco de passarem desapercebidos, quando decidimos revirar estritamente os olhos para os cinemas que são lidos como hegemônicos.
-9.
Você citou alguns filmes, como Madame Satã (Karim Ainouz, 2002) e Branco sai, preto fica (Adirley Queirós, 2014), que evidentemente traçam discussões sobre e elaboram performatividades que permeiam o campo cinematográfico negro. Fico me perguntando, no entanto, que tipo de relação (ou régua, não sei se é esse o melhor termo) pode ser ativada com esses filmes dirigidos por diretores brancos que, diante de leituras mais íntimas, irradiam a luz negra.
Até porque, desse modo, já entramos em outra pira, né? O quanto há de “negro” no que é “branco”? Quais filmes “brancos” entram nessa pretitude? Será considerado negro com quais parâmetros, entendendo que o substantivo e o adjetivo utilizados aqui têm conotações de afirmação política e de construção de um lugar protagonizado por pessoas negras? Será que isso reelaboraria a deslegitimação e o apagamento de produções negras, já que outros filmes “dão conta” de certas questões dentro dessa lógica?
[E, aliás, um outro ponto: qual seria o lugar de Vazante (Daniela Thomas, 2017) nessa discussão?]
-10.
Sabrina Rosa fazer co-direção com Cavi Borges é um problema? Glenda Nicácio fazer co-direção com Ary Rosa é um problema? Grace Passô fazer co-direção com Ricardo Alves Jr. é um problema? Eu, particularmente, acredito que não.
Acho que, na real, fazer disso um problema constrói coisas que são bem ruins, pois fica parecendo que: diretoras negras em codireção com uma pessoa branca não teriam autonomia ou não participariam com voz ativa nos processos criativos, a ponto de serem capturadas por essa figura; que dividir o posto de direção com uma pessoa branca deslegitima a posição de trabalho e a conquista profissional de uma realizadora negra; que assinar uma obra com uma pessoa branca retiraria o purismo e a essência necessários ao filme que será lido como negro.
-11.
Esse binômio (autoria negra x cultura negra) circunda territórios bastaaaante complexos. No entanto, me parece difícil ignorar os ruídos negros que ficam em boa parte dos filmes que você mencionou em sua carta. Ouvir esses sons quase inaudíveis nos permite construir outros abismos, estremecer certezas. Nada aqui é sobre preencher lacunas, mas recriar nos territórios quase vazios e escuros.
Racquel Gates e Michael Gillespie (2017) disseram assim: “a autoria, por exemplo, embora uma lente óbvia de análise, é uma linha de investigação muito achatada quando a produção de filme e mídia é um processo inerentemente colaborativo. A circulação, a recepção e as vidas posteriores do filme negro e da mídia são tudo menos diretas.” [tradução livre].
Tudo que é apertado rasga (Fabio Rodrigues Filho, 2019) aparece como uma pista, né? Ao fazer um remix de cenas de personagens protagonizados por atores e atrizes negras como Ruth de Souza, Zezé Motta, Luiza Maranhão, Antônio Pitanga, Zózimo Bulbul, Grande Otelo, o filme-ensaio escava a filmografia brasileira e nos convoca ao encontro desses artistas que produziram campos de forças criativos e irrefreáveis a partir de seus trabalhos na atuação.

Barravento (Glauber Rocha, 1962)
“O filme é como uma locomotiva… Precisa seguir o seu destino… Mas… Mas… Mas… Mas… Algo atravessa.”
Se, num primeiro momento, podemos excluir Barravento (Glauber Rocha, 1962), Sinhá Moça (Tom Payne, 1953), A rainha diaba (Antonio Carlos da Fontoura, 1974) ou Madame Satã (Karim Ainouz, 2002) de dentro das discussões sobre o cinema negro brasileiro pois, de algum modo, esses filmes já têm seu destino, o jogo da montagem construído por Rodrigues nos leva a repensar essa falta de desejo em encarar e lidar com essa vasta filmografia. Quando finalmente tomamos um assento nesses filmes-locomotivas, o que Fabio Rodrigues Filho faz é deslocar o lugar da autoria para as performatividades daquelas artistas-personagens que — por vezes indesejadas, por vezes construídas para reforçar certos estereótipos e projetos ideológicos racistas — atravessam os filmes com seu olhar, seu corpo, sua presença. Não à toa, Fabio escolhe para o filme uma das cenas mais emblemáticas de Sinhá Moça, de quando Ruth de Souza se movimenta em direção à câmera, encarando e devolvendo o olhar para quem está em frente à tela. Rasga-se o quadro, nos conectamos com a inventividade preta e a autonomia criativa de seu corpo. Aquilo que era acidente, contrariando o que deveria ser destino, incontornavelmente vibra. E é negro.
-12.
Não ser vista é também não ser vigiada. (Glenda Nicácio)
-13.
Genialidade tem a ver com excepcionalidade, né? Get out.
-14.
Por quê não reviver os traumas da diáspora? Por quê artistas negros e negras não podem “reviver”, melhor seria criar, a partir dos traumas da afro-diáspora? Ou seja, expor as simbologias que imediatamente associamos a esses traumas, via mise-en-scène’s, no caso das artes cênicas ou do cinema? Proibição, ou até melhor, desvinculamento, é muito arte contemporânea branca; “não pode isso, não pode aquilo, e etc.”.
Artista negro vive para transformar. Ele não vive nem para voltar, nem para cortar laços. Vive para transformar, dá movimento histórico, crítico e estético. A gente não rompe laços, por mais traumáticos que eles sejam. É demais pedir para uma artista negra ou negro esquecer o que foi, na mesma medida, é demais instaurar um impedimento estético na diversa produção negra — por mais que o mercado ou o campo não queiram vê-la como diversa; mas aí o debate é muito mais complexo, muito mais.
Artistas negros tendem a reformular o trauma. Talvez, a gente transmute o trauma e, para isso, as amnésias são contraproducentes, pois se perde a prática ampla da crítica e do movimento. Ademais, talvez, essa transmutação do trauma esteja para além do filme que o retrata (considerando o cinema), mas para como a pessoa vai se relacionar com aquela obra, o que ela produzirá em relação com aquela poética e, com efeito, com o que transborda, involuntariamente, da poética, da artista negra ou negro. (Diego Araúja)
-15.
A mão sabe!
-16.
Em um texto recém publicado, a cineasta Danddara apontou: “o fato de que, no Brasil, as poucas reações (nenhuma até hoje escrita) ao meu primeiro filme [Gurufim da Mangueira] foram desqualificações a aspectos formais da obra, ou à minha performance como criadora pioneira de um cinema autorreferenciado autoral, em nada diminuiu a relevância da realização. Mas eu estava ansiosa para discutir autoimagem e a autorrepresentação da mulher negra no cinema brasileiro… e tudo que ouvi, além desses muxoxos de alguns incomodados, foi silêncio”.
Me preocupo com os silêncios que continuam a ecoar. Não reivindico aqui uma crítica afrocentrada, que demande uma gramática específica (ancestralidade, lugar de fala, empoderamento, etc) para o encontro com a produção audiovisual negra. Não precisamos reelaborar cativeiros linguísticos, afinal a língua por si só já tem um pouco disso. Conversar, escutar, argumentar e construir pensamentos em torno dos filmes deveria ser mais um ganho do que um fardo.
De um lado, temos um conjunto de obras que é ignorado ou preterido e, do outro, uma série de produções que foi legitimada pela audiência, mas seguem com poucas análises ou mediações críticas que abram mão de enquadrá-los na celebração da visibilidade e da representatividade. Que tal nos reaproximarmos de Kbela (Yasmin Thayná, 2015), Negrum3 (Diego Paulino, 2018), Pattaki (Everlane Moraes, 2018) e Perifericu (Rosa Caldeira, Vita Pereira, Nay Mendl e Stheffany Fernanda, 2020), por exemplo? Quais são as estratégias desses filmes? Quais são suas matérias? Para onde eles apontam? Quais são as elaborações formais que produzem seus discursos?
Convocar essas possibilidades de leitura não é abrir mão de sua recepção e do seu impacto no mundo, mas um gesto possível de ampliar as formas de ver e pensar o cinema negro.
Bom, acho que essa carta ficou bem longa, hein? Mas, espero que minhas palavras tenham te chegado bem.
Beijo,
Lorenna.
AMIUDAR O CINEMA, AMPLIAR O OLHAR: NOTAS SOBRE O CINEMA DO COTIDIANO E EDUCAÇÃO
Um ensaio fragmentado em notas sobre pensamentos inconclusivos que me acompanham há alguns anos dentro das salas de aula e de cinema. A ideia aqui não é um aprofundamento, mas sim um passeio sobre reflexões e acontecimentos que perpassam a minha prática educacional e o meu fazer cinematográfico. Esse diálogo parte do que chamo de cinema do cotidiano. Essa expressão não é um conceito formal, mas sim o modo como tenho chamado filmes que se debruçam sobre a vida ordinária, sobre acontecimentos e personagens tidos como comuns, se tomarmos como contraposição a produção hegemônica, em que o extraordinário se faz mais presente. Nesses fragmentos, o comum não é algo menor em relação ao extraordinário, mas sim algo a ser valorizado, algo que deve ocupar cada vez mais o espaço da tela de cinema.
fragmento 1 – o espanto
O pequeno, quando se torna grande, assusta. O plano detalhe — aquele momento em que elementos imperceptíveis na maior parte do tempo ocupam as proporções enormes de uma tela de cinema — é um recurso comum, mas fundamental na constituição da tal magia do cinema. Por poucos instantes, vemos o mundo a uma distância que não é usual. Os planos muito fechados exigem aproximação, intimidade e cuidado para que sejam bem realizados. Não por acaso, são planos raros em primeiras experiências com o fazer cinematográfico. Há alguns anos, dou aulas em oficinas e cursos regulares de produção audiovisual. Normalmente, há um receio em se aproximar radicalmente do que está sendo filmado. Existe um desconforto físico mesmo, que facilmente é substituído pelo zoom ou por planos mais abertos. Chegar muito perto não é fácil. É preciso observação e confiança.
Guardo uma recordação muito intensa do dia em que vi o curta “Pouco mais de um mês”, de André Novais, pela primeira vez. Não lembro exatamente qual era a mostra ou festival, mas ainda sei dizer o espanto que me tomou quando o filme terminou. A um olhar tão acostumado em ver o extraordinário e o incomum nas obras de ficção, foi um choque ver a grande tela ocupada por uma história pequena, que poderia ser vivida por qualquer um. O ordinário não estava apenas no plano detalhe. Ele tomava conta dos planos abertos, do som, da narrativa por inteira. Foi estranho perceber como uma situação absolutamente comum foi capaz de emocionar tanto. Sem que tivesse uma consciência imediata, “Pouco mais de um mês” inaugurou em mim a possibilidade de fazer cinema.
Anos depois decidi estudar o filme no mestrado, tamanho foi seu impacto para mim. Por sorte, agendei uma entrevista com o diretor André Novais. Ele participava de uma edição do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro (FBCB), na cidade. Um novo espanto. Como uma boa pesquisadora iniciante, estava munida de teorias e hipóteses que explicassem essa opção de André Novais pelo banal. E era isso que eu esperava do cineasta: justificativas conceituais, referências acadêmicas e cinematográficas. Contudo, no decorrer da conversa, André me desmontou. A sua fala era constituída de um profundo vínculo com o seu cotidiano e território. Ele achava bonito a possibilidade do efeito da câmera escura no teto do apartamento da companheira. Assim como achava bonito o muro chapiscado no quintal da casa dos pais. E isso já era motivo o suficiente para se fazer um filme. Essa conversa me reconectou com aquela sensação da primeira vez em que assisti o curta. Cinema é sim muito estudo, pesquisa, trabalho; mas também é instinto e sentir.
fragmento 2 – o reconhecimento
Não é fácil propor uma curadoria de filmes que questione o modelo de produção audiovisual mainstream na escola, principalmente quando estamos diante dos jovens do ensino médio. A linguagem cinematográfica, para eles, é, em sua grande maioria, sinônimo dos filmes de heróis ou das séries do Netflix. Esse imaginário adolescente também é povoado pelos videoclipes, canais de Youtube e o conteúdo audiovisual de outras redes sociais, como o Tik Tok. Existe uma série de motivos para isso — a hegemonia econômica da indústria audiovisual norte-americana, a naturalização desse padrão de produção estado-unidense por nossas emissoras de TV e grandes produtoras audiovisuais brasileiras, falta de políticas públicas que estimulem verdadeiramente a distribuição de filmes nacionais independentes, entre outros —, mas esse texto não pretende discutir todas essas questões diretamente.
A ideia é entender como lidar com essa realidade enquanto professora, pensar em estratégias para exibir produções diversificadas em sala de aula e compartilhar aqui algumas das situações mais significativas que vivenciei. Apresentar filmes com uma construção estética e narrativa distinta, costumeiramente, vem acompanhado de comentários como “Esse filme é muito devagar”. Quando, além de novos usos da linguagem, propomos filmes com temáticas do cotidiano, o desconforto é ainda maior: “Não acontece nada nesse filme”, “O assunto até que é importante…” e o clássico “Não entendi nada” são comentários recorrentes. A ruptura com esse modelo de cinema hegemônico na vivência dos jovens provoca estranhamentos; o conflito tradicional faz falta, assim como os acontecimentos e personagens extraordinários e a montagem veloz. Mas essa primeira impressão não é algo sólido e se dissolve a partir de algumas estratégias que buscam desconstruir esse padrão audiovisual como o único possível ou como aquele que deve ser considerado profissional.
O filme “A cidade é uma só?”, de Adirley Queirós, é um dos exemplos de produções não hegemônicas que possuem uma recepção fílmica diferente. Apesar de romper padrões de linguagem e de construção narrativa, a obra desperta muito entusiasmo em sala de aula. Não há uma única vez que o jingle da campanha da personagem do Dildo — “Vamos votar, votar legal, 77223 pra distrital, Dildo!” — não seja entoado pelos estudantes. Iniciar o processo de reflexão sobre a pluralidade do cinema a partir de uma obra que provoque esse interesse pode ser um bom começo.
Após as exibições do longa de Adirley, eu pedia uma crítica escrita sobre o filme. Costumava selecionar alguns textos para serem lidos na aula seguinte, retomando o debate da obra. Qual não foi a surpresa da turma, quando um dos textos escolhidos foi o de Luiz Henrique, um jovem querido pelos colegas, mas conhecido por ser muito “bagunceiro”. Mesmo sendo um garoto criativo, ele nunca era apontado como destaque por outros professores. Após um pequeno alvoroço, ele leu feliz o seu texto e foi muito aplaudido pela turma. Em seguida, questionei a turma: “Pessoal, por que o texto do Luiz ficou tão interessante?”. A resposta veio, em tom de piada, de outro colega: “Porque ele é cria, fessora!”
“O longa ‘A Cidade é uma só?’ é muito bom, pelo motivo de que retrata muito bem a realidade em que meu povo vive”, afirma o rapaz em seu texto. Chamou a sua atenção, a rotina de trabalho cansativa do personagem, a diferença entre a campanha política de Dildo e a de grandes candidaturas, mas ele também ficou satisfeito com a presença do rap. “Outro lado bem chamativo é que o longa é tão relacionado com nosso dia a dia que, quando estamos assistindo, parece que estamos na pele do personagem Dildo…”, escreve. Durante os debates em sala aula, percebi que vários estudantes também se relacionaram com a rotina do protagonista e que muitos deles tinham em sua família alguém que tivesse sido empurrado para uma região mais distante do Plano Piloto. A sensação de se reconhecer intimamente em uma história que ocupa a sala de cinema é estranha, pois o habitual é assistirmos acontecimentos distantes da nossa vida. Essa não é a única maneira de se relacionar com um filme, claro, mas comecei a perceber que era uma abordagem muito interessante para se trazer para estudantes de audiovisual. Afinal, quando é possível se reconhecer em uma obra, é muito nítida a emoção provocada. Tenho a impressão de que a nossa própria existência ganha um novo sentido.
fragmento 3 – elos
Abrir um diálogo entre os estudantes e os filmes que rompem com suas expectativas de cinema é um passo importante para o surgimento de um interesse real. Nessa linha, as sessões do filme Temporada, de André Novais, foram bons exemplos desses momentos nos quais o debate sobre a obra auxiliava a construção de um novo vocabulário fílmico.
Os planos longos e estáticos, a ação extremamente cotidiana, as pessoas de vidas absolutamente comuns estampam a cena. Tudo no longa se desvia de uma linguagem mainstream, causando desconforto nos jovens: “Mas professora, é um filme sobre o combate à dengue? Só isso mesmo?”, “A vida dessa moça parece a de uma vizinha”, “É um documentário?”. Essas percepções de que a vida comum só tem espaço no documentário são muito recorrentes. Nesse caso, a trajetória do diretor André Novais surge como uma maneira de estabelecer um vínculo entre os estudantes e a obra. Pode ficar mais fácil aceitar uma ficção que conte uma história próxima da sua realidade, quando se entende que o realizador também tem um percurso semelhante ao seu. A ideia de fazer um filme na sua cidade, com sua família e amigos para ser projetado nas salas de cinema, transforma a visão pré-concebida da própria vida cotidiana.
Ampliar o olhar para o que está próximo permite ressignificar a relação com o ritmo do filme. Se a vida não possui um mesmo ritmo sempre, por que as obras cinematográficas precisam ter? Conciliar a velocidade da narrativa com os sentimentos com os quais ela dialoga são também uma opção. Essa descoberta é forte e abre espaço para o entendimento de que a vizinha e as suas transformações cotidianas também podem ser protagonistas. “Tem horas que a vida fica mais parada mesmo. Vou até ver o filme de novo”. Não sei se a estudante Jannielly cumpriu a promessa de rever o longa, mas entendi que a sua visão sobre narrativas não-hegemônicas começava a se modificar.
Fragmento 4 – explosão
Exibir o curta-metragem Travessia, de Safira Moreira, provoca reações explosivas. Em apenas 5 minutos, o documentário faz uma viagem ao passado, questiona um direito à memória que foi negado, e volta ressignificando o presente, com uma proposta de cura para séculos de apagamentos. Poesia, audiovisual e memória se entrelaçam para indignar e comover. Depois da sessão, a estudante Letícia, do segundo ano do ensino médio, procurou-me para confidenciar: “Essa é a história da minha mãe.” Dona Maria Aparecida não tinha fotos de sua infância e nem de seus pais. A lembrança guardada era representada por uma foice, instrumento utilizado para trabalhar na plantação de sisal. O filme contribuiu para uma compreensão inicial sobre a política do esquecimento e o racismo estrutural que atravessam a história de nosso país e de como isso impactava diretamente na trajetória singular da família de Letícia.
Durante o semestre, havia a proposta para realização de um dispositivo fílmico8sobre o afeto. Reencontro-me com a mãe de Letícia mais uma vez. Grandes tremores reverberam por muito tempo. A jovem tinha devolvido à dona Maria Aparecida o direito de contar sua história, de ter sua memória registrada, de ser lembrada. A mãe e sua foice, instrumento de trabalho que traz “lembranças boas e ruins”, haviam se tornado um pequeno filme. Maria Aparecida, uma mulher jovem e bonita, conta a história daquele objeto em sua vida. O plano médio e estático, feito no celular, se concentra no depoimento da mãe. Nas imagens de cobertura, Aparecida, generosamente, compartilha conosco o procedimento para transformar o sisal em fibra. Ela está consciente de como a condição do seu trabalho se aproximava a de um trabalho escravo. Respeita, no entanto, a ferramenta que carrega a história de sua família. Ao final do vídeo, as duas trocam de papéis: Maria Aparecida empunha a câmera — equipamento de trabalho da garota — e faz o contra plano de Letícia observando a foice. Um último plano simples, à princípio, mas nele, passado e futuro se cruzam. Com a câmera, a mãe olha para a frente. Com a foice, a filha não esquece de onde veio.9
Arrisco dizer que Letícia desenvolveu uma outra relação com o fazer cinematográfico e com o seu próprio cotidiano. O encontro com o que chamo de cinema do cotidiano movimenta novas possibilidades de narrativa. Muito embora já existissem, agora há a certeza de que elas podem e devem ocupar um espaço maior do que o de nossas casas.
Fragmento 5 – re-existências
“E a minha provocação sobre adiar o fim do mundo é exatamente sempre poder contar mais uma história”. A frase do pensador indígena Ailton Krenak costurou anos de reflexões sobre cinema e educação, esse encontro incendiário, que retoma passados, subverte o presente e nos permite inventar um futuro verdadeiramente justo. Pensar sobre o cinema do cotidiano não é necessariamente impor uma estética realista, um determinado ritmo de montagem — até porque alguns dos realizadores citados nesse texto, se utilizam do fantástico em outras obras —, mas sim reacender o olhar para narrativas contra hegemônicas. É expandir percepções para que compreendamos os nossos arredores enquanto cenários, aceitemos nossos corpos enquanto protagonistas, e entremos na importante disputa para a constituição de imaginários. É sobre fortalecer subjetividades, para que todos se entendam também enquanto narradores/autores de seu cotidiano. Claro que o cinema do cotidiano não é o único capaz de realizar essa ampliação do olhar, mas acredito que ele permita processos muito interessantes para serem discutidos dentro da sala de aula de cursos de audiovisual.
Ao compartilhar com a turma de uma oficina na Ceilândia o processo de escrita de seu primeiro roteiro, a estudante Suéllen chorou. Uma jovem inteligente, militante e articulada se emocionou profundamente, pois confessou não se ver, até então, como alguém capaz de contar histórias. Acredito que, muito além de técnicas de estruturação narrativa ou regras de formatação, uma oficina de roteiro deve ser a formação de um espaço de confiança e intimidade. Chegar perto não é fácil, observar o pequeno não é uma atividade indolor. Amiudar o cinema é a compreensão que ele pode ser do tamanho da gente, e que a gente é enorme. No cinema, tudo é realmente possível.
fragmento 6 – utopias
Não é fácil sonhar, imaginar, inventar e educar em um mundo capitalista. A ideologia neoliberal adentra as salas de aula exigindo saberes objetivos, fórmulas que preparem para o mundo do trabalho. Nas regiões periféricas, essa cobrança se intensifica, pois não há sonho possível onde não há sobrevivência. Não dá para ignorar que existe um mercado, repleto de padrões que identificam uma produção como profissional, pois se o estudante periférico não conseguir fazer parte dele, provavelmente, a realização audiovisual não poderá fazer parte de sua vida. Experimentar, atualmente, é direito de poucos. E qual é o espaço que sobra para a invenção?
Por enquanto, o espaço são as brechas, os pequenos desvios na rigidez da estrutura educacional e do mercado de trabalho. A curadoria de filmes que levamos para a sala de aula planta sementes, mas tenho o palpite de que o mais valioso é iniciar a compreensão de que o cinema não é apenas um filme, mas sim uma mediação possível entre você e o mundo. Você vive em um território, que não existe sem uma comunidade. Cinema é coletivo, o território é coletivo, a educação é coletiva e o coletivo é público. O público é de todos. Parece apenas redundância, jogo de palavras, mas para mim, é a utopia a ser perseguida. Não é novidade também, mas sim uma luta travada por muitos. Sou só mais uma contando essa história.
“APENAS UMA DONA DE CASA COM FILHO?” DILEMAS INTERIORES DE UMA CINEASTA CHILENA NO EXÍLIO
A aproximação subjetiva e íntima dos/as cineastas em documentários vem se consolidando como uma tendência produtiva no cinema, em que os/as realizadores/as são colocados/as no centro do relato e elaboram sobre questões evocadas a partir de sua própria experiência. Ao mesmo tempo em que esse cinema inclui o “eu”, também dialoga com fenômenos e eventos políticos mais amplos, trazendo à tona a maneira como os indivíduos são afetados pelos acontecimentos e processos históricos. No lugar de apenas informar e demonstrar respostas fechadas para as questões abordadas pelos filmes, a enunciação em primeira pessoa do/da diretor/a volta-se para a si próprio como o sujeito da experiência e expressa sentimentos, dúvidas e incertezas. Nesse sentido, os documentários relatam o ponto de vista do/a cineasta que reconhece prontamente a sua posição subjetiva.
O filme Diário Inacabado, realizado por Marilú Mallet em 1982, pode ser considerado um precursor do domínio da subjetividade no cinema latino-americano sobre as ditaduras militares que assolaram a região. Híbrido entre documentário e ficção, aborda a experiência de exílio da cineasta, que deixa o Chile após o golpe militar em 1973, passando a viver como exilada política no Canadá. Antes disso Mallet havia morado em Cuba, onde atuou como professora de História da Arquitetura na Universidade de Havana. De volta ao Chile, no final de 1971, trabalhou no Instituto de Cine Educativo. Contudo, pouco tempo depois, sua vida seria marcada pelo golpe de Estado, que derrubou o governo da Unidade Popular (1970-1973) no Chile e instaurou uma ditadura no país. Com a brutal perseguição que ocorre desde o início do regime militar, Mallet é obrigada a deixar o Chile junto com parte da família. Foi do exílio que Mallet produziu grande parte de sua filmografia.
O ISOLAMENTO DO EXÍLIO
No início de Diário Inacabado, após uma projeção de paisagens exteriores cobertas pela neve, o espectador é levado para dentro da casa onde Mallet vive em Québec. A câmera subjetiva passeia pelo interior daquele espaço privado, acompanhada pela voz da diretora que diz estar impressionada com a calma e o silêncio das pessoas. Na imagem, alguns de seus familiares dentro de casa realizam atividades artísticas: o irmão toca um violão, a mãe pinta um quadro e o filho pequeno lê um livro, enquanto os objetos de decoração nas paredes remetem ao seu país natal. “No começo, eu pensei que tudo era provisório, que não estava em meu país e que logo voltaria ao Chile”.
Diante do espelho, Mallet tira a maquiagem e a voz do marido, Michael, ecoa em off: “Você sabe, quando eu te conheci, você era uma exilada chilena, na embaixada canadense, e havia gente atirando em você, e agora você é apenas uma dona de casa com filho”. Em outro momento cotidiano, Mallet está sentada em um balcão numa lanchonete acompanhada do filho Nicolás e uma vez mais a voz em off do marido a acompanha, dizendo que ela deveria sentir-se contente por viver no Canadá, longe de toda a situação de seu país natal. “[Aqui] Não tem todos esses problemas. Você não tem que se preocupar com gente atirando, golpe de Estado, governo caindo”. Essa voz que ecoa em seu pensamento revela parte de seu dilema interior: de um lado, uma vida mais tranquila, segura e materialmente estável, mas também solitária e egoísta; do outro, um mal-estar por não apenas estar distante fisicamente da situação de seu país de origem, mas por se dar conta que aquela realidade a afeta cada vez menos.

Através da primeira pessoa no filme, a cineasta revela a transformação de sua própria experiência, em que a luta política vivenciada de forma coletiva torna-se memória, substituída por uma vida familiar em um país do norte global. “Quando alguém não tem país, ocupa-se de sua casa”, a voz de Mallet narra em seguida. Não ter um país significa, também, não ter um propósito pelo qual lutar neste país. “Aqui, me tranco muitas vezes a cada ano, deixo passar as tempestades, a neve, e o pouco de sol. Habito o interior”. Há uma cena em que Michael veda as janelas para impedir o frio de entrar na casa. Ela o observa enquanto questiona que, caso ele faça isso em todas as janelas, eles não conseguirão mais ver o céu e ficarão completamente enclausurados. Durante a maior parte do tempo a vida de Mallet se resumiria ao seu interior, sem que lhe fosse possível avistar para além dos limites de sua casa.
Ao longo do filme, portanto, a realizadora expõe seus dilemas interiores e coloca a si mesma no centro do relato, um gesto artístico raro nos países latino-americanos do período, quando se priorizavam questões referentes ao grupo e à ideologia. Enquanto o cinema em primeira pessoa surgia na Europa, os filmes documentais latino-americanos eram a expressão privilegiada de um cinema político e militante, cuja preocupação era de intervir sobre o real visando a transformação social. Neste sentido, a subjetividade da direção, a autobiografia, as fissuras discursivas e as incertezas quase não tinham lugar. O filme de Mallet rompe com este paradigma, abrindo caminho para essa linguagem futuramente se consolidar na produção documental da região.10
PAISAGEM E MELANCOLIA
É possível pensar que a utilização da primeira pessoa no documentário latino-americano das últimas décadas se apoia na impossibilidade de os documentários de anos anteriores – em que predominava o tom objetivo e de denúncia e a linguagem expositiva – dar conta dos fatos traumáticos produzidos durante as ditaduras. Assim, diferentemente dos documentários políticos dos anos 1960-1970, as narrativas fílmicas em primeira pessoa transitam de um espaço íntimo para o coletivo, em que a câmera deixa de ser uma arma para se tornar um instrumento da memória e da história (CUEVAS, 2005).
Após os sucessivos golpes militares nos países do Cone Sul, que interromperam o sonho da construção do socialismo democrático (como no caso do Chile), os movimentos revolucionários orientados à transformação social sofrem um baque que coloca em xeque a crença de que as utopias poderiam ser transformadas em projetos realizáveis a longo prazo.
“Para quem não escolheu o desencantamento resignado ou a reconciliação com a ordem dominante, o mal-estar é inevitável (…). A utopia deixa então de aparecer como um “ainda não” para ser encaixada em um lugar não existente, uma utopia destruída que torna-se objeto de uma arte da melancolia”
– Enzo Traverso.
Ao longo do filme Diário Inacabado, Mallet expressa sua experiência profunda de isolamento no exílio após o golpe no Chile, quando foi obrigada a viver num país ao qual ela sentia não pertencer completamente. A sequência inicial do documentário projeta na tela algumas fotografias de diferentes espaços vazios em Quebec cobertos pela neve, um elemento que se torna paisagem dominante no filme e que expressa, não um significado idílico, mas a ausência de um calor humano sentido na luta política do Chile do passado. “Eu teria gostado de um pouco de calor, do movimento, até mesmo da poeira”, a cineasta narra. A paisagem, portanto, funciona como a expressão de uma melancolia, derivada do fracasso de uma experiência política que ficou no passado e não mais será. A neve, que a empurra para o interior da casa, se torna o símbolo do exílio marcado pela ausência pelo que lutar, onde o pessoal, o íntimo e o privado se sobrepõem ao calor humano da luta política na esfera pública.
A sequência posterior talvez expresse ainda mais nitidamente esse estado de ânimo em que, logo após a imagem de uma estrada canadense vazia coberta pela neve nas laterais, o insert da imagem de arquivo de um ônibus pegando fogo numa via remetem ao clima político agitado das manifestações e confrontos nas ruas de seu país natal.
Esse estado de ânimo também se expressa através de uma confissão íntima de Mallet na cama com o marido que é compartilhada com um público mais amplo através do filme.
“Eu me dou conta que a cada dia me torno mais indiferente. Não sei… acho que mudei, que me tornei mais egoísta, que penso somente em mim, que me despolitizo. (…) Eu sinto que eu não participo dessa sociedade (…). Lá [no Chile] havia uma vida coletiva”.
Em Diário Inacabado as questões sobre exílio, imigração, gênero e a própria linguagem cinematográfica vão sendo perpassadas pelo sentimento principal que emerge do filme: o fato de a vida privada no Canadá, no presente, cada vez mais sobressair à vida coletiva no Chile do passado. A neve funciona como a expressão melancólica de um branco vazio, que faz Mallet questionar o rumo de sua vida no exílio.
Referências
CUEVAS, Efrén, “Diálogo entre el documental y la vanguardia en clave autobiográfica” in Josetxo Cerdán, Casimiro Torreiro (orgs.), Documental y vanguardia, Madri: 2005.
LEBOW, Alisa (2012). “Introduction” em Alisa Lebow (editora), The Cinema of Me: The Self and Subjectivity in First Person Documentary. New York/Chichester: Columbia University Press.
MALLET, Marilú. Entrevista acessada em: https://lafuga.cl/marilu-mallet/619
PIEDRAS, Pablo (2014). El cine documental en primera persona. Buenos Aires: Paidós.
TRAVERSO, Enzo. Melancolia de esquerda: marxismo, história e memória. Belo Horizonte: Ayiné, 2018.
Diário Inacabado está disponível aqui.
QUANDO NÃO SE PODE NEM MESMO NOMEAR A VAGINA
“Os homens que eu tive”. No contexto em que essa frase se formula, o eu, saberemos, se refere a uma mulher. Ter é, a princípio, em nosso léxico linguístico, possuir, no sentido de ter posse de, mas também usufruir, desfrutar, gozar, significantes que, veremos, definirão ainda mais o destino de tal sintaxe. Por fim, os homens, o plural de homem — aqui não genérico de humanidade, mas indivíduo do sexo masculino — se refere a muitos, vários deles.
Não há dúvidas, pois, que esse enunciado subverte a lógica machista estruturalmente arraigada nas nossas relações, comportamentos e hábitos, portanto, definidora de nossas mentalidades com seus modos de ver e conceber o mundo social. Tal lógica de base patriarcal sustenta e é sustentada pela ideologia a partir da qual, realmente, “alguém possui alguém”: o homem a mulher. E nesse caso, possuir conota desfrutar não só como usufruir — ter prazer com aquele corpo — mas, submeter o corpo feminino ao prazer masculino, tomar a vagina como ausência, buraco, que só existe ao ser preenchido pelo pênis. Daí os significantes de dominação e posse sexual: comer, traçar, fuder. Do campo sexual, o possuir como dominar se estenderá ao político: comandar, governar, subjugar. Chegamos enfim ao modus operandi do patriarcado.
Ao nomear seu longa-metragem brasileiro, realizado entre 1972 e 1973, como Os homens que eu tive, a cineasta Tereza Trautman expõe, em plena ditadura militar — exercício totalitário do poder masculino no cerceamento das livres formas de expressão —, seu contrapoder feminista na forma de materializar aquilo que seu filme enuncia. Trata-se de um dístico que já é em si o manifesto daquilo que a narrativa cinematográfica de Trautman guarda em sua fatura: colocar em cena uma personagem mulher que, por sua vez, coloca em crise os desmandos patriarcais, com seus dispositivos disciplinares de moralização e salvaguarda do corpo feminino, não através de ataques diretos, mas pela naturalização do feminino em sua vivência do erótico e da liberdade sexual. Lembrando que, para Audre Lorde, “o erótico não diz apenas do que fazemos, mas da intensidade e da completude do que sentimos no fazer” (2019, p. 69).
Através de uma mulher protagonista, Pity (Darlene Glória), a quem a câmera acompanha o cotidiano sem cessar, ao longo de todo o filme, outra mulher, a cineasta, vai malograr os brios da sociedade falocêntrica — aquela que tem o falo, o pênis, em seu centro — ao não necessariamente inverter a lógica do quem come quem, portanto de quem domina quem, pois fazer isso igualaria seu posicionamento àquele que ela mesma critica (o machismo), mas ao questioná-la e assim subvertê-la.
Tal questionamento, como já dito, é indireto pois o dispositivo — formal, narrativo, e performativo — do filme funciona muito mais no sentido de virar as costas, portanto de suspender, como se ela (a dominação masculina) não existisse em pleno anos 70, tempos completamente abafados pela ideologia patriarcal, em que tradição, família, propriedade aparecem no ápice dos valores moralistas e conservadores, de base direitista-militarista, como posse masculina, sobre os quais a mulher não tem menor intervenção, nem possibilidade de reinvenção, ao contrário, a ela só resta zelar e conservar.
O problema é que esse caráter de suspensão da dominação, ao não tratar de trazer o inimigo para o campo de batalha cinematográfico e ali enfrentá-lo, como poderíamos considerar acerca dos documentários militantes do contra cinema de mulheres dos anos 70, como os de María Luisa Bemberg, na Argentina; Carole Roussopoulos, na França, Rita Moreira e Norma Bahia Pontes, e Helena Solberg (no Brasil e nos EUA), e mesmo algumas ficções como Amor Maldito, da cineasta brasileira negra Adélia Sampaio — pode não só ser subversivo, mas ainda mais potente do ponto de vista feminista.
Através da entrega completa aos quereres, ao comportamento, ou seja, as formas múltiplas de subjetivação da protagonista feminina que namora, transa, e se junta a vários homens, ao mesmo tempo, e ainda cuida de si mesma, erotiza seu ser no mundo, sem ser ou sofrer o estigma da prostituta, Trautman parece não insultar o inimigo, nem mesmo querer tratar com ele, mas abrir uma fenda para uma vida possível. Ao mostrar quão normal essa vida poderia ser, na agência de Pity sobre os seus sentimentos e relações, que mesmo em sua vida libertária, sofre, duvida, se transforma, e precisa estar só consigo mesma, ela menos idealiza um mundo do que o expõe como humanamente possível, independente do machismo.
Com Os homens que eu tive, tudo se passa como se em vez de fazer da cena, ou do cinema em si, um terreno de disputa que desse lugar também ao discurso machista para dele se contrapor, Trautman tivesse simplesmente ignorado tal discurso e construído com o cinema um mundo possível, onde as mulheres, na figura de Pity, poderiam ser o que quisessem pois seriam donas de seus corpos e desejos. Abre-se assim um cinema, como faria Barbara Hammer também nos anos 70 nos EUA, em relação à vivência lésbica, para que o ser mulher supere o assujeitamento aos desmandos capitalistas-sexistas: heteronormatividade e casamento compulsório, família e maternidade instituídas segundo tais normas. Aí pode-se dizer que aos olhos patriarcais-militares da época, a cineasta nomeia a vagina na experiência feminina, não aos moldes do falocentrismo11, mas trazendo a mulher e seu corpo para o centro da cena. Sem fazer de ambos objeto do deleite pulsional do olhar masculino (como o male gaze do qual nos fala Laura Mulvey), o filme, ao contrário da tradição industrial cinematográfica, elabora a mulher como aquela que é verdadeiramente protagonista, pois devolve-lhe sua vagina para qual ela mesmo pode olhar com erotismo, e pode experimentar com outros sem ser prostituta ou carregar o emblema negativo que a história machista conferiu a profissão.
O erótico é um recurso intrínseco a cada uma de nós localizado em um plano profundamente feminino e espiritual, e que tem firmes raízes no poder de nossos sentimentos reprimidos e desconsiderados … para se perpetuar, toda opressão precisa corromper ou deturpar as várias fontes e poder na cultura do oprimido que podem fornecer a energia necessária à mudança, no caso das mulheres, isso significou a supressão do erótico como fonte considerável de poder e de informação ao longo de nossas vidas. (Lorde, 2019, p.67)
Nesse sentido, Os homens que eu tive enfraquece o poder fálico, e anula a submissão feminina, ao tirá-lo da cena para encenar outra forma de vida, de desejo e de relação com o feminino.
Mesmo se apresentando como uma abertura para igualdade e não para a supremacia de qualquer gênero, Tereza Trautman nomeia o problema do machismo, como o feminismo sempre buscou, ao pleitear um lugar também para o corpo feminino e, portanto, descentralizar o pênis. Assim, o que o filme opera já é suficiente para ser lido como ameaça ao falocentrismo, portanto motivo cabal de censura na época. Não à toa o primeiro corte da censura, ainda no ano de lançamento, incide em cenas, mas também no título –– que conforme sugerido pela própria produtora deveria passar a ser Os homens e eu.
Contudo, as revelações sobre o aparelho de controle e condenação desse filme não param por aí, e é digno de avaliação cuidadosa o tamanho do dano que ele parecia causar nos brios do poder militar, governamental, institucional, cinematográfico. Dentro da instituição cinema de uma época, na qual a pornochanchada era dominante como produção e mercado, em que mulheres nuas e conteúdos obscenos eram comuns, o filme de Trautman não representaria nesse quesito nenhuma ameaça a mais. Numa censura que deixava passar filmes como A viúva virgem, de Pedro Carlos Rovai, também de 1972, ou Como é boa nossa empregada (1973), de Ismar Porto e Vitor di Melo; e em que Toda nudez será castigada, de Arnaldo Jabor — de mesmo ano e com a mesma atriz de Os homens que eu tive, Darlene Glória, mas que faz ali o papel de uma prostituta —, é censurado, mas retorna às salas de cinema um ano depois12; não se tratava de preservar a moral familiar, mas de reinstituir uma moral que fortalece a figura do homem sobre a mulher.
Com Pity, a mão masculina será muito mais pesada, e ela parecerá bem mais perigosa, quando imaginamos que o filme de uma jovem cineasta de 22 anos pode balançar uma construção patriarcal secular em pleno regime militar quando os jovens subversivos e adeptos ao estilo de vida hippie eram considerados delinquentes. Porém, ao questionar o modelo da família burguesa de dentro dela — uma vez que Pity é uma mulher branca, estudada e de classe média do Rio de Janeiro, que frequenta a praia de Copacabana com os amigos e mora num apartamento bacana na zona sul da cidade —, a agência da mulher tida como recatada e do lar se torna uma realidade possível. A personagem não só se afasta daquela figura abjeta — a da prostituta de Jabor, totalmente humilhada no filme —, construída ao longo de séculos como um desvio (da bruxa13 à vagabunda), mas também inquire tal visão.
Tereza Trautman nos conta que a personagem foi totalmente inspirada em Leila Diniz, uma atriz carioca, lindíssima, que chocava a sociedade brasileira com seu pensamento libertário, suas roupas sempre insinuantes, e seu palavreado “pouco feminino” (ela falava palavrões aos borbotões) e assumia sua sexualidade de modo aberto (era “desbocada” no vocabulário da época). Famosa por ser a primeira mulher a usar biquíni grávida, e dar uma entrevista ao famoso semanário Pasquim, em 1969, dizendo, entre muitos depoimentos que afirmavam sua autonomia feminina: “Eu posso amar uma pessoa e ir para a cama com outra. Já aconteceu comigo”, Leila morre em um acidente de avião no mesmo ano, 1972, em que começava ensaiar junto à cineasta cenas para Os homens que eu tive.
Se a associação com Darlene Glória, que viria a ser a atriz escolhida por Trautman para interpretar Pity, vai além de sua atuação no filme, mas nos permite traçar a relação com a figura cinematográfica da prostituta que ela encarna na mesma época no filme de Jabor, a associação com Leila Diniz também vai além do espírito contracultural que sua personalidade mobilizava para o longa já em seu roteiro. Ela nos lembra quão despolitizante do ponto de vista feminista pode ser a leitura de Os homens que eu tive como um filme que expressa e condensa em si o ideário hippie, que pode ser, na desculpa da abordagem histórica, bastante redutora. Leila não era uma hippie, ao contrário, era uma atriz de cinema, de classe média-alta, que frequentava o showbiz do Rio de Janeiro, e que empunhava a bandeira de que era possível ser mulher insubordinadamente no seio daquela sociedade. Não há dúvidas que o filme (e tal visão se encontra nas muitas críticas a ele destinadas), feito e passado nos anos 70, se refere ao momento de muita força de um ideal hippie que valoriza o amor plural, a abertura aos experimentos sensoriais e ao poliamor. Contudo, tal leitura pode ser feita para desmerecer a potência política da liberdade sexual feminina no filme buscando associá-lo à visão pejorativa do estilo hippie como um idealismo encampado por pessoas loucas, desgarradas, usuárias de drogas que vivem a vida sem compromisso e na vagabundagem, que representava e ainda representa um problema para o progresso capitalista.
No filme, temos uma mulher casada que tem relações consideradas extraconjugais, sem que os homens que estão com ela se perturbem com isso, e que constata sua crise não em relação ao marido, mas em relação aos seus desejos, que ainda que vividos com autonomia, não lhe parecem encontrar os múltiplos caminhos que necessita para se realizar. É no momento que o marido, Dôde (Gracindo Júnior), se magoa e se afasta, pois percebe que Pity agora não está apenas dormindo com outro, mas apaixonou-se, que entra em jogo uma problemática existencial da liberdade que a protagonista precisa enfrentar. É menos portanto questionar a abertura sexual do que os modos de lidar com seus sentimentos e com os dos outros, enfim, um confronto que ultrapassa modelos de conduta e que está na gênese da experiência da não monogamia e seus desafios. É preciso ler tal contenda como instituinte do espaço da liberdade e da diferença, independente de gêneros e de lugares hierárquicos que a eles se imputam. Pity precisa então de seu espaço, de ficar só, até novamente se reencontrar na coletividade de uma casa comunitária rodeada pela natureza, do pintor Torres (Milton Gonçalves), onde vai morar com a amiga. Lá ela se volta para si mesma, para seus escritos, e seu corpo, que transita pelos espaços ainda de forma erótica, no sentido de que a sensação de existir e de fazer algo dessa existência ainda a move.
Por outro lado, uma leitura que também enfraquece o feminismo em Os homens que eu tive é aquela que minimiza o ideário hippie, mas o faz para dizer que Pity, como qualquer outra mulher, continua a buscar por uma família, pela maternidade, ou pelo amor, ainda que em formatos e composições diferentes. Dizer que há mudanças no que seria o modelo patriarcal de família pode parecer um passo, mas é insuficiente para que a perspectiva feminista possa ser um projeto político decantado pelo filme, quando ainda é por ela que Pity clamaria. Essa leitura enfatiza a realização da mulher na família ainda que desconstruída, em vez de se ater ao traçado da personagem no tempo de sua vida que o filme nos permite acompanhar. Tal traço compõe uma condição feminina em que o erotismo e a sexualidade vêm antes de qualquer busca familiar, portanto a chave está em olhar para a forma como o corpo de Pity é conhecido e vivido por ela com paixão e desejo de existência. A família, portanto, não é um fim para ela, mas as relações se fortalecem na medida em que seu corpo é liberto e aberto para experiências contra as amarras da vida doméstica imputada à mulher nos anos 70. Portanto, falar de família, nesse contexto, é evocar a dona de casa14, que a protagonista não é quando se muda de um canto para outro, e produz seus escritos como forma de elaboração de si. Falar de família seria evocar a maternidade como destino da mulher porque ela porta um útero, contrariando, assim, os postulados de Simone de Beauvoir.
Em Os homens que eu tive a chegada à maternidade se dá depois desse traçado, não linear ou evolutivo de Pity, mas a partir de seu desejo de interação com a infância, quando em certo momento o casamento de sua irmã se mostra falido e ela passa um tempo junto aos sobrinhos, brincando e rindo com eles. Além disso, é na bela cena final quando confessa estar grávida e se nega a nomear um pai, que se desbanca mais uma vez o modelo patriarcal de família. Nesse momento, a câmera de longe acompanha o encontro da protagonista com Dôde (de quem ela não se separou, pois tal burocracia não parece relevante) e Torres, e pela conversa fica explícito que aquele filho será cuidado por muitos.
Numa visão atualizada de Os homens que eu tive pelo feminismo, ressentimos a escolha pelo universo branco e de elite. O racismo e o classismo não são problemas expostos à época por Tereza Trautman. Porém, o caminho talvez seja pensar que se o recorte é limitado, as questões sexuais, maternais e familiares que o filme traz ainda estão em disputa, e o quanto elas se complexificam nesses outros cortes interseccionais, para seguirmos nomeando os problemas e olhando os corpos das mulheres não como falta mas como presença.
Referências Bibliográficas
BEAUVOIR, Simone de. O Segundo Sexo. Fatos e Mitos. Vol. 1, Trad. Sérgio Milliet. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1980.
FEDERICI, Silvia. Calibã e a bruxa: mulheres, corpo e acumulação primitiva. São Paulo: Editora Elefante, 2017.
FRIEDAN, Betty. Mística feminina. Petrópolis: Vozes, 1971 [1963].
LORDE, Audre. Usos do Erótico: o erótico como poder. Irmã Outsider: ensaios e conferências. Editora Autêntica, 2019.
BRASIL, Samantha. Tereza Trautman e Os homens que eu tive. In: LUSVARGHI, Luiza; SILVA, Camila. Mulheres atrás das Câmeras: as cineastas brasileiras de 1930 a 2018. São Paulo: Estação Liberdade, 2019.
MULVEY, Laura. “Prazer Visual e cinema narrativo”. In: XAVIER, Ismail (Org). A experiência do cinema. Rio de Janeiro: Editora Graal, 1983.
SAFFIOTI, Heleieth e Iara Bongiovani. Gênero, patriarcado, violência. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 2004.
VEIGA, Ana Maria. Estéticas e políticas de resistência no “cinema de mulheres” brasileiro (anos 1970 e 1980) In: HOLANDA, K. (org.). Mulheres de Cinema. Rio de Janeiro: Numa Editora, 2019.
Editorial
O nº 06 da revista Verberenas está no ar. É curioso pensar que, para essa edição e para a sessão de cinema que virá com ela, acabamos escolhendo textos e filmes que perpassam, de uma maneira ou de outra, pequenas resistências.
Isoladas em nossas casas ou em nossas rotinas enquanto assistimos a movimentos incendiários que colocam em risco nosso futuro, podemos nos sentir impotentes e deslocadas. Sobreviver é a primeira resistência; nosso primeiro habitat é o corpo e o que nosso corpo toca. Os primeiros passos para resistir são as práticas cotidianas que fundam espaços onde podemos sobreviver. E nosso corpo exige silêncio também. Silêncio, descanso, repouso, respiro, atenção. Talvez a partir daí possamos pensar em como expandir esse espaço, sair do corpo-só para um outro corpo, para a natureza, para a multiplicação, para o corpo coletivo.
Mil anos depois do evento apocalíptico que destruiu a maior parte da civilização humana, uma princesa faz visitas frequentes à floresta tóxica que restou: o Mar da Destruição. Ela observa com cuidado o ambiente por trás da máscara que a protege do ar letal que preenche aquele espaço, interage com os insetos gigantes, recolhe exemplares de plantas e fungos, os examina em seu laboratório para compreendê-los. Enquanto isso, a princesa de um outro reino planeja o extermínio do Mar da Destruição. Essa é a história de Nausicäa no Vale do Vento, filme sobre o qual Caroline Leonardi escreve nesta edição.
Retomando essa narrativa, a falta de combate da primeira contra a floresta que ameaça destruir a sua comunidade pode ser vista como não-ação. Acreditamos que é um erro, entretanto, interpretar o silêncio, o estudo, a exploração e o convívio com o que não entendemos como falta de ação. Tem parecido cada vez mais fundamental perceber o quanto é pequeno – e, ainda assim, necessário – o nosso papel dentro da enorme rede de seres de que fazemos parte.
Os textos que trazemos nesta edição são uma espécie de cultivo dessa esperança nos humildes gestos pessoais para sobreviver ao apocalipse dos nossos tempos. Pequenas resistências; como os fungos de Anna Tsing que colonizam os humanos, dos quais fala Caroline Leonardi em seu texto; como os filmes que não foram realizados ainda, mas que se desenham no intrigante do cotidiano de Denise Vieira; como as movimentações de um cinema de mulheres de Rondônia com as quais Naara Fontinele se coloca em diálogo. Algo de estranho e algo de silêncio se coloca, uma espécie de derrota aparente que se manifesta numa sensação de presença vitoriosa. Esse estranho às vezes impele ao riso e ao horror, como o que Stephania Amaral descreve na relação com as videoartes de Pipilotti Rist. Às vezes é algo tão sutil quanto o espaço-tempo que é tecido nas encruzilhadas, como escreve Letícia Bispo. Outras vezes, trata-se de um caminho interior cheio de curvas, como o que Everlane Moraes propõe em seus filmes e sobre o qual discorre na entrevista conduzida por Lygia Pereira. E, tantas vezes, está numa espécie de infiltração estratégica que se encontra no saber ver mantendo alguma desconfiança, como aponta Larissa Muniz sobre o filme Ilusões, de Julie Dash.
Ao escolher o filme da Sessão Verberenas, enxergamos uma pequena rebeldia em exibir um filme que escolhe tratar do pequeno, um filme que não se pretende incontornável ou urgente, que vai pelo caminho do prazer e do afeto como forma de sobreviver/viver em um mundo que se mostra cada vez mais inóspito. Trata-se de Microhabitat (2017), o primeiro longa-metragem da sul-coreana Jeon Go-woon. O filme inspirou a capa da nossa edição atual, feita pela artista visual danirampe.
A Sessão Verberenas ocorre entre as 20h do dia 18 de junho e as 20h do dia 20. A crítica e pesquisadora Carol Almeida escreve sobre o filme em seu texto “Contra o capitalismo, Miso pede mais uma dose de uísque”. Ela é nossa convidada para uma conversa sobre o filme que acontecerá no dia 19 (sábado) às 18h em nosso canal.
Como os fungos e bactérias, talvez precisemos aprender a sobreviver a partir dos restos, da morte, da adaptação e da transformação. Começamos a partir do corpo, do desejo, do mais ínfimo movimento.
Letícia Bispo, Glênis Cardoso e Amanda Devulsky
PENSAR OS FUNGOS: REFLEXÕES ATRAVÉS DE NAUSICAÄ DO VALE DO VENTO E OS COGUMELOS DE ANNA TSING
A divisão entre natureza e cultura é uma máxima existente no Ocidente Europeu-estadounidense. Essa separação coloca o ser humano, e sobretudo o homem branco, como modelo de superioridade no planeta, seja no que se chama de natureza seja no que se entende como cultura. Esse entendimento que visa monopolizar toda e qualquer natureza custa caro à nossa sobrevivência, e não é à toa que entre as separações existentes entre eras geológicas, a que estamos vivendo tem sido chamada pelos filósofos e antropólogos como Antropoceno, a Era dos Humanos, ou ainda, Capitoloceno, a era do Capitalismo e das catástrofes.
Pensar que fazemos parte de uma era nos remete ao fato de que ela pode acabar com a nossa própria extinção devido às ações de exploração natural exacerbada, uma das causas inclusive da grande quantidade de arboviroses e doenças outras presentes entre nós humanos. Donna Haraway elabora: “Trata-se de mais do que “mudanças climáticas”; trata-se também da enorme carga de produtos químicos tóxicos, de mineração, de esgotamento de lagos e rios, sob e acima do solo, de simplificação de ecossistemas, de grandes genocídios de pessoas e outros seres etc., em padrões sistemicamente ligados que podem gerar repetidos e devastadores colapsos do sistema. A recursividade pode ser terrível.” (HARAWAY, 2016)
Pensando nisso, proponho pensar além do nosso mundo, em um mundo inventado por Hayao Miyazaki que muito tem a acrescentar nessa reflexão. A animação Nausicaä do Vale do Vento, de 1984, foi dirigida por Hayao Miyazaki, sendo ele cofundador do famoso Studio Ghibli. A animação em questão, a primeira dirigida por Miyazaki, apresenta elementos que vemos em seus filmes posteriores: protagonismo de meninas como Chihiro em A Viagem de Chihiro, de 2001, amadurecimento e aprendizagem como em O serviço de entregas de Kiki, de 1989, convivência com outras espécies e embate entre culturas dominantes e tradicionais como em Princesa Mononoke, de 1997, entre outros exemplos.
Nausicaä é uma lição sobre a resiliência de um povo que tem sua pequena parcela de natureza intacta para sobreviver em meio ao caos. Esse pequeno reino sobrevivente me lembrou muito Ailton Krenak em seu livro “Ideias para adiar o fim do mundo” não apenas quando ele nos apresenta as estratégias de povos indígenas brasileiros frente à colonialidade da sociedade abrangente, mas como estes grupos se relacionam com outros seres não-humanos. Isto é, na cosmologia Krenak, o rio Doce é um parente muito presente no cotidiano e que por essa razão não deveria ser explorado e devastado pela mineração. Krenak nos indaga sobre como explicar isto às grandes corporações humanistas, como a ONU (Organização das Nações Unidas), por exemplo. Enquanto para os Krenak esses seres não-humanos são parentes concretos, tais organizações os veem como elementos em que se basta preservar pequenos espécimes ou pedaços de biomas com um fim quase museológico. A luta do povo da Vila do Vento, portanto, me lembra essa passagem, pois não estavam apenas salvando um tipo de ambiente e sim garantindo um meio e forma de viver milenar baseado no vento e nas histórias sobre o vento.
O que proponho aqui é uma reflexão sobre relações presentes na animação de Miyazaki que representam boas figuras para pensar a antinomia natureza versus cultura. Aqui, no entanto, sem querer utilizar dessa separação ou embate entre duas esferas, uso naturezasculturas para falar sobre a relação que personagens constroem com pessoas, insetos e outros animais e fungos a partir do texto “Margens Indomáveis: cogumelos como espécies companheiras”, da professora e antropóloga pesquisadora do antropoceno Anna Tsing.
Domesticação fúngica: aqui e no Vale do Vento
Em “Margens indomáveis”, Tsing apresenta uma visão sobre os cogumelos e nossa relação com eles, de primeira vista pela grande quantidade de espécies comestíveis e terapêuticas são considerados “fungos úteis” para os humanos. Os seres humanos percorreram milhares de anos e continuam a procurar pelas paisagens por esses seres não-humanos. Dito que os fungos são incríveis companheiros interespécies, Tsing apresenta como eles atuam em simbiose com outros seres, o que é demonstrado pela renovação de ecossistemas e nutrientes que a existência de fungos companheiros possibilita (TSING, 2015, p. 185). Eles protegem o solo, levam água às plantas e recebem tudo em troca. Algumas espécies são mais perigosas para nós, outras tomam gosto por alimentos estranhos – como os fungos que entopem os tanques de gasolina do avião – mas é certeza que é inevitável a presença de fungos perto de nós.
Como nos apresenta Tsing, é o excepcionalismo humano – a ideia de que somos os únicos seres do mundo que não se relacionam mutuamente com outras espécies – que não nos deixa enxergá-los por perto, entender nossas relações de interdependência e, ainda mais, não perceber a força de colonização dos fungos nas atividades humanas. Por conta de fungos, nos obrigamos a criar alternativas a eles, seja a troca de navios de madeira por navios encouraçados, seja a imigração para outro país pois fungos não permitiam o plantio, entre muitas outras ocorrências. Além do mais, sendo os fungos renovadores do ecossistema, eles são os principais inimigos da monocultura, eles querem uma paisagem multiespécies para continuar colaborando com todos os seres do mundo. Dado todo esse poder de nos colonizar, os fungos são uma ameaça para a ideia de domesticação do natural, é impossível domesticar o indomável.
A partir disso, penso nas relações entre humanos e fungos no mundo de Nausicaä. Como já dito, o Vale do Vento trata-se de uma comunidade beneficiada pelas ações do vento e por seu cuidado ao pouco de território e natureza que existe em um ambiente pós-apocalíptico. O apocalipse em Nausicaä, decorrente de grandes guerras e armas potentes bem como pela devastação de recursos do planeta em um colapso industrial, ocorreu há mil anos de distância do período em que se passa a história.
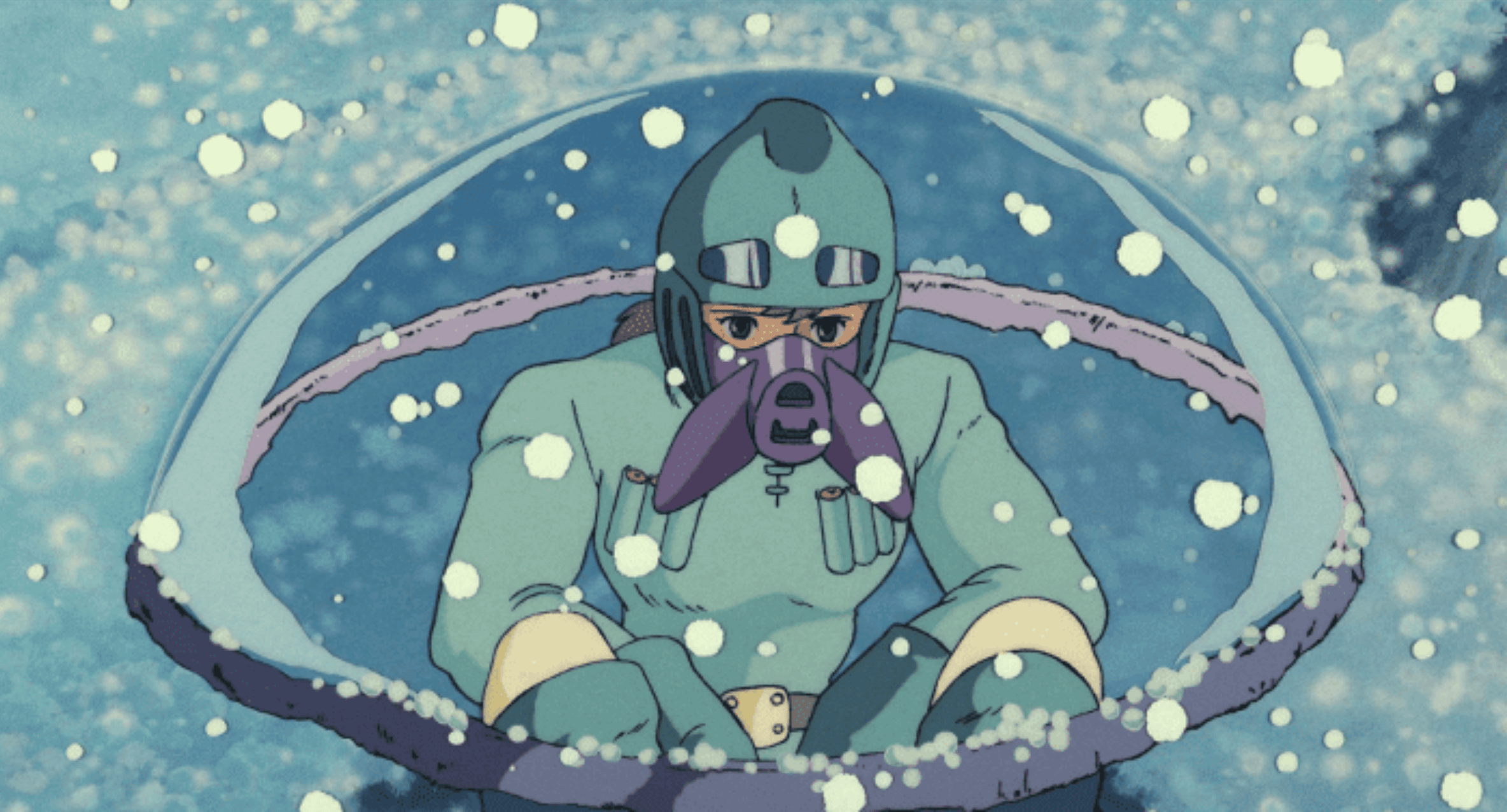
Nesses mil anos, vestígios dessas guerras e devastações ainda são aparentes. O maior fragmento aparente é o “Mar da corrupção”, uma floresta infestada de insetos gigantes e fungos com esporos mortíferos aos humanos. Esse mar cresce à medida que infesta outros reinos e vilarejos e por isso, o vento do reino de Nausicaä exerce um papel de proteção que se torna objeto de interesse e disputa. Nessa floresta existem também insetos muito temidos chamados de Ohmu, animais gigantes que, quando enfurecidos, em bando possuem grande poder de destruição de comunidades humanas.
Dessa forma, o que no nosso mundo parece pequeno, como os insetos e os fungos, no mundo de Nausicaä esses seres se mostram como predadores e colonizadores da humanidade. Levando em conta o que Tsing salienta sobre a condição humana ser uma relação entre espécies das mais variadas, na animação a importância atribuída aos fungos evidencia duas possibilidades de vínculo com esses seres: de um lado se procura entender a floresta fúngica e seus perigos, de outro se pretende destruí-la. A primeira forma representada por Nausicaä e sua curiosidade e respeito pela floresta tóxica, e a segunda forma representada por outro personagem, a princesa Kushana, do reino de Turumekia. Reino que, por sua vez, é reconhecido pela truculência contra seres humanos e não-humanos.
A ideia de dominação naturalcultural presente em animais humanos, e que segue o filme todo com a violência da princesa Kushana, é própria de humanos que vivem em sociedade ocidental, muitas vezes caracterizada como sociedade viral, isto é, que querem e pensam que podem transformar, domesticar e replicar seus sentidos e costumes para quaisquer naturezasculturas deste mundo. Como destaca Anna Tsing, mal sabem que são eles mesmos colonizados por micorrizas que crescem em um mundo invertido como árvores no solo.
Nausicaä: a heroína de trajes azuis e os fungos
A partir dessa vontade de dominação de algo indominável pelo reino Turumekia, a animação nos orienta por um embate entre dois tipos de sociedade. O reino do Vale, comandado pela princesa Nausicaä, trata-se do que se chamaria de uma sociedade fria, em que o povo e o modo de vida estão baseados em uma historicidade cíclica, em que se preza a continuidade, parecida com um relógio com ponteiros. Já o reino de Turumekia é uma sociedade quente, baseada na entropia, na geração de mais desigualdades e nas grandes transformações, que mais se parece com uma máquina a vapor.
Essa ideia é interessante para pensar como as duas princesas comandam as humanidades em questão em relação ao Mar da Morte. Kushana gostaria de subjugá-lo, por mais que Anna Tsing nos diga que são mesmo os fungos que nos colonizam, afinal, enquanto estamos em casa, eles nos visitam mas também estão livres na imensidão da Terra. Nausicaä, por sua vez, gostaria de entendê-los para garantir um bom convívio, para entender como causam doenças e desvendar os mistérios daquela floresta.
Mesmo a fúria dos Ohmu só é contida quando alguém os compreende, Nausicaä é a única que consegue mandar os insetos ferozes de volta para a floresta porque entende o que é se sentir ameaçada. Os Ohmu sentem a ameaça humana quando chegam perto de suas florestas, Nausicaä sente medo do poder destruidor dos Ohmu em seu vilarejo e sente o adoecimento de seu pai por causa dos esporos venenosos da floresta. Não digo que o que houve entre Nausicaä e os não-humanos foi uma pedagogia baseada no medo ou na fúria, mas sim, uma compreensão de que as interações precisavam ser interpretadas de outra forma para que o relógio de ponteiros da sociedade de Nausicaä, dos insetos e dos fungos pudesse continuar a adiar o fim do mundo.
Os fungos colonizaram a vila do Vento a tal ponto que Nausicaä procurou compreendê-los. Sobre essa mudança por meio das interações com não humanos Anna Tsing nos lembra “que tais relações podem também transformar os humanos é algo frequentemente ignorado.” (p. 184). Os que são próximos de Nausicaä não entendem como ela pode ter compaixão por aqueles que causam tanta destruição, pois em uma lógica de colonização da natureza pelos humanos “tende-se a imaginar a domesticação como uma linha divisória: ou você está do lado humano, ou do lado selvagem”. (TSING, 2015, p. 184)

Encaminhando-se para o fim da animação, essa curiosidade destemida de Nausicaä para aprender a conviver com os fungos mortíferos é a salvação. Os fungos em Nausicaä são até então mortíferos para os humanos, pois precisavam de tempo para restaurar um ambiente devastado pelas guerras e impactos humanos. Sobre essa proteção, Tsing exemplifica em seu texto com a apresentação de uma série de micorrizas que acumulam metais pesados para proteger plantas, ou ainda fungos que captam radioatividade de acidentes nucleares e servem de alimento para animais que moram nesses ambientes. O que teria acontecido então caso os planos de devastação do reino Turumekia tivessem sido colocados em prática?
Em nosso planeta, a nossa falta de identificação com os fungos nos custa caro. Sobre isso, Anna Tsing nos diz que está difícil a sobrevivência para o reino fungi que habita as margens de nossas casas e cidades, que tem sido difícil para se posicionarem, tomarem partido junto de nós. Em Nausicaä, Miyazaki apresenta um mundo onde os fungos se posicionam junto de humanos e preparam humildemente uma floresta livre de venenos, um lugar onde se é possível respirar depois de tanto tempo. Mas só há posicionamento desses companheiros quando uma humana consegue desvendar os mistérios desse companheirismo, que vai além dos ambientes domésticos e que mostra a vastidão do mundo.
Por isso, pensemos sobre os cogumelos, sobre os fungos, caminhemos para encontrá-los às nossas margens, o que será que nos dirão?
Referências
“Margens indomáveis: cogumelos como espécies companheiras” de Anna Tsing
“Ideias para adiar o fim do mundo” de Aílton Krenak
“Antropoceno, Capitaloceno, Plantationoceno, Chthuluceno: fazendo parentes” de Donna Haraway
Entrevista com Claude Lévi-Strauss presente no livro “Arte, linguagem e etnologia”