OS JOVENS BAUMANN É UM FILME DE VESTÍGIOS
Os Jovens Baumann é um filme de vestígios.
Se por um lado o filme nos faz adentrar nas férias de verão de herdeiros de um cafezal, a família Baumann, uma atmosfera que parece trazer um diálogo com a frivolidade presente em filmes como Bling Ring ou Maria Antonieta de Sofia Coppola, por outro, o suspense do found footage (vídeos caseiros encontrados) nos imerge na busca em desvendar o mistério do desaparecimento dos primos.
A estrutura narrativa também traz junto consigo a nostalgia da década de 90. Mas a força motriz, a principal chave de leitura me parece ser o contexto geográfico e social inscrito na certidão de nascimento de cada um dos desaparecidos da família Baumann. O suspense extrapola a simples questão pessoal do desaparecimento desses personagens e expõe junto também os vestígios de um passado colonizador tenebroso.
A questão da herança colonial nos implica perguntas que vão muito além da primeira máxima que surge: o que aconteceu com os Baumann?

O filme coloca em cheque toda uma estrutura de poder que nos faz refletir sobre as possíveis causas do desaparecimento dos primos e até imaginar o possível fim que os Baumann tiveram.
Mas a tensão aqui é histórica e as perguntas que vem à tona são atravessadas pela máxima da memória, da história e do esquecimento de um país.
Diante do contexto de escrita da história do Brasil, estruturada no apagamento das nações fundantes dessa terra Brasil: como negros e indígenas, é potente enxergar a fissura no tempo que se cria nos Jovens Baumann e a oportunidade de se colocar em perspectiva o próprio presente repleto de vestígios colonizantes ao olhar para o macabro passado escravocrata brasileiro.
Nos Baumann, o suspense aflinge a memória do colonizador. É ela que está em risco. Ela que é apagada. Ela que desaparece.
A partir da criação dessa fissura no tempo o filme faz parecer ser possível redesenhar a própria história do país a partir da lembrança das tensões escravocratas que permeiam nosso passado e insistem em ser sistematicamente esquecidas, ora por incêndios em museus ora pela negação da urgência de reparações históricas.
ADENTRAR A DISTOPIA/UTOPIA DO OUTRO: DIVINO AMOR
O universo criado pelo diretor pernambucano Gabriel Mascaro em seu último longa-metragem, intitulado Divino Amor, não está tão distante do nosso. O filme se passa no futuro recente: o ano é 2027 e não há mais Carnaval. Ao invés disso, comemora-se a festa do Amor Supremo, uma espécie de rave evangélica. Apesar da mudança de propósito e da forma da nova maior festa brasileira, podemos encontrar pontos em comum entre o Carnaval e a festa do Amor Supremo: a euforia dos corpos, a alegria encontrada na música, a busca por transcendência.
Nesse contexto, somos apresentados a Joana, interpretada por Dira Paes, uma funcionária pública que trabalha no registro de divórcios. Joana procura aconselhar os casais para que eles não se divorciem e crê que, com esse serviço prestado a Deus, Ele lhe concederá um milagre. O filme, assim, abre caminho para diferentes subjetividades, partindo de uma posição de não-julgamento e com enormes possibilidades de interpretação.
Um filme de personagem? Mascaro disse sobre Dira Paes: “É uma atriz muito mágica, cinéfila, intelectual, pensadora, mas ao mesmo tempo muito intensa. Ela não julga a personagem. Este é um filme sobre fé, e eu precisava muito de uma pessoa como ela, sem preconceitos”. Paes destrói a dicotomia da puta e da santa tão presente no cânone ocidental: é uma mulher de fé, crente, sexualmente liberada e participante de orgias. Ela contém multidões.
Um filme distópico ou utópico? Depende de onde se coloca o espectador, já que o filme evita o olhar de julgamento. As coisas não parecem tão ruins: há um clima melancólico, mas a sociedade de Divino Amor é aparentemente pacífica e estável. Enquanto espectador que acredita que aquela seria uma sociedade distópica, é possível entender como outras pessoas poderiam ver uma utopia ali e vice versa.
Um filme neon? Sim, mas não apenas. Há o aspecto performático das reuniões do amor divino que Joana e seu marido frequentam, das raves sagradas, do drive-thru da oração. Fora daquilo, a sociedade mostrada é burocrática, as casas todas iguais, os prédios de concreto lembram Brasília, há uma ideia ultrapassada de futuro. Já não é um futuro que traz muita esperança.
Um filme futurista? “O Estado ainda se diz laico”, diz o narrador. É algo que já faz sentido hoje em dia. Ou seja, é um futuro “recente”. Um dos sinais do futuro: uma máquina semelhante a um detector de metais acusa o estado civil das pessoas e é capaz de detectar gravidez nas mulheres. E mais: se o bebê tem registro paterno ou não. É um controle biopolítico.
Um filme de suingue? “Quem ama, não trai. Quem ama, divide”. Para estimular a concepção de bebês e começar a “família tradicional brasileira”, a inseminação artificial não é considerada como uma possibilidade, é necessário que a concepção aconteça de forma “natural”, nem que isso seja feito a partir de uma troca de casais. O orgia é justificada pela religião, o que nos leva a crer que seres humanos sempre vão encontrar uma forma de fazer um suingue.
Um filme de amor? Não estamos mais na era da razão. Hoje, nós nos apoiamos até mesmo politicamente através dos afetos, e isso está presente nas reuniões do Divino Amor. E de que amor estamos falando? Na sociedade de Divino Amor, a lógica do amor romântico dá lugar a outro tipo de regulamentação das trocas afetivas. O amor divino, a serviço de algo maior, é que media as relações e justifica os atos. A distopia aqui é a perda da subjetividade, dos direitos individuais. E nós temos sementes para esse tipo de futuro na sociedade brasileira. “Tudo que é feito em amor a deus não pode ser pecado”.
Um filme de sexo? Há espaço para o erotismo no amor divino. As cenas de sexo, no entanto, provocam estranhamento. O aspecto da “animalidade dos corpos”, do distanciamento da câmera, provoca sensualidade ou não? Há uma transcendência divina no ato sexual dentro da performance do suingue sagrado. Joana, em especial, realmente acredita que é um ato de fé. Ela se pergunta: “será que meu pecado é amar demais?”
Um filme sem respostas fáceis? Joana transcende inclusive aquela sociedade. Com a gravidez de pai desconhecido, ela se torna marginalizada. Joana se torna uma espécie de santa, que sacrifica a própria família em nome de um amor transcendental e, paradoxalmente, incompreensível para todos. O mundo aguardava a volta do messias e é Joana que traz a provável semente da mudança.
Uma filme crítico à religião evangélica? Mais que uma crítica, um convite a imaginar possibilidades. E se a religião virar parte do Estado, o que acontece com ela? Em Divino Amor, a fé burocratizada pelo peso das instituições se torna artificial, melancólica; é necessário buscar a transcendência pelas celebrações, pela rave evangélica, pela orgia religiosa. A religião se apropria de ferramentas do “mundo”.
Um filme de gênero? Mascaro disse em entrevista: “[O longa-metragem anterior] Boi Neon era uma alegoria muito material em função do espetáculo do evento. Agora é diferente. Eu tinha o desafio de pensar uma religião que negou a tradição da arte sacra, é uma religião antimatéria”. Na sua construção de um mundo evangélico estético do futuro próximo, ele se aproxima por vezes da ficção científica, embora o filme evada classificações simples.
Um filme ousado? É um filme que, como outras obras brasileiras recentes, se arrisca a pensar possibilidades para a conjuntura política e social que está se desenhando no presente, um filme que precisa ser revisitado no futuro, à luz do Brasil que nascerá deste momento muito específico que estamos vivendo.
Letícia e Glênis, duas das editoras do Verberenas, assistiram ao filme de Mascaro e se reuniram para conversar em um episódio do podcast méxi-ap (disponível aqui). O presente texto é um desdobramento desse diálogo, publicado originalmente em 2 de julho de 2019.
TEKO HAXY – SER IMPERFEITA
Nosso filme Teko Haxy – ser imperfeita é uma experiência do encontro. Diante da câmera, criamos personagens, mas também colocamos nossos assuntos mais íntimos. Assumimos uma estética íntima – nosso diário relacional – um experimento visual feito por nós, duas mulheres de diferentes mundos que criaram um mundo dentro dessas diferenças. Nossa auto-mise-en-scène. Um deslocamento. Em deslocamento, deslocamos a câmera e o celular de uma mão para outra, deslocamos ser mulher de uma racialidade cultural para a outra. Somos iguais porque somos duas mulheres imperfeitas no mundo imperfeito e ao mesmo tempo, também somos diferentes. Tivemos que nos adaptar às nossas condições de existência e transformar nossas realidades para a realização de nosso filme – algo que se parece fluido em se fazer. Em nosso processo, nos compreendemos um pouco mais, respeitamos a outra nos pontos divergentes, criamos um novo estado dentro do humano. Assim, o que de mais verdadeiro podemos oferecer é a justeza das nossas imagens, o pessoal que é político. Nos filmamos marcando nosso espaço como mulheres, como um mergulho espiritual no ser mulher, ser imperfeita.
Filmamos por quase três anos, desde o nosso encontro em 2015 e tivemos que nos adequar à linguagem das vídeo-cartas. Um esforço mútuo pois de um lado era uma pessoa com pensamento juruá (branco) e do outro, uma pessoa com os pensamentos Mbyá e a visão diferente das coisas que tínhamos. Em suspensão, tudo era novo e não sabíamos o que poderia acontecer. Um cinema-processo, inacabado, imprevisível, com informes de “em construção” em frente à obra – assim, construído narrativamente pela montagem de Tatiana Soares de Almeida (Tita). A fissura se deu, apenas quando compreendemos a natureza dos nossos corpos – colocados em relação e como aliados. Postas em movimento, avançamos mais um degrau em nosso crescimento e fomos colocando nossa experiência pessoal nesse trabalho, compreendendo que possuímos dores distintas de um corpo mulher que “naturalmente” sangra e dores distintas por trajetórias completamente díspares no recorte de raça, cultura e espaço social.
É nesse lugar entre eu e a outra (e quem nessa relação é a outra?), entre observar o real e inventar o real, entre fazer e esperar acontecer e entre as incertezas, é aqui que nossa relação se estreita e gera – como duas mulheres que podem, se quiserem, gerar a vida – possibilidades estéticas e políticas por meio das conversas entre imagens. É nesse lugar que localizamos nosso filme, como uma dobra no tempo, de passado, presente e futuro. Um tempo que ambas aprendemos a ter:

Patrícia:
Sempre me pergunto quais são as ações e quais as partes da minha cultura: até que ponto termina minha cultura e começa a outra? Penso muito nisso quando faço um trabalho e fico conversando com alguém de outra cultura. O que mais me possibilitou a entender isso foram as práticas e ações diferentes que seguimos em determinado espaço, crenças, valores e modos de agir em determinado assunto ou momento. Ou seja, isso me deu um sentido das coisas. Eu compreendi que isso é a nossa identidade própria (de cada uma) e apesar de sermos tão iguais – no meu modo de pensar, somos iguais porque somos duas mulheres imperfeitas no mundo imperfeito, dois seres imperfeitos – e ao mesmo tempo, também somos diferentes. Somos iguais e diferentes. Tivemos que nos adaptar às nossas condições de existência e transformar nossas realidades. Sophia veio para minha aldeia e isso foi fruto de um esforço coletivo, pelo aprimoramento de valores culturais e materiais. Digo isso porque minha família acolheu Sophia, sendo que ela era de fora e nós tivemos um esforço de tentar compreender Sophia e Sophia nos compreender. E isso foi fundamental para entender os nossos valores morais e éticos que guiaram nossos comportamentos, nossa relação e nossa obra. Entender como esses valores internalizaram em nós e em como isso conduziu nossa relação uma com a outra. Primeiramente, nós aceitamos o desafio de mudar, de nos compreender.
Então, acredito que sobre todas as coisas houve diferenças culturais. E acho que não poderia haver uma evolução espiritual para nós duas sem a nossa abertura de compreensão para nossos dois mundos. Dessa forma, foi possível alcançar nosso objetivo, pelo menos pra mim. Houve uma espécie de consciência de nós duas, como humanas. Foi muito rápida nossa elevação para ver o amor, para ver nosso interior e a realidade de cada uma. E acho que quando a gente percebeu essa verdade fomos acolhidas uma pela outra. Nosso amor começou a se manifestar em cada uma das coisas e no ambiente em si. E assim, todo o processo pra mim foi uma busca espiritual de vida – cada vez mais maravilhosa – que foi colocada em nós duas.

Sophia:
Combinávamos alguns vídeos, mas outros surgiam de maneira espontânea. Embora tivéssemos nossos temas guiando as filmagens, nossa experiência e a espontaneidade das coisas foram, na verdade, nosso roteiro. A cada início de filmagem, a performance diante da câmera era fabulada, como uma câmera diário em escrita compartilhada feita da nossa relação.
O extracampo (tudo que envolve a cosmologia Mbyá) está sempre presente nas ações de Patrícia como ser. Seu “modo de ser” (o nhadereko guarani) está presente cotidianamente em qualquer atividade que ela faça. Nas coisas simples como escolher qual parte da galinha cortar, quando vai tomar banho de rio, quando me ensina sobre os cuidados sexuais e a produção do corpo entre meninas e meninos… Aprendi de dentro pra fora (da casa para o mundo) a cultura Mbyá. E assim, o movimento de dentro pra fora e de fora pra dentro manteve-se constante entre mim e Patrícia. Deslocamento que ela faz constantemente entre sua etnia e os juruá kuery (brancos).
Trazemos à tona uma questão pouquíssimo discutida na antropologia, nas artes visuais e no audiovisual que são “as questões das mulheres”: a casa, a maternidade, a mulher e suas relações afetivas, a sexualidade, o corpo, as dores, as somatizações disso tudo. Principalmente, como todos esses temas comuns, do dia-a-dia , estão diretamente imbricados em nossa vida política, social e cultural. Confrontando assim, a desvalorização universal do domínio doméstico. O mais bonito disso tudo é como as camadas das nossas personalidades e nossas formas de ver o mundo a partir das nossas experiências cotidianas vão se tensionando e deixando nossas contradições expostas. Patrícia quando diz para os brancos: “acho que vocês queriam que a gente não existisse” no limite, ela também destina a mim. Mas, ainda sim, somos nós, Patrícia e Sophia, vulgo “mulher branca” e “mulher indígena” criando uma obra artística juntas e isso sim, pode ser uma arma pra rasgar o peito de todo olhar com viés etnocêntrico, etnocida, preconceituoso e machista. Nos filmamos marcando nosso tempo como mulheres. É como um laboratório do nosso feminino. Um mergulho em ser imperfeita.
Em nossos acordos de filmagens e em nosso calendário, tivemos algumas incompatibilidades, um movimento duplo de se adequar uma ao tempo da outra. Um jogo de espelhos complexo do reconhecimento da construção do sujeito em todo lugar, em que se aprende a ver o mundo através do que a autora Bahri (2013, p. 683) chama de “lógica da adjacência”: “leríamos, então, as mulheres no mundo não como iguais, mas como vizinhas, como ‘moradoras próximas’ cuja adjacência pode tornar-se mais significativa […] leríamos o mundo não como único (no sentido de já estar unido), mas como um conjunto”.
Por fim, através dos nossos conflitos subjetivos e coletivos e das nossas formas de ver o mundo, estávamos sob o risco, pois lançar-se na incerteza pode não dar certo, mas até o que “não dá certo” nos é importante e faz parte do nosso processo. Como salienta MacDougall (1975, p. 128, tradução nossa): “conjecturar que um filme não precisa ser uma performance estética ou científica: ele pode se tornar a arena de uma investigação”. Na presença desse “campo” investigativo, a abordagem das nossas imagens por meio do desenho e da câmera explora justamente a aproximação e a tensão desses métodos.
Referências:
BAHRI, Deepika. Feminismo e/no pós-colonialismo. Estudos Feministas, Florianópolis, v. 21, n. 2, p. 659-688, maio-ago. 2013.
OVERING, Joanna. Men Control Women?: The Catch-22 in Gender Analysis.
International Journal of Moral and Social Studies, v. 1, issue 2, p. 135-56, 1986.
MacDOUGALL, David. Beyond observational cinema. In: HOCKINGS, Paul (Ed.).
Principles of visual anthropology. New York, NY: Mouton de Gruyter, 1975. p. 115-132.
TRINH, Minh-ha T. Diferente de você/Como você: mulheres pós-coloniais e as questões interligadas da identidade e da diferença. Tradução de Augusto de Castro. Forumdoc.BH 2012 [Catálogo], Belo Horizonte, 2012. p. 201-206.

TEKO HAXY – ser imperfeita (2018)
Documentário experimental, colorido, 39min
Sinopse: Um encontro íntimo entre duas mulheres que se filmam. O documentário experimental é a relação de duas artistas, uma cineasta indígena e uma artista visual e antropóloga não-indígena. Diante da consciência da imperfeição do ser, entram em conflitos e se criam material e espiritualmente. Nesse processo, se descobrem iguais e diferentes na justeza de suas imagens.
Exibições “TEKO HAXY – ser imperfeita”
2018
II FINCAR – Festival Internacional de Cinema de Realizadoras (BR)
Môtif Film Festival (EUA)
6º Colóquio de Cinema e Arte da América Latina (Cocaal) e do Colóquio de Cinema de Autoria Feminina (cocaf) (BR)
IV Pirenópolis Doc – Festival de Documentário Brasileiro (BR)
51º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro (BR)
2019
Programação Abril Indígena – Sesc SP (BR)
14ª CineOP – Mostra de Cinema de Ouro Preto (BR)
MINIBIOGRAFIA PATRÍCIA FERREIRA PARÁ YXAPY:
Patrícia Ferreira (Pará Yxapy) é realizadora audiovisual indígena da etnia Mbyá-Guarani. Mora na Aldeia Ko’enju, em São Miguel das Missões/RS, onde é professora desde 2006. Em 2007, co-fundou o Coletivo Mbyá-Guarani de Cinema e hoje é a cineasta mulher mais atuante do projeto Vídeo nas Aldeias (VNA). Atualmente está finalizando seu primeiro longa autoral e circula com o filme TEKO HAXY – ser imperfeita, codirigido com Sophia Pinheiro. Dentre as premiações de seus trabalhos destacam-se os prêmios: Menção Honrosa – XIV FICA (2012) pelo filme Desterro Guarani, o Prêmio Cora Coralina de melhor longa no XIII FICA (2011), o Prêmio Melhor longa/média do III CachoeiraDoc e Menção Honrosa mostra Competitiva Nacional do forumdoc.bh.2011 pelo filme As Bicicletas de Nhanderu; Em 2015 o Prêmio Melhor curta Júri Oficial e menção honrosa Júri Jovem do VI CachoeiraDoc pelo filme No caminho com Mário. Em 2014 e 2015, participou de residências artísticas com os cineastas indígenas Inuit, no Canadá. Já realizou os filmes: As Bicicletas de Nhanderu, 2011/45min; Desterro Guarani, 2011/38min; TAVA, a casa de pedra, 2012/78min e No caminho com Mario, 2014/20min.
MINIBIOGRAFIA SOPHIA PINHEIRO:
É pensadora visual, interessada nas poéticas e políticas visuais, etnografia das ideias, do corpo e marcadores da diferença, principalmente em contextos étnicos, de gênero e sexualidade. Atua principalmente nas seguintes áreas: processos de criação, antropologia, artes visuais, intervenções artísticas urbanas, arte & tecnologia, fotografia, videoarte e cinema. Doutoranda em Cinema e Audiovisual do PPGCine-UFF, mestre em Antropologia Social pela UFG (2017) e graduada em Artes Visuais pela mesma universidade (2013). Participa do grupo de pesquisa Documentário e Fronteiras. Ganhou dois prêmios como artista visual e cinematográfica no Fundo de Arte e Cultura de Goiás (2015), participou do VIII Prêmio Pierre Verger de Ensaio Fotográfico (2016) e ganhou o 23º Prêmio Sesi Arte e Criatividade em 2º lugar na sessão Obras Sobre Papel (2017). Seus trabalhos artísticos já foram expostos no nordeste, sudeste e centro-oeste brasileiros além de países como Argentina, Paraguai, Espanha e Alemanha. Recentemente realizou sua primeira exposição individual “MÁTRIA” em Barcelona (ES). Atualmente circula com seu primeiro média-metragem “TEKO HAXY – ser imperfeita” codirigido com a cineasta Patrícia Ferreira Pará Yxapy, é professora da Academia Internacional de Cinema (RJ) e artista bolsista do programa Formação e Deformação – Emergência e Resistência 2019 da Escola de Artes Visuais do Parque Lage (RJ).
FILMES ME ENSINARAM A COMER
Filmes me ensinaram a sentir.
Depois de seis anos, voltei à terapia. Tenho descoberto muitas coisas sobre mim e minhas relações com as pessoas e o mundo, e algo que tem me voltado à mente com alguma frequência é esta frase: filmes me ensinaram a sentir.
No final de 2018, outra frase me perseguia, repetida como um mantra na minha cabeça: “eu quero voltar a ser gente, eu quero voltar a ser gente”. O que, sim, estava relacionado ao ritmo louco de produtividade que nos é exigido atualmente, transformando tudo que nós gostamos/fazemos/somos em algoritmos capazes de gerar lucro enquanto consumimos conteúdo que não parece nunca preencher nosso vazio existencial. Mas, para além dessa ideia de seres humanos como máquinas dentro de uma cadeia de produção interminável, me peguei pela primeira vez questionando essa impessoalidade no contexto familiar e como ela alimentou e foi alimentada pela relação com os meus pais.
Com um pai militar que viajava com frequência durante a minha infância e cuja carreira nos fez morar longe de tios e avós, uma mãe muito jovem e solitária que não pôde ter outros filhos, minha educação emocional – no que diz respeito à construção de relações de afeto em uma comunidade – foi esparsa. Não consigo me lembrar, na minha infância e adolescência, de momentos de rotina do dia-a-dia em que passasse junto com meu pai e minha mãe para conversar. Apesar de meus pais sempre terem sido muito carinhosos, nunca construímos uma troca de pensamentos e diálogo que nos permitisse conhecer uns aos outros de forma profunda.
Pode parecer uma associação inusitada, mas acho que isso se relaciona de alguma forma com o fato de nunca termos, como família, nos importado muito com comida. Não tínhamos o hábito de comer juntos, eu ia para a escola cedo, meu pai trabalhava o dia inteiro, e ninguém dava muita bola para o jantar. Minha mãe nunca gostou de cozinhar e meu pai sempre preferiu requentar a comida no microondas a sair e ter que esperar pela comida por mais de dez minutos. Comíamos cada um numa hora, e a comida nunca era particularmente especial.
Apesar disso, muitas das minhas lembranças com meus pais na infância e na adolescência estão relacionadas a comida, mesmo que comida ruim. Pipoca de microondas no final de semana enquanto meu pai assistia ao futebol; as raras vezes que minha mãe fazia lasanha e eu comia a massa de macarrão com a mão, queimando os dedos e a língua; sorvete e outras besteiras de madrugada com minha mãe enquanto meu pai dormia; visitas mensais ao supermercado com o meu pai, uma das únicas coisas que fazíamos juntos, mesmo depois que eu me tornei uma adolescente mal-humorada. Quase todo o resto da minha memória afetiva foi construída por filmes e livros que caíam nas minhas mãos.

Little Forest (2018)
Não é tão estranho que eu tenha compensado a deficiência na minha formação afetiva com as artes, especialmente a literatura e o cinema. Acredito também que, apesar das peculiaridades do meu histórico familiar, não seja incomum, dentro de uma sociedade ferozmente competitiva e cada vez mais focada no indivíduo, que as pessoas se sintam mais e mais desconectadas de suas comunidades e redes de apoio, com poucas oportunidades para amadurecer emocionalmente. Nossa obsessão até mesmo na política por heróis e vilões tem nos mostrado isso.
Não que todos os filmes e livros caiam na velha dicotomia de bem contra o mal, longe disso. Mas, querendo ou não, essas são histórias que ocupam maior espaço e acabam por povoar o imaginário coletivo com enorme força. Pessoalmente, tenho pouco interesse nesse tipo de narrativa, embora entenda o seu apelo, em especial quando se enxerga a arte como escapismo.
Nos últimos tempos, tenho voltado a pensar sobre isso, como consumimos arte, o que ela representa para nós. Acho curioso que o audiovisual tenha se transformado em mais um utensílio no grande arsenal do tal “self-care” (ou, pelo menos, a ideia propagada nas redes sociais do que é o self-care), como se assistir a seis horas seguidas de uma série para tirar nossa atenção do estado em que se encontra a nossa vida fosse de fato uma prática de auto-cuidado. Confunde-se distração com satisfação, consumo com prazer. Para mim, essas coisas não poderiam estar mais distantes. Tem ficado cada vez mais claro que o que eu procuro é transcendência.
No ano passado, ouvi um episódio no podcast The New Yorker Radio Hour em que o roteirista e diretor Paul Schrader fala sobre sua relação com religião e o cinema. Criado por uma família da Igreja Reformista Cristã calvinista, Schrader, conhecido por ter escrito filmes como Taxi Driver e Touro Indomável, viu seu primeiro filme aos 17 anos de idade. Ele relata que só foi pensar no cinema de forma mais profunda quando entrou em contato com os filmes de Ingmar Bergman e percebeu que eles traziam as mesmas discussões que ele ouvia na sala de aula da faculdade e na igreja. Foi quando percebeu que o cinema e a religião não eram incompatíveis. Alguns anos depois disso, morando em seu próprio carro, sem falar com ninguém por semanas, com uma úlcera no estômago, Schrader sentia algo crescer dentro dele que, se não extirpasse, iria devorá-lo: Travis Bickle, o taxista violento e deprimido de Taxi Driver. Schrader não escreveu o roteiro de Taxi Driver porque queria fazer um filme, mas porque queria exorcizar seu próprio demônio.
O título do episódio, Movies as religion, “filmes como religião”, ressoou em mim. Eu tenho uma história complicada com religiões, há alguns anos não frequento nenhuma igreja e hoje oscilo entre o ateísmo e o agnosticismo, mas não gosto da ideia de que não haja nenhum tipo de magia no mundo.
Este ano, de volta à terapia, ao tentar explicar a alienação eu sentia e a conexão que buscava, eu voltava ao cinema de novo e de novo como uma pessoa religiosa voltaria a passagens do seu livro sagrado. Ao mesmo tempo, estava lidando com a crise da moda dos millenials: a síndrome do burnout. O segundo semestre de 2018 foi repleto de trabalho (parte dele remunerado, outra não) e desgaste emocional (cortesia, dentre outras coisas, das eleições) que acabaram por debilitar muito o meu sono e gerar uma série de crises de ansiedade.
Parte disso estava ligado ao fato de que muito do meu trabalho era feito online ou de forma muito desestruturada. Isso além de fazer trabalho “artístico” e “que eu amo”, o que dificultava muito a separação entre a minha vida profissional e pessoal. As redes sociais se tornaram um espaço de auto promoção e divulgação, o que acabou ainda mais com qualquer divisão entre o trabalho e a vida privada que pudesse existir. Momentos de descanso se tornaram escassos e carregados de culpa, a necessidade de produzir e ser útil me consumiam, minha existência se justificava pelo fazer e não pelo ser.
Quando finalmente percebi que estava doente – física e psicologicamente – uma das primeiras coisas que eu percebi que tinha de fazer era retomar meu senso de valor independente da produtividade. Escrever textos (bons ou ruins) que jamais seriam publicados. Ver filmes e ler livros que eu queria e não porque estava tentando bater uma meta arbitrária. Assistir a dramas coreanos que me davam vergonha. Passear com o cachorro devaneador da minha vizinha por uma hora e meia, duas. Entender que minha existência tinha valor, mesmo que eu não estivesse produzindo.

Something in the Rain (2017)
Nessa mesma época, eu já estava imersa numa intensa maratona, inicialmente acidental, de filmes sobre/com comida que a princípio associei com minha gulodice costumeira e com o conforto que os filmes me traziam já que a maioria deles eu havia assistido antes e gostava bastante. Conforme fui assistindo aos filmes, entretanto, comecei a perceber que talvez a minha obsessão tivesse outras raízes, o que ficou ainda mais claro quando entrei em contato com dois livros sobre prazer.
Um deles foi o Pleasure Activism, cuja tradução seria algo como “Ativismo do prazer”, da pesquisadora Adrienne Maree Brown, no qual ela defende o prazer como uma ferramenta política. Brown escreve: “Parte da razão pela qual tão poucos de nós têm uma relação saudável com o prazer é porque uma pequena minoria da nossa espécie acumula o excesso de recursos, criando uma falsa escassez e, depois, tenta nos vender alegria, tenta nos vender a nós mesmos” (tradução nossa). Vale sublinhar que uma “relação saudável com o prazer” diz respeito também à moderação, e não nos jogarmos aos excessos do consumo para nos distrair de nossas dores e tragédias. Não adianta buscar o prazer para nos desconectarmos do que nos fere; o prazer real, que nutre, é um exercício de conexão.
A ideia de sair da lógica da escassez, a ideia de que o prazer, o deleite e a alegria poderiam ser uma ferramenta de resistência em um momento de tanta agonia pessoal, profissional, social e política, me pareceu revolucionária. Mas não foi a primeira vez que me deparei com esse pensamento.
Quando assisti a Café com Canela de Glenda Nicácio e Ary Rosa em 2017, depois da belíssima sessão no Festival de Brasília, precisei de alguns minutos para entender a euforia que me invadia. Entender a potência de um filme sobre pessoas negras no interior da Bahia que ousam ser felizes, cuidar uns dos outros, nutrir e alimentar uns aos outros, literal e metaforicamente. Estava tão acostumada com o sofrimento a que estão relegados os corpos negros e os corpos de mulheres no cinema, que o choque do deleite, do prazer e das subjetividades representados em Café com Canela me tocaram profundamente.

Café com Canela (2017)
A rede de afetos que vemos no filme é vasta e cada uma é muito particular. Muitas delas são expressas através da comida. O churrasco com os vizinhos cheios de histórias contadas, as lembranças de festa de São João, a sopa dada na boca da avó acamada, a receita de família da coxinha que Violeta vende, o café com canela de Violeta que esquenta o corpo e a alma de Margarida.
O outro livro que eu li nessa época foi The Book of Delights, “O livro dos deleites”, uma compilação de pequenos ensaios (“ensaietes”) em que o autor, o poeta Ross Gay, se debruça sobre um deleite por dia ao longo de um ano (ele não escreveu 365 ensaios, um dos deleites era o deleite de furar compromissos).
Na introdução do livro, Gay escreve:
“Um ou dois meses iniciado o projeto, deleites estavam me chamando: Escreva sobre mim! Escreva sobre mim! Porque é grosseiro ignorar os seus deleites, eu dizia a eles que, embora eles talvez não se tornassem ensaietes, eles ainda assim eram importantes e eu era grato por eles. Em outras palavras, eu sentia a minha vida mais cheia de deleite. Não sem tristeza ou medo ou dor ou perda. Mas mais cheia de deleite.” (tradução nossa)
Em Café com Canela, a dor de Margarida é uma ferida profunda que provavelmente nunca se fechará por completo e isso merece ser honrado também. Não se trata de negar a tragédia, trata-se de se permitir continuar a viver não apesar dos mortos, mas por eles. Para honrar a vida que eles não podem mais ter, vivendo-a da melhor forma possível.
“O desejo e o prazer são duas formas pelas quais afirmamos que existe algo pelo qual viver.” (BROWN, Adrienne Maree. Pleasure activism: The Power of Feeling Good).
Existe algo muito potente em reconhecer nossa fome. Além de ser uma forma de perceber que se está viva, o desejo quando se é mulher é uma transgressão. Afinal, quando a escassez é regra, a abundância é transgressora.
Sempre me espanta que distúrbios alimentares como a anorexia e a bulimia sejam vistos como formas de chamar atenção. A falta de comida nos torna menores, cada vez menos visíveis. Mulheres são ensinadas a não pedir nada, nunca devemos querer mais do que nos é dado, seja comida, amor ou sexo; distúrbios alimentares são apenas mais uma forma de não causar incômodo com nossos desejos.
Reconhecer essa fome/desejo/vontade é voltar à carne, ao erotismo. Em Como Água para Chocolate, de Afonso Arau, quando os sentimentos de Tita transbordam para além do que lhe é permitido sob o controle tirânico de sua mãe, ela os transfere para a comida que cozinha, compartilhando suas emoções mais profundas com quem se alimenta de seus pratos. Em uma das cenas mais memoráveis do filme, a irmã de Tita fica tão consumida pelo desejo que Tita imbui na comida que ela literalmente rompe em chamas e foge nua com um homem a cavalo.
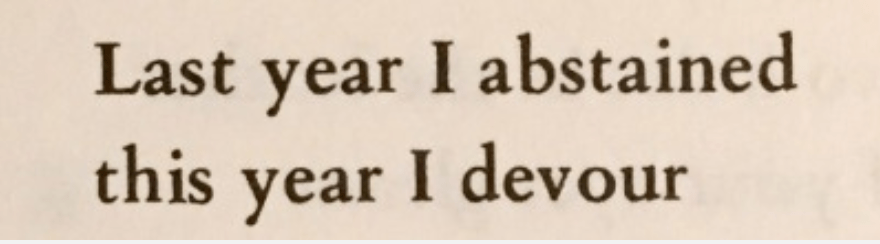
“Ano passado eu me abstive/este ano eu devoro” Mud/Circe poems de Margaret Atwood
A manifestação da fome feminina é libertadora. Na minissérie coreana 밥 잘 사주는 예쁜 누나 (a tradução literal seria algo como “irmã mais velha que me compra comida”, mas na Netflix a série está sob o título Something in the Rain, “algo na chuva”), a protagonista Jin-ah é uma mulher titubeante e recatada, que aguenta o abuso dos chefes calada e é rejeitada por um namorado que não a valoriza. Quando começa a sair para jantar com Joon-hee, o irmão mais novo de sua melhor amiga, a adoração que ele sente por Jin-ah a faz perceber pela primeira vez que seus desejos e vontades são dignos de serem saciados. A coragem de se satisfazer a fortalece.
Algo parecido acontece com Ila, protagonista do filme The Lunchbox do diretor Ritesh Batra. Por conta de um engano no complicado sistema de entrega de comida na Índia, o almoço especial que Ila prepara para tentar reavivar o casamento é entregue para Saajan, um funcionário público viúvo prestes a se aposentar. A partir daí, Ila e Saajan começam a compartilhar sentimentos e histórias muito pessoais em cartas diárias. A vulnerabilidade a que os dois se expõem os aproxima, e Ila continua a preparar comida para Saajan. Se toda carta é uma carta de amor, cada prato preparado sem obrigação para outra pessoa também o é.
A associação entre a fome e o desejo carnal é antiga e já foi muito explorada não apenas pelo cinema e pela arte, mas também por textos religiosos. Afinal, para muitos, o pecado original foi uma mulher comer algo que não devia. Em O Banquete de Babette de Gabriel Axel, vemos uma comunidade religiosa no interior da Dinamarca ficar muito inquieta com o iminente banquete que será oferecido por Babette, uma refugiada francesa que foi acolhida pela pequena vila. Os aldeões observam com crescente alarme enquanto os ingredientes sofisticados como tartaruga e vinhos caríssimos chegam à vila, convencidos de que um banquete como esse fará com que se entreguem ao mundo material e se afastem de Deus.
O que acontece, entretanto, é o contrário. Ao comer da comida de Babette, a pessoas da vila entram em comunhão umas com as outras, o prazer as torna mais generosas e tolerantes, e a comida é tão deliciosa que comê-la se torna uma experiência transcendental, um encontro com as outras pessoas da comunidade e com Deus.
Esse encontro do prazer e da comunhão é uma das coisas que mais me atrai nesses filmes, mas também me interesso pela comida de forma mais banal, uma necessidade do dia-a-dia. Sempre quando penso em comida e cinema, as imagens encantadores das comidas nos filmes do Studio Ghibli me vem à mente. Recentemente percebi que O Serviço de Entregas da Kiki de Hayao Miyazaki é quase um filme sobre comida, embora de forma discreta. Além de trabalhar em uma padaria, Kiki ajuda uma vovó a fazer uma torta para a neta, se preocupa com quanto dinheiro tem para fazer alimentar a si e seu gato Jiji e se emociona ao receber um bolo de presente como agradecimento. Tratam-se de momentos amáveis ou corriqueiros, mas que sempre nos lembram da ternura do cotidiano.

O Serviço de Entregas da Kiki (1989)
Filmes sobre comida se relacionam muito com o tempo. A hora de cada refeição, o tempo de preparo, a estação certa para plantar e para colher. Pequena Floresta, do diretor Jun’ichi Mori, nos faz sentir esse tempo. Dividida em dois filmes de duas horas cada, Pequena Floresta: Verão/Outono e Pequena Floresta: Inverno/Primavera, a trama é quase inexistente. Vemos Ichiko plantar, colher, cozinhar e refletir ao longo de quatro horas no que se torna quase um exercício meditativo. Da primeira vez que assisti aos filmes, fiquei inquieta, já na segunda, o tempo lento do filme me envolveu de tal forma que me senti repleta de calma. “Tudo ao seu tempo” é uma frase que nunca me deu muita tranquilidade, sou impaciente demais para isso – mas perceber que algumas coisas estão além do nosso controle pode ser algo surpreendentemente reconfortante.
A versão coreana de Pequena Floresta, Little Forest, da diretora Yim Soon-rye, também é um filme sobre o tempo, mas este foca mais no conflito da protagonista, na sua jornada interior para a plenitude, é um filme sobre atingir a maturidade, uma história de formação. Assistimos a Hye-won voltar para a casa onde cresceu, cozinhar os pratos que sua mãe a ensinou, mas do seu jeito, aprendendo a ser uma mulher adulta dona de si ao mesmo tempo que consegue, finalmente, entender e perdoar sua mãe por partir.
Cozinhar como ato de memória, de honrar e superar a tradição. Esse é um tema comum quando falamos de comida. Comer Beber Viver de Ang Lee também volta a ele, com a história de três irmãs que vivem na casa do pai chef de cozinha, reunindo-se a cada domingo em torno do ritual de almoço dominical. Cada uma das filhas enfrenta um momento crítico para alcançar a vida adulta e os almoços semanais funcionam como momentos para anunciar os surpreendentes novos eventos para o patriarca da família, o que acaba por alterar a dinâmica familiar e transformá-la em algo novo.
O chef e dono dos restaurantes Momofuku, David Chang, em sua série documental da Netflix, Ugly Delicious, retorna à temática da inovação versus tradição. Chang é conhecido por suas criações excêntricas e fusões de tradições culinárias distintas, mas ele sabe que, para chegar à originalidade e à inovação, é importante conhecer e respeitar as origens e tradições. Esse respeito não é apenas pelos ingredientes, pelas técnicas e nem mesmo pela cultura em que ele está se inspirando, mas pela memória afetiva de cada um.
No terceiro episódio da primeira temporada da série, Comida Caseira, Chang e outros chefs e críticos culinários falam sobre sua relação afetiva com a comida, suas famílias, seus parceiros e parceiras, amigos, filhos. Em um determinado momento, Chang relata que quando ele era mais novo, tudo que ele queria era se afastar da cultura coreana dos pais. Contudo, depois de ter se tornado um chef renomado, ele começou a associar a comida de tradição europeia ao ambiente tóxico e abusivo dos restaurantes onde passou seus 20 anos trabalhando e, cada vez mais, o que ele queria fazer era retornar à comida que sua mãe fazia em sua infância e levar isso para o restaurante. Trazer não apenas sabores deliciosos para os clientes, mas de alguma forma acessar esse lugar mágico da memória e do afeto com a sua comida.
Volto a pensar nos meus pais, em comida, em caminhos para o encontro e para o diálogo. Penso em horas gastas de forma improdutiva, na cozinha, rindo e cozinhando juntos, conversando e bebendo vinho. Essas não são memórias, são imagens forjadas pelos filmes que me ensinaram a comer e a viver. São desejos e há potência reconhecer desejos e em, quem sabe, saciá-los.
Existe um quê de utopia em todos esses filmes e séries sobre comida. São experiências sensoriais que nos fazem quase sentir o cheiro e o sabor de cada coisa, nos levam a pensar em um tempo mais lento, em construção em comunidade, em erotismo e desejo, em pontos de encontro entre gerações, em afeto, deleite, prazer. Pode parecer irresponsável falar em utopias quando parece que estamos caminhando para o abismo, mas, se distopias nos alertam para os perigos de como estamos vivendo, as utopias nos lembram de razões para continuar a lutar para viver.
Leia também:
Café com Canela, por uma espectadora negra entre a fruição e a crítica, de Letícia Bispo
FABIANA: A ESTRADA TAMBÉM É NOSSA
Dirigido por Brunna Laboissière, Fabiana (2018) é um filme com uma trajetória surpreendente e merecida. A obra nasceu viajando e não por acaso esse é o seu destino final. Destaca-se o esmero paciente na captura das imagens e sons, assistimos a paisagens que não são formadas apenas por características geográficas particulares, mas também por características sociais únicas, ao mesmo tempo que híbridas e transversais, um paradoxo bem brasileiro.
A escolha estética opta por lugares e corpos possuírem a mesma importância narrativa, um afeta e modifica o outro, portanto muito da identidade de Fabiana é formada por sua vivência na estrada, ao passo que muito do que a estrada é hoje se dá pela ocupação dela sendo caminhoneira mulher transexual e lésbica. Toda essa curiosidade pela vida do outro é desenvolvida sob o tempo e ambiência da viagem, em uma poética existencialista, da observação da janela que coloca a personagem para pensar e os espectadores também, enquanto o destino final vai tendo sua importância reduzida.
Foi através do grupo “Mulheres do Audiovisual – Brasil” no Facebook, que soube do filme, na época, Brunna, a diretora, fez um post anunciando sua estréia no Olhar de Cinema e divulgando o cartaz de Fabiana. Ela era de Goiânia e eu de Brasília, isso me trouxe empatia na hora, fiquei muito ansiosa para assistir esse raro road movie protagonizado e dirigido por mulheres. É animador saber que um filme de direção e personagem principal goiano estreou em um dos maiores festivais brasileiros e está percorrendo outros diversos festivais internacionais, além, é óbvio, do feito heróico da Brunna rodar sozinha seu primeiro longa-metragem operando a câmera (uma Cânon C300), o som, fazendo a direção e a produção em um mês de carona vivendo e gravando dentro um caminhão.
Apenas quando chegou o Festival de Brasília de 2018 que consegui assistir ao filme, na mostra paralela Festival dos Festivais, foi exibido à tarde seguido de um debate com a diretora, Brunna Laboissière, e a montadora, Bruna Carvalho. Nesse momento refleti o quanto são maiores as chances de conseguirmos filmar com respeito e espontaneidade as pessoas que não conhecemos, se utilizarmos o Cinema de Observação como base, ou seja, deixar a câmera ligada acompanhando a rotina das pessoas sem uma interferência maior que isso, desviando da entrevista formal.

O debate também ressaltou o papel da montagem nesse tipo de filme e da obrigatória afinidade com a montadora, pois são milhares de horas de material bruto para serem vistos e discutidos. Diretora e montadora contaram da dificuldade que foi juntar todas as cenas e criar uma linha narrativa que fizesse sentido e as ferramentas que utilizaram para isso, desde a degravação de todas as falas até a organização da ordem das cenas através de fotografias impressas e a criação de locuções em voice off, como por exemplo, a cena um pouco desconexa do aeroporto em que Fabiana admira os aviões decolando e um funcionário do aeroporto fala nas caixas de som do lugar.
É um filme de fluxo, às vezes lento, mas muito imersivo que conta uma história de vida dura com alegria e altivez. Os beats da narrativa são criados através dos detalhes, de assuntos profundos ditos em frases curtas, de comportamentos quase subentendidos, o rádio também é crucial e quando toca “Decide aí” de Matheus e Kuan a gente se sente apaixonada junto. Já o movimento e o ritmo vêm por meio dos travellings da janela contrapostos aos planos estáticos com diálogos externos ao mundo isolado do caminhão.
É fato que a sinopse incomum gera curiosidade dentro do nosso CIS-tema. Não estamos acostumadas com protagonistas trans, ainda mais Fabiana, uma caminhoneira dona de si, que viaja o Brasil todo e namora outra mulher trans, a Priscila, que aparece mais no meio da história e acrescenta outra camada ao filme.
As telas de cinema ainda priorizam narrativas patriarcais e heteronormativas, recheadas de uma ética e cultura visual eurocêntricas e coloniais, e o está fora disso é criticado e tido como uma ameaça a estrutura dominante. Há sempre uma estratégia de ‘’higienização” dos sujeitos políticos para que eles possam ser aceitos – lembrando que muitas vezes os personagens transgêneros do cinema são representados por atores cisgêneros – e quando essas pessoas estão na frente das câmeras, espera-se que elas se foquem em suas transidentidades e as expliquem detalhadamente. Porém, no filme, Fabiana está mais interessada em registrar e curtir sua última viagem antes da aposentadoria, se afirmando como mulher independente e trabalhadora que agora terá seu descanso merecido.
Nos momentos que ela se lembra da câmera e tira a atenção um pouco da estrada, Fabiana se mostra uma legítima contadora de causos lá do interior do Goiás, aquele riso frouxo desajeitado que conta histórias absurdas com falsa modéstia enquanto fuma cigarros. Ela conta histórias de romances quentes cheios de aventura e sedução, possui uma fama de conquistadora que inquieta seus colegas homens e a faz ter orgulho.
Seus gostos envolvem fascínio por máquinas grandes como caminhões e aviões, saudade do seu cachorrinho Billy e do seu filho, que não verá no natal por conta do trabalho. Mas Fabiana tem um lado durão e fechado, que inclusive me remete a Geração Beat – portanto, ela realiza meus sonhos de quando adolescente: ser uma beat mulher.

Aos 14 anos não percebia tanto a forma que a misoginia atuava, inclusive na falta de referências, mas já sabia muito bem que mulheres na estrada era quase uma proibição. Thelma e Louise (1991) já me ensinava isso quando eu era mais nova e meu pai fazia questão de relembrar os perigos do filme quando eu falava que queria sair por aí viajando.
Pouco antes de escrever este texto senti que estava velha demais para ainda não ter pego carona no dedão, precisava fazer isso logo, antes de passar dos vinte e poucos como mandam os filmes. Se eu enxergasse a paisagem da mesma altura que a câmera em Fabiana talvez pudesse fazer uma crítica melhor. Tudo de real que eu sabia desse universo eram apenas as histórias que o Fred, meu namorado, contava, tipo adotar uma cabra no interior de Ibimirim e levá-la de carona para João Pessoa.
Se a Flor (nome da cabra) conseguiu, eu também seria capaz e lá fomos nós para a BR 101 no sentido de Recife para chegar em Aracaju. Foi uma viagem relativamente tranquila, tirando as queimaduras de sol de ficar horas pedindo carona e o meu medo de não conseguir chegar no mesmo dia e ter que dormir no chão de algum posto de gasolina habitado predominantemente por homens ou então ficar presa em algum lugar deserto e escuro e homens aparecerem.
A ida e a volta da nossa viagem duraram cerca de doze horas, sendo que de carro seria somente umas quatro. Em compensação não gastamos quase nada, menos de 15 reais cada um e conhecemos vários lugares.
A solidão dos caminhoneiros é um fato e a hospitalidade deles também, se a gente acha a Internet revolucionária, imagina eles. Compreendi melhor o tempo da estrada que o filme mostra, percebi a vontade de conversar, contar histórias e também de fazer perguntas. Algumas delas nos deixavam até sem graça, tipo se nós íamos roubá-los ou se meu namorado ia me engravidar e sair por aí (perguntas feitas olhando para o Fred e não me incluindo muito na conversa).
Na volta, por coincidência, pegamos carona com um caminhoneiro de Goiânia e, bem efusiva, perguntei se ele conhecia alguma Fabiana, “uma caminhoneira que fez um filme” e ele disse que não, mas que era cheio de mulheres caminhoneiras e que ele acompanhava os vídeos que elas faziam para o YouTube. Ali tive mais certeza que a estrada também é nossa e lembrei da Brunna Laboissière com seu mochilão no meio das sessões do Festival de Brasília.
BIXA TRAVESTY: AFETO COMO PALAVRA DE ORDEM
O 51º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro aconteceu em setembro de 2018, um mês antes da eleição presidencial. Mesmo em um contexto político conturbado – no qual direitos sociais estavam sendo ameaçados – o Festival, por meio dos filmes escolhidos, propôs discutir temáticas que interseccionam a esfera pública e a esfera privada. Entre os longas escolhidos, Bixa Travesty, de Kiko Goifman e Cláudia Priscilla, destacou-se não só pela temática, mas pela ousadia narrativa que combina bem com a personagem que retrata: uma cantora trans, latino-americana e negra.
Nunca havia visto ou ouvido falar de Linn da Quebrada. Às vezes, fico meio por fora dos booms musicais. No entanto, creio que não haveria jeito melhor de conhecer Linn: sorridente e orgulhosa no palco do Cine Brasília. Cabelo com corte chanel, esguia, ao lado da companheira de performance, Jup do Bairro, Linn apresentou o filme falando de afeto como força motriz para a mudança. A diretora, Cláudia Priscilla reforçou “Esse filme não é um filme sobre a Linn da Quebrada, mas sim um filme com a Linn da Quebrada, afinal, ela participou efetivamente da construção do roteiro”. A plateia gritava “maravilhosa”, e eu já arrepiada pelo simples discurso que Linn professava: “Precisamos de afeto. Esse filme é sobre a disputa por um novo imaginário social, sobre a disputa pelos nossos corpos”.
A narrativa é construída a partir de highlights (expressão LGBTQ para nomear aquilo que realça ou que é brilho). Existe um fio narrativo que funciona como atmosfera para o filme: a luva que Ney Matogrosso usava e foi dada de presente por Jup para Linn foi perdida. Jup fica chateada com a amiga, enquanto Linn sente que perdeu algo importante. Neste prólogo, temos a sensação que a história do filme será a busca por essa luva – mas ele vai muito além disso.
As performances de Linn no palco cantando suas músicas autorais e um programa de rádio que ela apresenta com Jup – reflexões complexas, mas nem por isso sem bom humor – permeiam todo o longa. Tive a impressão que Linn da Quebrada soube explicar toda a bibliografia foucaultiana – passando pela História da Sexualidade (1976) e pelo conceito de biopoder. Entretanto, ela não utiliza termos acadêmicos, mas palavras bem conhecidas ao público: corpo, afeto, pau, feminino, controle e poder.

Na sauna, as amigas Jup e Linn falam sobre corpos trans, femininos, negros e gordos, ou seja, corpos desviantes. Em meio ao vapor, ao suor e às conversas extremamente existencialistas, destaco a fala de Jup sobre o efeito da comicidade. Para a artista, a comédia é uma forma de acessar o outro com temas tabu sem causar estranhamento ou constrangimento, mas ao mesmo tempo havendo uma certa quebra da credibilidade, destoando o engraçado daquilo que pode ser bonito. Neste ponto, o longa corta para as duas cantando a música “A lenda”, em que o mote: “Eu tô bonita?” “Tá engraçada” prevalece. Ri e chorei nessa parte do filme, ao lembrar de um episódio pessoal, quando um ex-namorado me disse que eu era muito engraçadinha e que ele gostava de mulheres sérias – retomando ao imaginário feminino do bela, recatada e do lar. Mesmo não me identificando como uma mulher trans ou negra, vi-me em vários aspectos deste longa, afinal, é um documentário sobre afeto e corpo, aspectos universais a qualquer indivíduo social.
E, falando em corpos, é impossível deixar de mencionar a naturalidade com que Bixa Travesty os retrata. Paradoxalmente, esses corpos que são ditos como antinaturais pelo discurso hegemônico são mostrados como paisagem. Em planos-detalhes aparecem pintos, mãos, cabelos, bocas. E o corpo como paisagem é uma potência afetiva que transforma as formas de poder como nos relacionamos com o meio e o outro.
Em termos em linguagem, os cortes entre várias cenas, que lembram esquetes teatrais, dão os aspectos de highlights ao longa. Entre essas cenas, vemos um episódio íntimo entre Linn e Liniker, na casa de Linn, em que as duas cozinham junto à mãe da cantora e protagonista do filme – realçando acontecimentos comuns de “seres” ditos como “estranhos”.
No meio da narrativa, uma série de fotos projetadas em forma de slides, em que Linn se encontra em um hospital e careca. A princípio, acredito ser uma performance. Somos transportados para o quarto de Linn, onde observamos que ela e uma amiga estão, na realidade, vendo fotos antigas em um notebook, do período em que a cantora se tratava de um câncer no testículo. Neste ponto, percebe-se o quanto Linn e Bixa Travesty são subversivos. Quem teria a ousadia de tratar de um câncer de uma maneira tão performática? Não chorei – porque a forma como se mostrou este momento na vida de Linn não foi nenhum um pouco melodramática: no meio do filme, como se fosse mais uma performance da artista.
Enfim, a força motriz de Bixa Travesty é mesmo o afeto: o afeto da música, dos corpos e principalmente do discurso. Linn usa e abusa da música, da dança e dos figurinos para comunicar. O que ela reforça é um diálogo que deve ser construído a qualquer custo e mais: um senso de comunidade no qual a individualidade e a coletividade se encontram para transbordar em novas formas de ser.
NINGUÉM NUNCA OUVIU O CANTO DESSA TERRA
Fiquei pensando porque Liberdade (2018), de Pedro Nishi e Vinícius Silva, foi um curta que tanto mexeu comigo. Gostaria de ter podido revê-lo para escrever este texto, mas no vazio entre a lembrança – em meio aos dias intensos de Festival – até então, surgiu algo muito profundo em mim que desejo compartilhar com vocês. Apesar de reconhecer várias potências no filme, como pautar a imigração africana em São Paulo, em um bairro conhecido pela imigração japonesa, sabia que esse plano político tão direto não era o motivo genuíno de meu encantamento.
São três personagens. Primeiro, Abou, que nos conduz. É guineense e por vezes tem encontros com uma japonesa, Satsuke, de presença espectral. O filme também é marcado pela participação de Sow, que passa grande parte do curta preso no aeroporto – um não lugar – e ali fica por dois dias por ter o visto de entrada não aceito no Brasil. Ele vem de Guiné ao encontro de Abou, e traz consigo os instrumentos de música do amigo. Abou e Sow encaram a câmera em diversos momentos, mas apenas a voz de Abou aparece fora de campo, em dissincronia, num texto em forma de ensaio, que nos decupa as camadas de tempo que cobrem aquele espaço, o bairro da Liberdade.
A um primeiro olhar, eu logo imaginei que minha profunda conexão se deu pela paixão que tenho pelos filmes-ensaios. Lembrei-me de Hiroshima, Mon Amour (1959), de Alain Resnais, Là-Bas (2006), de Chantal Akerman, e Sans Soleil (1983), de Chris Marker. Os filmes-ensaios não se encerram em si próprios. Trata-se de um discurso em construção que fica reverberando e se reconstruindo em nós após a sua fruição. São marcados principalmente pela narração em off, pelo subjetivismo e por estarem na fronteira entre ficção e documentário. Talvez entre esses filmes citados, apenas Hiroshima, Mon Amour traria alguma dificuldade para este enquadramento, mas aqui acatei principalmente por sua primeira sequência.
Desses elementos que configuram filme-ensaio e no qual insiro Liberdade, destaco algumas características singulares que me foram levando a elaborar mais sobre minha experiência com o curta. Os personagens presentes em todas as obras citadas narram sua estranheza em terras que não habitam ou já habitaram, o sentimento em sua condição estrangeira. Assim, são envoltos nessa melancolia que é decorrente do despatriamento. Há também a forte subjetivação, são narradores em primeira pessoa. Claro que cada um na sua proporção. Em um polo, vejo Hiroshima, Mon Amour, que é mais discreto nesse sentido, emprestando aos personagens esse lugar de fala; no outro polo, há Là-bas, em que a subjetividade impera, é a própria realizadora narrando suas impressões tão íntimas acerca da sua herança judia. E acima de todos (tendo uma perspectiva tridimensional e não valorativa nesta relação), está Sans Soleil, uma espécie de memória de todos, nos confrontando com a experiência de tempo e espaço e uma percepção insana da memória. Liberdade se posicionaria no meio, sendo mais atraído pela gravitação do filme de Resnais, por conta das encenações e personagens delimitados.
Mas há também diferenças marcantes entre esses filmes. O Hiroshima, Mon Amour, apesar da inventividade que lhe dá a marca inaugural do cinema moderno, trata-se de uma narrativa, com personagens bem demarcados, operando o off de maneira dialógica. Na belíssima sequência de início, há imagens de Hiroshima após a Bomba: imagens de horror! Os personagens se situam no extracampo numa relação dialética de aproximação e distanciamento daquele território. Como se a dor, ali sentida pela guerra, devastasse os sentimentos nesse turbilhão de repulsa e atração. Já em Sans Soleil, não há personagens marcados como em Hiroshima, nem uma memória individual como no longa de Akerman, mas uma história de muitas memórias, de diversas temporalidades e espaços. E em Liberdade, é a memória ocultada pelas camadas de tempo que nos é revelada.

E provoquei essas lembranças porque elas surgiram ao assistir Liberdade naquele domingo de Festival. Por estas recordações, percebi que meu encantamento pelo curta está na relação entre tempo e espaço por meio da linguagem cinematográfica. Cada um dos demais filmes que citei anteriormente distorcem essas linhas aparentemente conexas em ângulo reto. Pela ruptura do plano cartesiano, promovem tangenciamentos entre essas dimensões, provocando uma dobra no espaço-tempo. Especificamente em Liberdade, há um fluxo vertiginoso de encontro entre tempo e espaço, mas de maneira compassada, não é feito num rompante, contudo, se chega ao seu epicentro de maneira espiralada, como se fôssemos tragados por um redemoinho, ou melhor, pelo rodopio da dança que vemos em seu terço final (ao som dos instrumentos de Abou).
Um canto evoca ancestralidade, que tanto pertencem aos personagens, quanto a formação do Brasil como nação. O bairro da Liberdade é conhecido pela migração japonesa, que tão orgulhosamente é lembrada pela própria construção arquitetônica daquele espaço. Mas Abou se apresenta como um imigrante que habita aquela área como os demais africanos imigrados ao Brasil nos últimos anos. Mesmo assim, o bairro é conhecido pela migração de japoneses e de outros orientais, que já não mais ocupam essa região. Logo, Abou começa a acessar essa dobra no espaço-tempo, rompendo com a memória estabelecida daquele local e se utiliza de uma regressão temporal, em mais de três séculos. Não estamos mais na Praça da Liberdade, mas sim no Largo da Forca, ao lado de uma capela, a dos Aflitos e também de um cemitério para esses corpos marginalizados. Naquele mesmo bairro, algumas poucas centenas de anos atrás, havia um Pelourinho, escravos negros africanos eram torturados das mais vis maneiras. O canto de dor ali permanece, mesmo sendo sobreposto por camadas e mais camadas de tempo que ressignificam aquela região, sendo marcada pelo fluxo migratório oriental, mas jamais lembrada pelo fluxo de negros africanos da atualidade.
O curta se utiliza de um recurso fotográfico para enfatizar esse ocultamento. Vários planos estáticos, como se fossem retratos, de imigrantes negros estão subexpostos. Impossível identificar aqueles sujeitos. Após o descortinamento da história deste bairro, voltarmos a ver aqueles planos-retratos, mas a exposição é por fim ajustada. Dessa maneira, conseguimos enxergar rostos antes ocultos. Os espaços parecem se transformar, mas eles continuam muito os mesmos, como se as dobras no espaço-tempo mantivessem fissuras por onde a dor do passado ainda reverberasse no presente. A história simula uma progressão, mas ela repete os mesmo padrões de opressor e oprimido. E findando com esta inquietação, ouço ao fundo, baixinho, surgindo em fade out, um canto triste, com o qual termino esse texto. E não é a música que esperamos ouvir de Abu e seus amigos, na expectativa da entrega dos instrumentos por Sow, pois aqui empresto a minha subjetividade para finalizar o texto com as três primeiras estrofes do Canto das Três Raças, que agora chega em primeiro plano:
Ninguém ouviu
Um soluçar de dor
No canto do Brasil
O QUE VEIO ANTES, O MONSTRO OU A SOLIDÃO?
Sempre me surpreendo quando o horror é tratado como um gênero apolítico e distanciado da realidade. Entendo que o uso de artifícios e metáforas para tratar dos nossos medos e ansiedades possam parecer um apelo a sentimentos poucos racionais, mas, observando os debates políticos, me parece que são justamente as emoções que mais têm ganhado adeptos de todos os lados da disputa. E isso não acontece só em eleições tão polarizadas quanto as que tivemos em outubro. Mesmo quando tomamos decisões a partir da razão, nos apegamos a nossas escolhas de forma apaixonada, procuramos pelos afetos que corroborem nossas convicções.
Falar sobre o irracional, o inconsciente, o que nos amedronta, isso não é se esquivar da realidade, é admitir e abraçar o fato de que somos movidos por forças mais complexas do que o pensamento lógico consegue abarcar. Como podemos dar as costas para um gênero que fala sobre o medo quando esse é o sentimento motivador de boa parte dos eleitores brasileiros? Alguns têm medo da ameaça comunista, outros das feministas, outros do fascismo, da misoginia, do racismo. Os medos existem de todos os lados, mas eles representam modos de ver, pensar e sentir muito diferentes e isso pode e deve ser examinado pelo horror. Onde nasce o medo? Quem são nossos monstros?
Já há algum tempo os monstros no cinema não são mais os mesmos dos filmes de horror do começo do século XX. Se antes eles representavam o perigo da floresta, o desconhecido, o Outro, os monstros têm estado cada vez mais próximos de nós. Eles têm sido protagonistas, heróis e anti-heróis, interesses românticos, amadas criaturas em animações infantis. A monstruosidade que diferencia os corpos aceitáveis daqueles que não o são, essa monstruosidade é algo que muitos de nós compreendemos. O corpo negro, o corpo gordo, o corpo queer, o corpo insubmisso da mulher, corpos que se atrevem a existir apesar da constante ameaça de apagamento e extermínio, esses corpos compartilham uma inadequação num mundo repressivo e conservador que encontra muitos paralelos nos monstros. E enquanto a forma monstruosa tem sido vista por uma luz cada vez mais positiva no cinema, nossos medos têm se voltado cada vez mais para nós mesmos. Como escreveu Angela Carter, ‘os piores lobos são peludos por dentro’.
Quando falo de um medo voltado para nós mesmos, não me refiro apenas a questões do indivíduo, mas a movimentos estruturais da sociedade de que fazemos parte e que mantemos em funcionamento. O medo voltado para nós mesmos diz respeito a nossa solidão, nossas doenças mentais, nossa desconexão, mas esses são apenas sintomas de um problema maior que se relaciona menos com o indivíduo e mais em como se organizam as relações humanas na contemporaneidade.
No curta-metragem da diretora Gabriela Amaral Almeida A Mão que Afaga, uma agente de telemarketing prepara a festa de aniversário de nove anos do filho. As referências ao horror na linguagem do filme causam um desconforto que provoca mais riso que medo, a inaptidão social de Estela (interpretada por Luciana Paes) assim como a iluminação dramática das cenas do apartamento apontam para o horror e o absurdo do cotidiano com um humor ácido. O verdadeiro pavor para mim, entretanto, está nas cenas de Estela no trabalho, onde vemos vários rostos e vozes indistintas que ligam para pessoas que nunca conhecerão, pessoas que se sentem no direito de hostilizar e humilhar os agentes de telemarketing porque esqueceram que existem pessoas com sentimentos do outro lado da linha. A busca por conexão de Estela é cômica, trágica e dolorosamente humana. Essa humanidade, tão frágil e tão rara, é também o que se perde e o que se procura no mais recente filme de Almeida, A Sombra do Pai, exibido no Festival de Brasília deste ano.
O longa é marcado por ausências. Dalva de 9 anos tem que lidar com a ausência da mãe que faleceu, a iminente ausência da tia que vai casar e deixá-la e a ausência do pai que está sempre trabalhando. A ausência de Jorge, o pai de Dalva, como bem ilustra o título, deixa uma sombra: seu corpo. Depois do cadáver da esposa ser exumado, ao invés de ir para casa lidar com seu luto, Jorge volta ao trabalho. Depois que sua irmã deixa sua casa, ao invés de ficar com a filha, Jorge volta a trabalhar. Jorge não é mais uma pessoa, é uma máquina, um corpo que não processa dores ou alegrias, apenas trabalha ininterruptamente até adoecer e esquecer que um dia foi gente.
Se os zumbis de George A. Romero representavam as massas consumistas e descerebradas caminhando em direção a shoppings em grandes grupos, o zumbi de Almeida é solitário, ao invés de consumir, ele apenas produz, não lhe falta o cérebro e sim sua alma. Mais que a ausência material, o que se sente é a perda dos afetos, enquanto Jorge continua seu interminável trabalho maquinizado e hostil, o trabalho emocional que exigimos que as mulheres exerçam não pode ser executado, as mulheres se vão, morrem, fica Dalva, ainda menina e relegada a carregar todo o peso desse trabalho ingrato. Ela é capaz de fazer algumas tarefas de casa, mas precisa conjurar forças sobrenaturais para suprir suas carências mais profundas.
Para Dalva, os filmes de horror de madrugada, a trança de sua mãe morta, suas pequenas bruxarias, é ali que ela encontra algum grau de controle no mundo. Seu conforto está no que se convencionalmente atribui um caráter repulsivo, trata-se de uma estranheza familiar, uma conexão com o irracional e o abjeto que a mantém mais próxima da humanidade do que o mundo civilizado e industrial de seu pai é capaz. E não é essa uma das grandes contradições da contemporaneidade? Quanto mais nos agrupamos em cidades gigantescas, mais solitários nos sentimos. Quanto mais próximos do mundo construídos pelos homens, mais longe nos encontramos da nossa humanidade. Existem horrores piores que bruxas, fantasmas e mortes sangrentas: o vazio intransponível que existe entre uma pessoa e outra.
SUAVE PAISAGEM AZUL DO VER E DO OUVIR
Foi difícil começar a escrever sobre Temporada. Assistido naquela sala enorme onde acontece o Festival de Brasília, à medida em que seu tempo de duração avançava, eu sentia uma excitação tranquila tomar conta ao perceber o que estava diante de mim. Algo meio mágico, místico. Era um filme especial. Por isso mesmo, a dificuldade: como escrever um texto inteiro tecido em elogios que contribua para uma discussão estética? Como evitar a generalização e delimitar o que conferia ao filme tamanha suavidade e precisão?
Temporada acompanha Juliana, personagem vivida pela grande atriz e dramaturga Grace Passô, que se muda de Itaúna para Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, consegue uma vaga para trabalhar no combate a endemias e espera a chegada de seu marido no novo endereço. A marca do naturalismo e sensibilidade com os quais o diretor e roteirista André Novais Oliveira trata suas histórias, em filmes anteriores vividas por atores não profissionais de sua própria família e de sua convivência, como em seus curtas-metragens e no longa-metragem Ela volta na quinta (2014), permanece presente.
Juliana, aos poucos, constrói laços com os personagens e com o espaço da cidade em seu novo contexto. Em planos em tons de azul claro com pitadas de amarelo e vermelho, assistimos a suas caminhadas pelos bairros batendo de porta em porta e interpelando desconhecidos para prevenir os focos de mosquitos. As interações são singelas. Vemos seu ponto de vista do alto de um telhado. A paisagem da cidade se alterando, Juliana como parte dessa paisagem.
Os laços que Juliana tece são tecidos por nós também. Os novos amigos de Juliana, com destaque para o personagem de Russão, são também nossos. Estamos ali. Na conversa que Juliana tem com uma amiga na pequena mesa encostada na parede da cozinha, em que o sentimento de confissão e confiança é tremendo, sentimos que também estamos guardando um segredo. A preocupação carinhosa que Juliana tem com os acontecimentos na vida de Russão é nossa também.
E, portanto, de cena em cena, de diálogo em diálogo, de movimento de câmera em movimento de câmera, com eventuais clarinetes, dos azuis aos amarelos até chegar ao maiô vermelho na cachoeira, Temporada se constrói como uma obra ritmada, de tempos e sensações que parecem ter sido esculpidos; chega a parecer uma música. Digo naquele sentido de que os sons, as canções, tocam o âmago de uma maneira tão visceral e simples que é difícil de ser destrinchada (e queremos destrinchá-la?).
Ao mesmo tempo, vejo Temporada como um filme de cumplicidade. É um filme de silêncio: o nosso, do espectador, que silencia para ouvir melhor. Para sentir um clima e intuir. Sem megalomanias ou exageros de complexidade artificialmente implantados com o objetivo de produzir emoções específicas, sem uma instrumentalização óbvia do cinema. E, nesse sentido, me peguei pensando no potencial político de um filme como esse.
Caminhando pelo Festival de Brasília nas edições dos últimos quatro anos, foi possível ouvir comentários pejorativos sobre a política que se constrói nos filmes. Como se um filme político fosse um filme que não pensa suficientemente na forma, na estética, em questões existenciais e universais. Como se fosse possível fazer um filme sem se imbricar na forma, na estética e em questões também universais. Existe um olhar anacrônico que defende que um filme precisa optar entre a política e a estética. E, normalmente, é justamente esse olhar que cobra de sujeitos que escapam aos marcadores sociais hegemônicos (que talvez possam ser definidos no Brasil como: um homem branco, heterossexual, da capital, sudestino e de classe média alta) algo que represente alguma “reivindicação” evidente.
Quando a estrutura que nos constrói como sujeitos históricos está organicamente entrelaçada à experiência do filme, por vezes corre o risco de se tornar ponto cego no olhar dos que nunca precisaram fazer esse esforço para ver. Desacostumados. Felizmente, sinto que o caminho que tem sido trilhado possibilita que cada vez mais essas opacidades no olhar sejam desmanchadas e/ou reconhecidas; que exista ao menos consciência do que não se vê, do que não se ouve. Em Temporada, ouvimos e vemos nossos arredores (os de Juliana, na verdade). Sentimos o tempo passar entre as caminhadas, a mudança do penteado, a nova estação vindo no vento.
Não sou a primeira a dizer que o filme de André Novais Oliveira sinaliza algo nesse sentido de uma política que se dá pelo cotidiano e pela relação. Entre masculinidades, feminilidades, negritudes, ausências e presenças, a existência no espaço de Contagem. Questões sociais fundamentais dessa rede de afetos e solidões de Juliana estão presentes ali no filme para serem sentidas, vividas e discutidas, enquanto há essa magia no ar que se alastra. Temporada é um filme preciso, suave e verdadeiro. É especial, por ser assim de uma forma que talvez não deva ser esmiuçada em palavras, muito menos em termos técnicos. Uma questão de intuição.

Leia também o texto sobre Ela volta na quinta (2016).
POR QUE AMOR MALDITO É IMPORTANTE PARA NÓS, CINEASTAS NEGRAS CHEIAS DE SONHOS
Nunca pensei em ser cineasta. Mesmo tendo crescido fascinada por imagens, sobretudo pela televisão, até eu entrar na faculdade nunca havia passado pela minha cabeça a possibilidade de trabalhar com cinema. Apesar de meus pais terem um amigo próximo cineasta, durante meus anos de formação escolar essa era a única referência de alguém de uma realidade parecida com a minha que fazia parte do “mundo mágico” do cinema. Nunca soube de nenhuma mulher, muito menos uma mulher negra, que tivesse alcançado esse status.
Não pretendo falar da minha trajetória dessa vez, gostaria de falar sobre possibilidades, sobretudo a possibilidade de transformar realidades através da invenção. Acredito que muito da crença na possibilidade de mudança vem daquela sensação de identificar em outras experiências caminhos que as tornem palpáveis, quase como: “hum… bom, se fulana conseguiu, eu também consigo”. E no caso de uma menina negra da zona leste de São Paulo conhecer a trajetória de outras mulheres negras pobres que ousaram fazer filmes é manter a fé de que pode ser possível transformar realidades, nem que seja inventando nas telas novas formas de viver. Não ignoro as dificuldades materiais, nem as urgências do cotidiano que nos impedem de nos dedicarmos ao cinema, mas acredito que alimentar nossos sonhos é uma forma de alimentar nossas existências.
E aí que eu escrevo esse texto para você, jovem negra com poucos recursos, mas cheia de sonhos. E parto da experiência de uma cineasta, mulher, negra, pobre e muito ousada, mas também invisibilizada pelo racismo e machismo da cinematografia brasileira: Adélia Sampaio. Nascida em Minas Gerais, filha de empregada doméstica, Adélia foi a primeira mulher negra a dirigir um longa-metragem no Brasil, mas seu filme Amor Maldito, lançado em 1984, ficou quase trinta anos num ostracismo revelador das estruturas que sustentam o mundo das artes brasileiras.
Amor Maldito foi o título de uma reportagem do jornal carioca O Fluminense publicado no início dos anos 1980. A crônica jornalística trazia um caso que aconteceu no bairro de Jacarepaguá, Rio de Janeiro, e narrava a história de duas mulheres lésbicas que haviam tido um relacionamento, e após seu fim, uma delas havia se suicidado. Entretanto, a ex-companheira da falecida foi acusada de assassinato e o caso levado a tribunal. O longa-metragem de Adélia, inspirado nesse acontecimento, narra a partir do julgamento de Fernanda (Monique Lafond), sua relação com a ex-companheira Suely (Wilma Dias) e traça um retrato da justiça e da sociedade brasileira a partir de figuras caricatas, como a família evangélica de Suely e o advogado sensacionalista da acusação.

Estamos falando de um filme produzido nos anos 1980 e pensar a trajetória de Amor Maldito nos convida a refletir sobre sexualidade, gênero e raça no contexto do cinema brasileiro e seus diálogos. Amor Maldito pode ser visto como uma obra à frente do seu tempo, mas tanto a escolha certeira em sua abordagem temática quanto as questões ligadas a sua produção e distribuição marcam o retrato social de uma época: anos de ditadura militar, conservadorismo político e moral, e estruturas que mantém as desigualdades de gênero e raça. O filme teve de ser “fantasiado” de pornô para conseguir alguma visibilidade, e ganhou mais destaque pela atmosfera sexual que o rodeava, do que pelo debate que propunha, tendo seu conteúdo praticamente ignorado tanto pelo público, quanto pela crítica.
Numa breve historiografia do cinema nacional, podemos reparar nas dinâmicas, muitas vezes homofóbicas, que marcaram as construções narrativas em torno das vivências das pessoas LGBTs. Na época das chanchadas, populares nos anos 1940 e 1950, personagens homossexuais homens foram majoritariamente representados como estereótipos de gays afeminados, servindo à narrativa como alívio cômico ou travestidos de forma assexuada. Dessa forma ficava mais tragável para o público a aceitação desses personagens, pois suas subjetividades não eram postas na narrativa. A temática também foi deixada de lado pelo cinema novo, que preferia discussões sobre classes sociais, e encontrou um pouco mais de penetração no cinema marginal. Foi a partir dele que personagens homossexuais começaram a ocupar papéis centrais nas narrativas, ainda que ligando a homossexualidade à marginalidade.
A temática lésbica, entretanto, ganhou apelo nos filmes da pornochanchada, que valorizava o desejo e a curiosidade do homem heterossexual, trazendo personagens com pouca ou nenhuma afetividade e complexidade. O lesbianismo era apenas um estágio na história pela qual a mocinha passava para levá-la a ficar com um homem. Além da falta de sutileza com a qual era inserida, normalmente a “lésbica real” da história — a corruptora da mocinha — se torna uma assassina, serial killer, ou seja, o verdadeiro obstáculo a ser combatido. Um exemplo dessa representação pejorativa é encontrada em As Intimidades de Analu e Fernanda (1980), de José Mizziara, com atuação de Monique Lafond.
Monique Lafond foi atriz de diversos filmes pornôs e viveu a personagem Fernanda em Amor Maldito, a executiva acusada do assassinato de sua ex-companheira. Já Wilma Dias, que interpretou Suely, era a “garota da banana” que aparecia na abertura do programa Planeta dos Homens (1976), da TV Globo, cuja imagem tinha um forte apelo sexual. Na busca por reportagens, notícias e críticas sobre o longa de Adélia foram encontradas menções ao filme quando vinculados às suas atrizes. O que chamava atenção para Amor Maldito era a atmosfera sexual que o rodeava, mais do que a visão crítica que da sociedade brasileira e de como ela condenava as relações homossexuais na época.
Amor Maldito é um dos filmes que aborda o lesbianismo de forma mais positiva na produção nacional, sendo um retrato social da época. Inovou não na linguagem, mas na abordagem sensível e crítica de uma temática marginalizada, porém a dificuldade em sua distribuição – atrelada ao preconceito homofóbico e as barreiras impostas a uma mulher negra – não o tornou conhecido do grande público. À época de sua produção, a Embrafilme era a empresa responsável pela regulação das políticas públicas e incentivos financeiros para a produção e circulação de filmes nacionais. Dentro do contexto político e social da ditadura militar e do forte conservadorismo no que diz respeito às relações sexuais, a empresa chegou a reduzir o orçamento da produção até chegar a zero, afirmando que não compactuava com uma obra que perpetuasse e fosse vista como panfletagem de uma “doença”. Em busca de alternativas para produção, Adélia liderou um sistema de cooperativa, prática muito comum no teatro (onde ela trabalhou durante anos) para que o filme tomasse corpo.

No Brasil, quando da exibição de Amor Maldito em salas de cinema, o filme foi recusado por diversos exibidores que se negavam a dar espaço para esse tipo de debate. Até que o longa foi apresentado a um exibidor, conhecido como Magalhães, que se interessou pelo tema e viu nele a oportunidade de circulação desde que fosse vendido como filme pornô. E foi assim que Amor Maldito estreou na Galeria Olido, em São Paulo, em 13 de maio de 1984, em meio programações de filmes pornôs e cartazes sexualmente apelativos.
Mesmo que suas opções estéticas gerem controvérsias, principalmente devido às encenações exageradas e caricatas, o filme é bastante ousado e bem-intencionado, mas no meio da pornochanchada, não há espaço para boas intenções. Amor Maldito foi visto à época de seu lançamento como um intermediário entre uma obra-prima e as concessões aos apelos eróticos, o que o fez ficar sem público. O filme pouco tem desse apelo, na verdade: Adélia busca explicar a bestialidade que enreda a patética mitologia do sexo descartável, e oferece uma antologia de sexo com sentimentos de culpa.
“Só uma cineasta ousada é capaz de tornar reais coisas que a sociedade condena, como o casamento de Monique e Vilma”. Essa foi a descrição usada por Ailton Assis em sua crítica sobre Amor Maldito publicada na Tribuna da Imprensa de 1983. E Adélia é de fato uma vanguardista, uma cineasta sensível a temas marginalizados socialmente. Durante sua carreira esteve envolvida com outros temas das minorias representativas, e atrás das câmeras contava com presença massiva de mulheres em sua equipe. Antes de dirigir Amor Maldito, a cineasta já havia produzido dezenas de filmes do cinema novo e marginal, mas um episódio significativo de seu trabalho e que diz muito sobre as relações raciais no cinema brasileiro chama atenção: a presença do filme Parceiros da Aventura de José Medeiros no Festival de Gramado em 1980 que ficou conhecido como o “filme dos negrinhos”. Na ocasião, Adélia atuou como diretora de produção do filme, que apesar de ter chamado grande atenção do público, esbarrou na resistência racista dos jurados do festival, que não o premiaram por considerá-lo negro demais.
É essa resistência racista, em reconhecer o trabalho de artistas negros em prol da manutenção de uma estrutura que enaltece a produção de cineastas brancos, um dos fatores que influenciou o ostracismo no qual caíram Adélia e seu filme. O papel da Embrafilme, por exemplo, foi fundamental para os caminhos que levaram Adélia ao esquecimento. Enquanto seu filme não recebia apoio nenhum, filme dirigidos por homens brancos cujas temáticas favoreciam a manutenção do status quo recebiam financiamento e apoio para distribuição (cenário que não é completamente diferente de hoje, mas isso é assunto para um outro texto). Assim, eu questiono: Terá sido só a temática que fez de Amor Maldito um filme esquecido pelo público e crítica? Como esse mesmo público e crítica olharam para um filme dirigido por uma mulher negra nos anos 1980? E como esses olhares moldaram sua trajetória?
Talvez a trajetória de Amor Maldito tivesse terminado aí, se não fosse sua redescoberta no começo dos anos 2010, por outra mulher negra. Em 2013, Edileuza Penha de Souza realizou tese de doutorado pela Universidade de Brasília chamada Cinema na Panela de Barro: Mulheres Negras, Narrativas de Amor, Afeto e Intimidade. Ainda que esse não seja o foco da tese, a pesquisadora propõe uma discussão acerca do que é conceitualmente o Cinema Negro e faz um levantamento dos realizadores e realizadoras negras do cinema nacional, citando o pioneirismo de Adélia Sampaio.
A tese de Edileuza faz parte de um contexto maior de estudos e políticas afirmativas e identitárias que conquistaram espaço público no Brasil com mais força a partir dos anos 2000. Fruto das mobilizações sociais do movimento negro, organizado no Brasil desde os anos 1970, a implementação de uma política de cotas raciais nas universidades e órgãos públicos brasileiras tem mudado não só a composição racial dos cursos, mas tem transformado a produção de conhecimento com o surgimento de trabalhos nas mais diversas áreas, que tratam das relações raciais e de gênero a partir da perspectiva dos sujeitos negros. Este é um movimento que tem ganhado corpo no Brasil, em diálogo com outros países da diáspora africana, e encontrado reverberações na cultura digital, na política e também nas artes.
Desde que a figura de Adélia ressurgiu na pesquisa de Edileuza e foi difundida, sobretudo entre realizadores, curadores, militantes e pesquisadores negros, uma nova reescritura da história do cinema nacional tem sido proposta, sobretudo pelas mulheres negras. De 2015 para cá, Adélia Sampaio e Amor Maldito circularam pelo país num movimento de reconhecimento do trabalho de uma cineasta, mulher e negra, que foi propositalmente deixado de lado durante tantos anos. As reivindicações pelo reconhecimento do cinema feito por mulheres negras no Brasil tem pipocado, sobretudo desde 2016, e nos feito questionar, repensar e mover certas estruturas.
A redescoberta do filme acaba por escancarar a necessidade de reescrever a história desse cinema e está fortemente ligada aos movimentos organizados por pessoas negras. O reconhecimento do pioneirismo de Adélia traz à luz a discussão sobre os processos de invisibilidade das pessoas negras na sociedade brasileira, sobretudo em espaços tão elitizados quanto o cinema, e nos faz refletir sobre a influência dos debates públicos atuais na repercussão dos filmes. Mas, acima de tudo, destaca a necessidade de construção de um ambiente de possibilidades para que outras mulheres negras, como eu e você, enxerguemos no fazer cinema uma alternativa para inventar novas formas de viver e transformar as realidades que nos cercam.
