NOTAS SOBRE INTRIGAS FEMININAS
O termo sororidade tem sido muito utilizado nas discussões e rodas feministas dos últimos anos. Uso a palavra aqui no sentido de solidariedade entre mulheres em relação à opressão masculina e a experiência vivida em culturas patriarcais, sem cair, entretanto, na ideia de que existe um sentimento “natural” de amizade entre mulheres. Enquanto os papéis de gênero aproximam a noção de disputa amorosa a rivalidade feminina, a empatia entre mulheres pode ser um artificio para desconstrução do patriarcado. Estereótipos que reforçam os papéis de gênero ao invés de subvertê-los foram, por vezes, representados no cinema nacional e internacional. Trago aqui alguns exemplos da representação da complexa relação entre mulheres que oscilam entre a solidariedade e a rivalidade no cinema brasileiro contemporâneo.
O documentário A falta que me faz da diretora Marília Rocha apresenta a história de quatro jovens (Alessandra, Valdênia, Priscila e Shirlene) que habitam o município de Curralinho, Minas Gerais. É uma narrativa sobre afetos e sobre as marcas que eles deixam não só na alma, como também nos corpos, no ambiente, na vida que circunda os indivíduos afetados.
A narrativa se inicia com uma das meninas marcando em seu corpo o nome do namorado. A temática amorosa irá permanecer durante boa parte do filme e, principalmente, durante a cena emblemática de Priscila ao contar que Valdênia tinha lhe traído ao ficar com seu namorado.
Marília (diretora): Priscila, da outra vez que a gente veio aqui, a Valdênnia falou que você era a melhor amiga dela
Priscila: Agora acabou, ela traiu minha confiança.
Enquanto conta o acontecido, Priscila arremessa pedras no lago, no extracampo, não dá para saber até onde elas chegam, talvez uma metáfora para a relação da personagem com a amiga: não sabemos de fato como elas se relacionam. No começo do relato, Priscila fala em traição, mas depois diz que tudo acabou se resolvendo e as duas voltaram a se falar. O plano que antecede (caminhando) e o plano que sucede (água) o relato de Priscila destacam o ponto de reflexão de um conflito que depois de solucionado desagua na submersa complexidade dos afetos.
Quando Priscila finda o relato sobre as imbricações amorosas dela e de Valdênia (Priscila também ficou com o ex-namorado da amiga), ela inicia uma reflexão sobre o casamento e como são poucos os horizontes para as mulheres daquela realidade: casar e ter filhos. Priscila acredita que casamento não dá certo, muito menos casamento por amor, é mais interessante “casar por conveniência”.
Ao relatar a traição da amiga, Priscila logo faz o mea culpa e, ao invés de se colocar em um papel de vítima, ela complexifica a relação de amizade das duas. Ao falar do casamento, Priscila reflete sobre a realidade comum das mulheres daquele lugar.
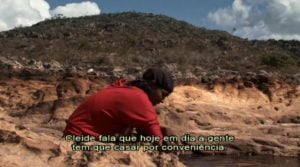
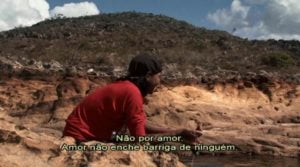
No longa mais recente da mesma diretora Marília Rocha, A cidade onde envelheço, premiado no 49º Festival de Brasília, vemos também outra relação de amizade entre mulheres. Duas portuguesas imigrantes no Brasil. “A gente fazia muita merda”, diz Teresa. É toda a informação que temos sobre as memórias das duas amigas. É através do cotidiano que iremos entender qual é de fato a relação existente entre Chica e Teresa – mulheres tão diferentes: contrariando o estereótipo europeu, Teresa se mostra espontânea, um tanto entrona e palhaça; Chica parece ser uma mulher mais séria, reservada e responsável. No entanto, as duas compartilham uma identidade comum: ambas são portuguesas, ambas amam Lisboa. Nesta produção, não vemos intrigas amorosas entre as amigas, mas conflitos cotidianos pela diferença de personalidade das duas em contraposição a sua nacionalidade. São pedaços de vida retratados em um longa que preza pelo o retrato da intimidade e do cotidiano como construção das relações de amizade.
Em Amor, plástico e barulho as protagonistas também possuem algo em comum: o sonho de se tornar estrelas do brega no Brasil. Para contar esta história, Renata Pinheiro não só se apropria da estética do brega, repleta de cores, sons e dança, mas bem como das histórias “por trás da fama”.
Jaqueline (Maeve Jinkings) e Shelly (Nash Laila) são cantoras na cidade de Recife (PE), a primeira com mais experiência, já Shelly acaba de iniciar a carreira como dançarina na Banda Amor com Veneno. A relação das duas personagens transita entre a rivalidade e a admiração. Shelly enxerga em Jaqueline sua inspiração e por isso deve traçar o mesmo caminho que a musa, inclusive namorando com o ex de Jaque, o cantor famoso da banda Amor com Mel.
A produção reflete sobre a lógica da fama. Jaqueline compara o sucesso com um “copo de plástico”: descartável e efêmero. Neste meio, as mulheres “servem” para ser musas – motivo da música – ou dançarinas – corpos que rebolam, no mais, tornam-se descartáveis, como o próprio sucesso do qual Jaqueline fala.
Entre as intrigas e a admiração, tanto Jaqueline como Shelly reconhecem seus defeitos e suas agruras. Presas no campo da “afetividade feminina”, elas se consolam bebendo e dançando juntas.
No filme de André Novais, Ela volta na quinta há uma abordagem mais comum desta rivalidade. Maria José e Noberto passam por uma crise no casamento. O conflito, no entanto, não é exposto, ele é colocado sempre nas entrelinhas. A interpretação não é nenhum pouco melodramática, mas naturalista. Não à toa, Novais utiliza a própria família para encenar um drama ficcional. Noberto tem um relacionamento extraconjugal, Maria descobre, mas tão pouco se desespera – ao contrário de Amor, plástico e barulho, aqui a estética não é do excesso, mas do sutil. Maria resolve fazer uma viagem e só volta na quinta-feira, fato que dá título ao filme.
O sentimento de raiva de Maria se volta mais contra a outra companheira de Noberto do que contra ele próprio. É interessante observar uma senhora idosa como Maria chamar uma outra mulher de ‘vadia’, denotando o ciúme em relação ao marido que ela jamais demonstra, no entanto, sente.
Esta rivalidade entre as mulheres ocasionada pelo ciúme é menos problematizada no filme de Novais, que apesar de abordar os afetos em seu estado poético cotidiano, re-apresenta uma visão recorrente em relação a disputa feminina. Percebe-se que a personagem de Maria é sensível, forte e interessante, entretanto acaba por ser minada pelos conflitos de Noberto, que seriam “mais importantes” dentro da trama, reforçando uma perspectiva patriarcal dos relacionamentos.
A PASSAGEM DO TEMPO COMO TEMA E EXPERIÊNCIA: MULHER DO PAI
Por muito tempo vi o tempo como uma espécie de inimigo, que me atingia maneira tão irreversível que meu desejo muitas vezes foi ter a capacidade fantástica de pará-lo, ou fazê-lo voltar. No entanto, nenhum desejo nesse sentido jamais foi ou será realizado. Custou-me até ver que o tempo não me atinge de maneira pessoal, não existe apenas para me embranquecer os cabelos.
Sou budista, e penso muito em um termo que para nós budistas é essencial para a compreensão do tempo como lei da natureza, na qual estamos mergulhados simplesmente porque vivemos: anicca. Impermanência, transitoriedade.
Esse aspecto da experiência humana independe de crença ou religião, e me parece o tema em “Mulher do Pai”, de Cristiane Oliveira. Após a morte da avó, a adolescente Nalu pergunta ao pai, Rubens, se eles continuarão a fabricar lã, a principal atividade da família até ali. Rubens, encostado à parede a uma distância “segura” da filha, diz que não, afinal ela não quer saber de tear. Implicitamente, não quer saber de seguir aquele movimento. Há uma ruptura, o tempo de Nalu é outro.
O verão que marca o início do filme traz consigo a novidade para a população de uma pequena cidade no extremo sul do Brasil. São os uruguaios na fronteira, a professora de artes, a descoberta da sexualidade de Nalu. Sucedem-se os fatos e também as estações. A mudança no filme, além de causa, é também tema e objetivo. O roteiro tem o mérito de não funcionar de maneira demasiado esquemática, com a personagem que passa por algo e daí “aprende” uma lição de maneira simplista.
Assistir a “Mulher do Pai” me trouxe àquelas questões deliciosas a respeito de estar em uma sala escura observando nossa tentativa coletiva de guardar, perseguir, ou “exorcizar o tempo”, como diria Bazin. Se tudo está circunscrito no passar das horas, de maneira irrevogável, o cinema parece estar ainda mais: está ele mesmo contido no tempo – o filme que dura duas horas –, ainda que busque contê-lo.
Também o cinema pode ter em si a contemplação de anicca, da transitoriedade. A experiência de crescimento e formação de Nalu não pode ser contida nem em um filme, nem no espaço de um ano delimitado diegeticamente por ele. O delicado desenvolvimento do relacionamento com o pai, no entanto, acontece nesse espaço apertado de alguns meses. A consciência interna do filme, de que o tempo passa sem pausa ou pena, causa a suspensão de certos momentos: a busca de Nalu pelo toque do pai, a amizade verdadeira de Rosário, o movimento terno/tenso de olhar para os sentimentos através da escultura com argila.
Os fragmentos desse percurso se tornam então preciosos, quando lhes dedicamos o olhar da impermanência. A trajetória de Nalu não é apenas deixar de se opor à força da mudança – seu pai se envolvendo com a professora, a escola que terminou –, é também se entregar a essa espécie de lei, aprender a navegar com ela, o que resulta num relato de maturação muito verdadeiro.
De maneira silenciosa, há também uma trajetória da liberação feminina possível naquele espaço/tempo. Rosário, a professora de artes para quem “os homens da vila são que nem os trens: só passam, nunca param”, acaba tornando-se a chave para a mudança de Nalu. É a única pessoa que a incentiva a viver para além dos homens: do pai que deveria cuidar, dos rapazes como o uruguaio ou os porto-alegrenses prometidos pela amiga de escola. De maneira um tanto realista, um tanto triste, Rosário substitui Nalu no cuidado ao homem que lhe poderia ser uma prisão. De maneira às vezes tão devagar que mal pode ser notada, a mudança para as mulheres faz-se muitas vezes às custas umas das outras.
A caminhada final de Nalu, com mochila nas costas, tem um pouco de “O céu de Suely”, um pouco de “Os incompreendidos”, é a partida rumo ao movimento puro e simples, um retrato da impossibilidade de manter-se onde está. Uma entrega da personagem à transitoriedade como lei da natureza, como dor e libertação.
CARTA À PETRA: ELENA + OLMO E A GAIVOTA
Quando assisti Elena, em 2013, já havia pensado e desistido várias vezes da ideia de fazer um filme sobre a minha avó, pensando na superexposição que isso poderia ser, na má-interpretação que poderia gerar por parecer egocentrismo ou mesmo pela aparente facilidade de tema, realização e produção. Tudo isso, depois de ver Elena, se revelou exatamente o contrário: falar sobre si e sobre as suas próprias origens é um ato de coragem. Uma coragem não só de se expor, mas de encarar a si própria, à sua família, ao que está mais intrínseco ao que é você. É também um ato de humildade. Colocar sua própria história e, especialmente no seu caso, entre outros tantos temas abordados no filme falar também sobre um assunto tão delicado, o suicídio de sua própria irmã, no intuito de poder, de alguma forma, contemplar, como que abraçar outras pessoas que possam ou não ter passado por algo semelhante. É preciso sim falar sobre o que está dentro de nós. Tornar-se uma ponte para outras pessoas que lidam com situações semelhantes, mas que não são ditas pelos tabus, pela sociedade cada vez mais rápida, agressiva, do movimento contínuo sem reflexão, yang, que não permite que tragamos à tona as sutilezas que habitam as nossas almas e que às vezes atrapalham nossas próprias tarefas cotidianas – que são tão exigidas por esse sistema – por serem deixadas de lado e nunca entendemos o porquê.
Peço licença, Petra, para expor o que eu vejo dos seus filmes e que me encorajou a ser cineasta, a permitir que eu me buscasse no meu trabalho, e que o meu trabalho fosse reflexo dessa busca. Seus filmes mostram o processo de autodescoberta, e é como se você estivesse compartilhando todas as suas inquietações, como um fluxo de pensamentos, que a gente consegue captar – pelo menos quem é mulher e passa por essas questões. Em Elena, é como se fosse necessário pra você fazer emergir e expelir suas angústias em forma de filme. As imagens têm cunho quase onírico, com imagens de arquivo pessoal no quais podia-se ver e ouvir depoimentos de Elena, fragmentos de sensações do real, depoimentos seus e de sua mãe. A partir disso, é possível ver uma correlação entre as três.
A escolha de composição das imagens para retratar as sensações em Elena é repleta de planos fechados, buscando detalhes de pele, querendo mostrar algo além das imagens das personagens. A câmera na mão é elemento marcante no filme, percorrendo pessoas e ruas, ficando difícil definir o que está sendo buscado: a câmera está perdida com e como você, como todos nós. Essas imagens são colocadas em contraste com as de arquivo, que, montam uma memória imagética existente fora e dentro de Petra: fora ao ser mostradas, remetem a uma memória externa a você – eram fatos meramente registros de situações; dentro uma vez que essas imagens são mostradas poeticamente a partir da memória da sua própria memória e suas vivências.
Além das questões que envolvem a irmã, você busca retratar também o seu estar se tornando mulher – a mesma fase em que Elena se encontrava. Isso é mostrado, externalizando o que mais de interior nos afeta, na cena em que várias mulheres descem rio abaixo, buscando suas próprias origens, tudo o que todas nós passamos, que nossas mães, nossas avós passaram, simbolicamente pelo fluxo das águas. E foi o mesmo momento em que me encontrava, que várias mulheres com quem convivo se encontravam: o que sou eu e o que são as construções em mim, o que é meu e o que é das minhas antepassadas?
E qual não foi a minha surpresa ao me deparar Olhos de Ressaca, sobre seus avós maternos. O mesmo ponto em que eu me encontrava: tentando resgatar as minhas origens para entender os meus próprios processos. É como se você já quisesse falar de Elena, mas ainda precisasse entender outros momentos, suas próprias origens, para deixar vir à tona outras feridas. Um processo de libertação. Já se vê muito do que o seu longa-metragem seria, em especial na cena em que sua avó é filmada flutuando na piscina, com a mesma trilha-sonora que marcaria Elena.
Elena, o filme, é a trajetória de uma mulher em busca de ser não mais duas, mas uma. Trata de um tema crucial para todas as mulheres, a individuação. O arrancar-se do corpo de uma outra – mãe… (irmã…) – para poder existir. Quando esse movimento de matar e morrer simbólico, necessário para o tornar-se mulher, é atravessado por uma morte literal, concreta, tudo ao mesmo tempo se torna mais urgente e mais enroscado. Como matar quem já está morto e que dói em nós como uma saudade brutal? Como ferir de novo a mãe, ainda que desta vez de modo simbólico? (BRUM, 2013, Revista época on-line)
Você chama Elena de memória inconsolável. A realização desse filme não tem a intenção de dar respostas, mas de compreender o que há de Elena dentro de você, e dentro de todas nós, perceber esse ciclo no qual ela se encontrava, de perceber que frequentemente enfrentamos exatamente as inquietações que a sua irmã vinha sofrendo sozinha. A tentativa de fechamento de uma cicatriz, e também seu próprio processo de individuação: deixar a Elena que habita dentro de nós morrer, para nos tornarmos.
O momento em que Olmo e a Gaivota chegou, pessoalmente pra mim, mas principalmente nessa discussão efervescente deste momento em que, ao mesmo tempo vemos mulheres cada vez mais emponderadas sobre si, por outro lado o poder do país – majoritariamente composto por homens – tentando estraçalhar essa conquista que ainda engatinha no mundo.
E eu não posso deixar de fazer uma análise além de estética desse filme, que lindamente faz uma mistura de linguagens e idiomas, do Teatro, da Literatura, do ficcional e do documental, mas a análise social que é urgente, presente nesse filme. Esse filme é sobre o mito da maternidade construído em todas nós desde muito cedo. Como Eliane Brum, mais uma vez se utilizando brilhantemente do seu trabalho para aplicar aos contextos da nossa realidade, analisou o caso da empregada doméstica de Higienópolis que, desesperada, “abandonou” o filho ao pé de uma árvore e aguardou para se certificar de que alguém o encontraria. O Cinema, ao longo de sua história, alimentou esse imaginário, de uma mulher que, desesperada e aos prantos, abandona um bebê em uma cesta à porta de um orfanato, aguardando que alguém o acolha. Nos filmes clássicos, causa comoção; na realidade, linchamento.
Olivia é uma atriz, cheia de sonhos, que depois de 10 anos de trabalho, assiste ao começo do fim da carreira, como ela diz. Ela já não vai ser a atriz principal, nem a mais jovem, e se questiona se haverá espaço para ela após o nascimento da criança. O cotidiano da gravidez de risco a deixa isolada, não a deixa trabalhar, e ela se vê presa a um ser desconhecido que a habita, e que, embora ela receba essa notícia com amor e vontade, se sente culpada por não estar completamente feliz com essa gravidez, como o mundo inteiro nos faz acreditar que deveria ser. O seu companheiro, Serge, continua trabalhando e vivendo o que ambos viviam juntos. Nos poucos momentos em que se encontram, Olivia quer um pouco de afeto e proximidade, mas Serge está muito cansado. Tenho o meu presente e você tem o seu, ele diz. Olivia não tem só o presente dela, ela carrega o presente dela e de Serge também, mas ele custa a compreender.
Por ter uma rotina extremamente cuidadosa, mergulhamos no psicológico de Olivia – coisa que raramente é trazida nos filmes, já que a gravidez é uma consagração unanimemente perfeita, como o imaginário nos fez acreditar ingenuamente. Entramos nas lembranças de Olivia, nas suas sensações, nas suas inseguranças. Em suas memórias inconsoláveis do que ela foi e do que projetava ser.
Confesso, no entanto, que fui à sessão de Cinema com o intuito de chorar bastante, e me deparei com um filme bastante leve, e após a sessão saí feliz. Feliz por mim, feliz por Olivia, feliz por quem eu sei que vai assistir ao filme e se sentir contemplada. De mais uma vez, você ter trazido o peso das coisas com delicadeza, e saí com a sensação de mais uma vez ter alguém que nos compreende e consegue falar através da nossa voz, e que há quem nos represente. Não estamos loucas. Nem sozinhas. Obrigada, Petra.
NUNCA HOUVE UMA GRANDE ARTISTA MULHER
Ou, pelo menos, é o que diz Brian Sewell, ignorando nomes como Georgia O’Keefe, Louise Bourgeois, Frida Kahlo e muitas outras. É verdade que Sewell estava apenas sendo misógino, mas sua fala nos lembra que o lugar da mulher na arte é sempre de resistência e marginalização. Aquele lugar pelo qual elas tiveram que lutar com unhas e dentes. Ainda assim, nunca serão vistas como merecedoras dele – elas nunca serão consideradas “grandes artistas”.
A ideia de dar as costas a esse conceito de “grande” em que só cabem homens me atrai cada vez mais.
Este é um espaço negativo. Por “espaço negativo”, refiro-me ao que está em volta do objeto, o que está vazio, em branco. O espaço positivo já está cheio demais, saturado, por isso procuramos um lugar para nós, mesmo que ele esteja além da margem do que é considerado importante, na esperança que as nossas vozes se juntem a outras e outras e outras… até que, juntas, nos tornemos algo maior.
Estamos cansadas do que é definido como “universal”, do papo que se aproveita de uma suposta neutralidade para transmitir ideias e estéticas que certamente são, também, políticas. Não esperamos que abram-se magicamente portas para nós, vamos nos fazer ouvidas, nossas críticas, nossas obras de arte, nossos filmes, nossas análises estão aqui para ficar. Somos mulheres, realizadoras, escritoras, queremos ocupar espaço, queremos escutar outras vozes e queremos ser ouvidas também, queremos mais cores, mais tamanhos, mais formas de olhar e mais formas de ser, queremos fortalecer e queremos ser fortalecidas.
Enfim, queremos mais do que nos foi dado, mais do que herdamos, mas sem esquecer das nossas raízes e o que nos tornou o que somos hoje. Assim, abrimos nosso Verberenas, um espaço negativo que deseja ser visto.
(o título desse post foi inspirado neste artigo e nessa notícia)
Esse texto foi escrito de forma colaborativa por Glênis e Amanda.


