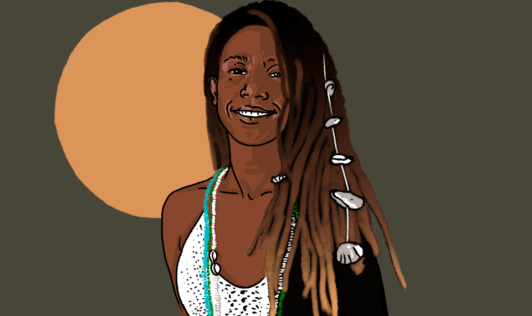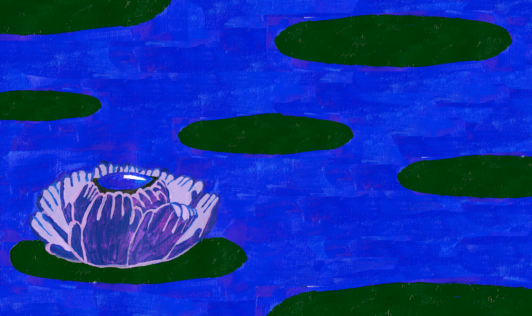NINGUÉM NUNCA OUVIU O CANTO DESSA TERRA

Fiquei pensando porque Liberdade (2018), de Pedro Nishi e Vinícius Silva, foi um curta que tanto mexeu comigo. Gostaria de ter podido revê-lo para escrever este texto, mas no vazio entre a lembrança – em meio aos dias intensos de Festival – até então, surgiu algo muito profundo em mim que desejo compartilhar com vocês. Apesar de reconhecer várias potências no filme, como pautar a imigração africana em São Paulo, em um bairro conhecido pela imigração japonesa, sabia que esse plano político tão direto não era o motivo genuíno de meu encantamento.
São três personagens. Primeiro, Abou, que nos conduz. É guineense e por vezes tem encontros com uma japonesa, Satsuke, de presença espectral. O filme também é marcado pela participação de Sow, que passa grande parte do curta preso no aeroporto – um não lugar – e ali fica por dois dias por ter o visto de entrada não aceito no Brasil. Ele vem de Guiné ao encontro de Abou, e traz consigo os instrumentos de música do amigo. Abou e Sow encaram a câmera em diversos momentos, mas apenas a voz de Abou aparece fora de campo, em dissincronia, num texto em forma de ensaio, que nos decupa as camadas de tempo que cobrem aquele espaço, o bairro da Liberdade.
A um primeiro olhar, eu logo imaginei que minha profunda conexão se deu pela paixão que tenho pelos filmes-ensaios. Lembrei-me de Hiroshima, Mon Amour (1959), de Alain Resnais, Là-Bas (2006), de Chantal Akerman, e Sans Soleil (1983), de Chris Marker. Os filmes-ensaios não se encerram em si próprios. Trata-se de um discurso em construção que fica reverberando e se reconstruindo em nós após a sua fruição. São marcados principalmente pela narração em off, pelo subjetivismo e por estarem na fronteira entre ficção e documentário. Talvez entre esses filmes citados, apenas Hiroshima, Mon Amour traria alguma dificuldade para este enquadramento, mas aqui acatei principalmente por sua primeira sequência.
Desses elementos que configuram filme-ensaio e no qual insiro Liberdade, destaco algumas características singulares que me foram levando a elaborar mais sobre minha experiência com o curta. Os personagens presentes em todas as obras citadas narram sua estranheza em terras que não habitam ou já habitaram, o sentimento em sua condição estrangeira. Assim, são envoltos nessa melancolia que é decorrente do despatriamento. Há também a forte subjetivação, são narradores em primeira pessoa. Claro que cada um na sua proporção. Em um polo, vejo Hiroshima, Mon Amour, que é mais discreto nesse sentido, emprestando aos personagens esse lugar de fala; no outro polo, há Là-bas, em que a subjetividade impera, é a própria realizadora narrando suas impressões tão íntimas acerca da sua herança judia. E acima de todos (tendo uma perspectiva tridimensional e não valorativa nesta relação), está Sans Soleil, uma espécie de memória de todos, nos confrontando com a experiência de tempo e espaço e uma percepção insana da memória. Liberdade se posicionaria no meio, sendo mais atraído pela gravitação do filme de Resnais, por conta das encenações e personagens delimitados.
Mas há também diferenças marcantes entre esses filmes. O Hiroshima, Mon Amour, apesar da inventividade que lhe dá a marca inaugural do cinema moderno, trata-se de uma narrativa, com personagens bem demarcados, operando o off de maneira dialógica. Na belíssima sequência de início, há imagens de Hiroshima após a Bomba: imagens de horror! Os personagens se situam no extracampo numa relação dialética de aproximação e distanciamento daquele território. Como se a dor, ali sentida pela guerra, devastasse os sentimentos nesse turbilhão de repulsa e atração. Já em Sans Soleil, não há personagens marcados como em Hiroshima, nem uma memória individual como no longa de Akerman, mas uma história de muitas memórias, de diversas temporalidades e espaços. E em Liberdade, é a memória ocultada pelas camadas de tempo que nos é revelada.

E provoquei essas lembranças porque elas surgiram ao assistir Liberdade naquele domingo de Festival. Por estas recordações, percebi que meu encantamento pelo curta está na relação entre tempo e espaço por meio da linguagem cinematográfica. Cada um dos demais filmes que citei anteriormente distorcem essas linhas aparentemente conexas em ângulo reto. Pela ruptura do plano cartesiano, promovem tangenciamentos entre essas dimensões, provocando uma dobra no espaço-tempo. Especificamente em Liberdade, há um fluxo vertiginoso de encontro entre tempo e espaço, mas de maneira compassada, não é feito num rompante, contudo, se chega ao seu epicentro de maneira espiralada, como se fôssemos tragados por um redemoinho, ou melhor, pelo rodopio da dança que vemos em seu terço final (ao som dos instrumentos de Abou).
Um canto evoca ancestralidade, que tanto pertencem aos personagens, quanto a formação do Brasil como nação. O bairro da Liberdade é conhecido pela migração japonesa, que tão orgulhosamente é lembrada pela própria construção arquitetônica daquele espaço. Mas Abou se apresenta como um imigrante que habita aquela área como os demais africanos imigrados ao Brasil nos últimos anos. Mesmo assim, o bairro é conhecido pela migração de japoneses e de outros orientais, que já não mais ocupam essa região. Logo, Abou começa a acessar essa dobra no espaço-tempo, rompendo com a memória estabelecida daquele local e se utiliza de uma regressão temporal, em mais de três séculos. Não estamos mais na Praça da Liberdade, mas sim no Largo da Forca, ao lado de uma capela, a dos Aflitos e também de um cemitério para esses corpos marginalizados. Naquele mesmo bairro, algumas poucas centenas de anos atrás, havia um Pelourinho, escravos negros africanos eram torturados das mais vis maneiras. O canto de dor ali permanece, mesmo sendo sobreposto por camadas e mais camadas de tempo que ressignificam aquela região, sendo marcada pelo fluxo migratório oriental, mas jamais lembrada pelo fluxo de negros africanos da atualidade.
O curta se utiliza de um recurso fotográfico para enfatizar esse ocultamento. Vários planos estáticos, como se fossem retratos, de imigrantes negros estão subexpostos. Impossível identificar aqueles sujeitos. Após o descortinamento da história deste bairro, voltarmos a ver aqueles planos-retratos, mas a exposição é por fim ajustada. Dessa maneira, conseguimos enxergar rostos antes ocultos. Os espaços parecem se transformar, mas eles continuam muito os mesmos, como se as dobras no espaço-tempo mantivessem fissuras por onde a dor do passado ainda reverberasse no presente. A história simula uma progressão, mas ela repete os mesmo padrões de opressor e oprimido. E findando com esta inquietação, ouço ao fundo, baixinho, surgindo em fade out, um canto triste, com o qual termino esse texto. E não é a música que esperamos ouvir de Abu e seus amigos, na expectativa da entrega dos instrumentos por Sow, pois aqui empresto a minha subjetividade para finalizar o texto com as três primeiras estrofes do Canto das Três Raças, que agora chega em primeiro plano:
Ninguém ouviu
Um soluçar de dor
No canto do Brasil
Voltar para tabela de conteúdos desse número