A BELEZA ESTÁ DENTRO DE NÓS, QUE OLHAMOS: ENTREVISTA COM EVERLANE MORAES
“A beleza está dentro de nós, que olhamos” é a segunda de quatro entrevistas que iremos publicar ao longo do ano. As entrevistas são parte da minha pesquisa de mestrado, que reflete sobre os olhares agenciados por diretoras negras do cinema brasileiro. Ao longo de dois anos e meio pude acompanhar, refletir e conversar com Viviane Ferreira, Everlane Moraes, Glenda Nicácio e Renata Martins. A pesquisa foi realizada pelo Programa de Pós Graduação em Meio e Processos Audiovisuais da ECA/USP com auxílio da FAPESP e do CNPq.
A conversa com Everlane Moraes aconteceu em abril de 2019 durante a 4ª edição da EGBÉ, na qual Everlane Moraes foi homenageada, em Aracaju (SE). Everlane é natural de Cachoeira (BA), mas foi na capital sergipana, mais especificamente no Quilombo Caixa D’água, que ela passou grande parte da infância até o início da vida adulta. O quilombo e seus moradores são os personagens principais de Caixa D´água: qui-lombo é esse?, o filme que inicia sua filmografia. Em 2015, Everlane ingressou na Escuela de Cine y TV de San Antonio de Los Baños (EICTV), em Cuba e lá, seu cinema encontrou um interessante diálogo afro-americano. Na entrevista conversamos sobre filosofia, fábulas, mitos e desejos. Aproveite!

Everlane e o pai, o artista plástico sergipano José Everton Santos.
Lygia Pereira: Everlane, me conte um pouco sobre sua trajetória.
Everlane Moraes: Eu venho das artes plásticas, que é minha primeira área de estudos, pela qual eu tenho muita paixão. Nesse percurso também estudei um pouco de Filosofia da Arte, principalmente, semiótica, iconografia, iconologia das imagens, que é a parte que eu mais gosto nos estudos das artes plásticas. O curso que fiz é de licenciatura, metade bacharelado e metade licenciatura. Quem tem aptidão artística como eu, que bom, mas quem não tem fica nessa parte teórica da História da Arte ou da Licenciatura. Então eu consegui conciliar as duas áreas no mesmo curso. E quando você está estudando Filosofia da Arte, consequentemente você já estuda Filosofia em si. Como meu irmão é filósofo, eu tive acesso à filosofia grega e à filosofia moderna também, em casa, o que me deu uma base boa pra eu entender depois filosofia ocidental da arte.
E por isso que eu busquei mais o cinema, porque era uma arte que me possibilitava expandir mais essa coisa das artes visuais e até implementar meu processo plástico, que seria da pintura, das artes plásticas tradicionais, para o cinema, onde eu transponho de maneira super tranquila. Por isso eu acho que meus filmes são tão plásticos. Então, acho que minha base seria essa, filosofia e artes. E dentro dessas duas coisas o que eu mais gosto de estudar, real, é a questão da linguagem cinematográfica, a linguagem das artes em si ou o pensamento em torno da expressão artística de maneira geral, universal, mais especificamente trazendo o recorte para a diáspora. Hoje o meu desejo é estudar filosofia africana, pois no meio disso tudo, quando a gente estuda filosofia, a gente estuda também sociologia, antropologia, fenomenologia, todas essas logias que giram em torno da imagem, giram em torno do social, giram em torno da cultura. Eu gosto, acho que tudo isso se complementa.
L: Eu queria ouvir um pouco mais sobre o “Pattaki”. Desde a sua criação a sua concepção, porque ele é um filme de muitas camadas, tem muitas metáforas e acho que ele traz muito forte essa questão da iconografia múltipla, que você fala.
E: Em “Pattaki” eu queria marcar a presença do mar no filme. Eu gosto muito do mar, eu sou filha de Iemanjá, e é um elemento muito forte, a gente sabe que na diáspora é um elemento central na nossa narrativa, porque o mar nos levou, o mar nos trás, é o mar da escravidão, o mar dos barcos. O mar que é esse orixá forte que rege todas as culturas afro no mundo, este elemento da Deusa do mar que é muito forte. Então, eu queria fazer um filme sobre isso, aproveitando que eu estava Cuba, eu estava numa ilha, onde somos rodeados pelo mar. Também tem essa presença do meu orixá, que cada vez mais se aproxima de mim. Mas esse elemento do peixe que é muito interessante, do peixe enquanto personagem, enquanto um ser dúbio, completamente dúbio, eu gosto muito do peixe. Antes, era um filme sobre Sikán, uma rainha africana que foi condenada e morta por supostamente contar o segredo sagrado ao seu amante e que deu origem a uma seita secreta cubana chamada Abakuá, única no mundo. Pesquisei muito, fiz 23 páginas de projetos e tava tudo certo pra fazer, mas comecei a adoecer, teve umas coisas meio loucas, de ameaça, meio complicadas, porque esse tema é extremamente complicado, então eu tive que abandonar esse tema. Mas aí eu já tinha a vontade de fazer um filme sobre um relato mitológico, eu gosto muito das mitologias enquanto relatos (…) Eu queria transformar a mitologia em imagens, o que também já foi feito no cinema várias vezes, mas eu não tenho muito conhecimento em relação ao documental. Se fez muita mitologia em ficção, mas não documentário em si. Na verdade, na Itália, teve até um cara que pesquisei, um branco aí que eu pesquisei. Ao mesmo tempo eu queria fazer uma mitologia que tivesse essa coisa dos orixás, essa coisa de força sobrenatural, alguma coisa cósmica, mas queria ter como base o social, a vida e a sociedade cubana. O intento foi esse, o de juntar essas duas linguagens, a oralidade dos mitos com a paisagem contemporânea de Cuba transformada, elevada a algo mágico, como se Cuba fosse um lugar mágico. Que essa coisa misteriosa e mágica de Cuba tomasse conta da paisagem social e moderna de Cuba. Então, eu inventei um pataki.

Pattaki (2019)
L: O que é pataki?
E: Pataki significa mito, em Cuba. Só em Cuba existe o pataki para a Santería, A Regra de Ocho ou Ifá. Pataki quer dizer “os caminhos dos orixás”. Cada orixá tem seu caminho, então, por exemplo, o livro de Reginaldo Prandi tem vários patakies, que pra gente não tem esse nome. Mas são vários mitos e cada orixá vai ter o seu caminho, seus mitos, seus relatos que dizem um pouco sobre seu poder, sua psique, seu modo de agir no mundo, sua função. Um mito sempre explica a origem de algo. Por exemplo, a gente explica a presença do mal, dos males no mundo através do mito de Pandora, porque Pandora abriu a caixinha lá de Prometeu, seu marido, e ela com sua curiosidade de mulher abriu a caixinha e nela estavam presos todos os males do universo. A partir da hora que ela abriu, esses males surgiram. Os homens antigos, ao tentarem explicar os males que existem, contavam uma história ou se remetiam a um mito para explicar a origem de algo.
Então, eu inventei esse mito para falar um pouco sobre o porquê dessas pessoas ou no caso, esses peixes viverem se afogando ou viverem sufocados fora da água. Por que eles não estão na água? Por que eles estão dentro de um aquário? Que é porque eles são regidos por limitações sociais ou limitações humanas. A mulher peixe, por que ela não respira? Por que esse peixe não respira? Porque esse peixe está escondendo algo, sua essência. A partir do momento que esse peixe tirar sua máscara, como a sereia [personagem trans do filme], ele vai conseguir respirar melhor. É uma metáfora sobre algo que o ser humano esconde, o que ele tem de mais íntimo dentro de si e ele esconde, passa a viver sufocado.
São analogias simbólicas para explicar alguns comportamentos, algumas situações humanas. Por que a gente é tão ganancioso, né? A ganância acaba levando a gente pra algum lugar. Então aquela mulher dos cubos [personagem do filme] é isso, o medo e a ganância levando a gente a se afogar nos nossos próprios medos. Por que o homem se protege nas suas casas, fazendo muros, fazendo contenções, fazendo barreiras que o separam da sua própria natureza ou da natureza em si? Como o Malecón [estrutura de concreto que percorre 8 km da faixa do mar em Havana, Cuba], por exemplo, que separa a cidade do mar, como os prédios e tudo. Chega um dia que a natureza pede de volta, o homem vive com medo que um dia a natureza peça de volta o que ele tenta controlar. A mulher cega [(personagem do filme] representa a fé. Como é que a gente acredita que algo vai curar uma coisa que é incurável? Só através da fé. Ao mesmo tempo que o homem construtor [personagem do filme] tem medo de que essa chuva venha, pois pode desfazer o que ele construiu para se proteger, a mulher cega espera a chuva, que para ela é sagrada. A água é o elemento da vida. Sem a água a gente não vive, existem vários elementos que giram ao redor da água. Agora, e que água é essa? Essa água é essa Deusa. É Iemanjá que tudo vê, tudo controla e tudo castiga também, tirando um pouco de água, dando um pouco de água, tirando aos pouquinhos. E o ser humano vive à mercê dessa força maior.

La Santa Cena (2016)
L: Queria voltar na questão da mitologia. Estou bastante interessada em pensar o Paul Gilroy. Lá no Atlântico Negro ele vai falar dos navios até o diskman como canais de transmissão mitológica. E eu tenho pensado muito no cinema, em como ele pode ser também esse canal de transmissão de modos de viver, modos de pensar a diáspora africana. E aí, por exemplo, no La Santa Cena você parte da representação da Última Ceia do Da Vinci para subvertê-la. Eu queria saber se você busca fazer esse “caldo mitológico”, misturar mitologias ocidentais. Por exemplo, o galo (personagem do filme La Santa Cena) é importante pra mitologia cristã também né?
E: Sim, com certeza. Eu gosto muito dessa coisa de dominar um certo tipo de linguagem universal ou ocidental e dar a ela uma roupagem dentro da cultura afro. Porque a cultura branca é muito influenciada pela cultura negra, a gente só foi forjado, interrompido. E a gente consegue assimilar a cultura do branco e ressignificar dentro da nossa própria cultura, diferente do branco que não consegue assimilar a cultura do negro, a não ser impondo os seus códigos.
L: Que é um pouco o que é o cristianismo, né?
E: É, o branco impõe seus códigos e o negro mesmo com códigos impostos consegue ressignificar dentro da sua própria cultura, isso pra mim é nossa maior resistência, a gente resiste porque a gente não impõe, a gente complementa, dá uma nova roupagem. Assim como, por exemplo, a gente é tão simbólico que Iemanjá pode ser Nossa Senhora Aparecida, sabe? Não tem problema, a gente tá falando da água, de uma energia maior que é a água. Se um branco crê que essa senhora branca é essa água, a gente também tem uma deusa que é a água, então a gente traz pra gente, complementa as nossas potencialidades com outras potencialidades, é uma coisa muito mais aberta para assimilar. O que eu gosto muito também é de rebaixar essa presença branca ou essa legitimidade branca universal e do poder oficial e ressignificar esse próprio poder do branco, melhorando-o, quando o transformo em coisa preta.
Eu tento fazer uma iconografia que entre em contato direto, em crítica direta ou diálogo direto com outra iconografia que foi imposta. Então se você diz que a Santa Cena é essa, eu digo que a Santa Cena é esta. É uma disputa de poder simbólico. Eu gosto de disputar simbolicamente com o branco, nesse sentido, entendeu? Porque nós temos simbologias muito potentes que foram invisibilizadas. Isso o que você falou é muito interessante, de que o galo é um elemento tão cristão, né? Mas é um elemento tão afro também. Eu gosto de ficar brincando, criticando, fazendo diálogos com a história oficial, é isso. E rebaixando ela à superficialidade, mostrando a ela realidades maiores, mais simbólicas.
L: Você acha que isso é fábula pra você?
E: Não… não. Acho que isso é a parte Everlane conceitual, Everlane crítica, Everlane que quer brincar mesmo… que detém o poder, detém o poder da fala e da imagem e quer brincar e dialogar com essa história oficial de bosta. Mas a parte da Everlane da fábula é a parte da minha cultura, em si. Embora eu seja uma negra até muito culturalmente ocidentalizada, que conhece muito da história do branco, que consegue navegar por esse lugar com muito conforto, eu também sou muito, muito negra. Eu gosto da cultura negra, eu gosto de pesquisar isso, eu acho maravilhoso. Eu acho que a potência está aí. Em tudo isso que eu faço eu quero potencializar a minha cultura, que é o que eu acho que há de melhor no Brasil, no mundo. Esse é o meu lugar de conforto, que eu nunca vou sair e que não é uma coisa que eu sinta que é uma imposição minha, de me legitimar nos espaços, não. Pra mim é onde está a potência.
Eu nasci em Cachoeira, eu não tenho como fugir, eu nasci em Cachoeira, no Recôncavo Baiano, fui criada num quilombo. São coisas que estão em mim, compromissos ancestrais que estão em mim, que não saem, são missões que estão em mim, concepções de vida que estão em mim, modos de vida que estão em mim e questões conceituais que estão em mim e que eu acho que eu nasci pra isso, minha missão é essa. Eu não sinto outra coisa dentro de mim, desde pequena, é um lugar confortável. Então como eu tive muito acesso ao universo branco e via como eles diminuíam a gente, eu abracei essa causa. Estar o tempo todo lidando e batendo de frente com o branco, usando a própria linguagem dele para destituir. Usando a própria linguagem dele pra rebaixar o status dele, não como obsessão, mas como proposição, embate. Um processo de retorno ao que foi tirado de nós.

Allegro Ma Non Troppo: la sinfonia de la belleza (2016)
L: Se você puder falar um pouquinho mais sobre a questão da linguagem e como você vê essa ponte entre a linguagem e a filosofia afro-diaspórica.
E: Preciso conhecer muito mais da África, nós conhecemos muito pouco da África. Eu sou muito autodidata, sou uma acadêmica extremamente rebelde e eu trabalho muito na fragmentação. A gente da diáspora é muito fragmentada, somos seres multi.. é… polivalentes, multifacetados e fragmentados, eu gosto dessa ideia de fragmentação e de não conhecer tudo da África e deixar espaço pra essa idealização que eu tenho da África, sabe? Eu não quero aterrissar completamente numa África que não existe, que está somente na nossa cabeça e no nosso coração, que tá dentro do terreiro. Eu gosto muito de estar nesse lugar, de uma Everlane que está muito idealizada, uma Everlane que está muito utópica. Eu tento conciliar o saber alguma coisa, com o não saber nada e o saber um pouco sobre, porque aí sobra espaço pra eu fabular o que eu quiser. Eu gosto muito desse limbo, que é o que eu acho que eu vivo, entre ser brasileira e ser africana. Às vezes eu sou muito brasileira, às vezes eu penso e sinto ter algo de África, às vezes eu não sou nem uma coisa nem outra ou sou as duas coisas. Eu prefiro estar nessa fronteira muito tênue, de estar flutuando, de não saber se eu sou uma coisa ou sou outra, de buscar uma referência aqui, uma referência lá, de buscar.
Eu acho que a gente tem que conhecer mais de África, primeiro, a gente conhece muito pouco. Eu não me sinto muito confortável de estar representando África ou estar dizendo que eu sou África. Eu sou brasileira, afro-descendente e tenho uma ancestralidade africana que eu não sei completamente qual é, porque é muito difícil você saber de qual povo você veio, é uma mistura de povos, é uma série de coisas. Tampouco eu sou um tipo de negro que nasceu dentro do Candomblé, como nossas mães-de-santo, nossos pais-de-santo que já nasceram feitos santo, que viveram muito tempo dentro do terreiro, que não tiveram acesso às universidades, a viajar pelos festivais, a ter contato com o branco como a gente tem. Então somos negros influenciados por essa outra cultura imposta. Sou do candomblé, mas meu caminho de retorno às minhas origens é muito tortuoso, diferente de uma irmã de santo que nasceu ali, que não foi tão influenciada quanto eu pelo “de fora”. Sou da Bahia, mas não sou da Bahia também. Eu sou uma negra influenciada por uma outra cultura, porque tive acesso a outras coisas. Então isso também é uma coisa que limita, a gente conhece uma África muito mais acadêmica, uma África muito idealizada. Tem sido um caminho tortuoso de retorno, mas que tá me fazendo muito bem, completando um vazio que existia dentro de mim.
A linguagem pra mim é uma questão do que eu gosto. Eu gosto de observar, eu gosto de colher elementos simbólicos, elementos sociológicos e elementos plásticos. O que mais me enche os olhos são as cores, a alegria, a música, a comida, o cheiro, essa cultura que é tão sensitiva. No Candomblé, por exemplo, o nosso Deus vem dançar com a gente, ele entra dentro da gente, ele é a gente. O que a gente cultua são elementos naturais, é físico, tudo tem textura, tudo tem cor, tudo tem alegria, tudo tem música, tudo tem brilho e é isso que eu trago pro cinema, não é nada além disso. Utilizar a luz ao nosso favor, utilizar a linguagem do cinema ao nosso favor para acentuar a beleza que a gente tem, acentuar a complexidade que a gente tem e que é. Somos seres misteriosos, por isso que o branco, a sociedade branca tem medo da gente, porque a gente mesmo sofrendo por 500 anos de colonização, sofrendo tudo que a gente sofre até hoje, a gente tá vivo até hoje, sendo lindos, sendo felizes, ressignificando, fazendo música.
A gente não morre nunca, a gente tem um poder tão grande que é por isso que a gente foi escravizado, por isso que a gente é invisibilizado, porque há um medo muito grande em relação a gente. Eu tento usar a técnica do cinema, a linguagem a nosso favor, acho que toda arte faz um pouco disso, valorizando o que não foi valorizado. Não é algo gratuito, não é superficial, meus filmes são filmes de gesto. O meu gesto, a sensação, é como se eu estivesse pintando. Eu pinto com luz, pinto com foley, pinto com textura.

Caixa D’água: Qui-Lombo é esse? (2012)
L: Seus filmes são muito silenciosos. Você vê alguma ligação com a oralidade da cultura afro-brasileira?
E: Eu vejo. A literatura, principalmente a oral africana, é muito voltada pra palavra obviamente, mas não é uma palavra objetiva, não é uma informação, é uma contra-informação. Existe nossa imagem do Preto Velho, o que é o Preto Velho? Preto Velho é uma entidade eminentemente brasileira, ele nasceu escravo, diferentemente de quem veio escravizado, ele foi um escravo que já nasceu de pais escravos, em que seu contexto já foi de escravitude desde pequenininho. Ele cresceu como escravo e ele ficou velho, o que é uma coisa muito rara, porque geralmente os escravos duravam 30 anos. Esse preto velho chegou aos 60, 70 anos, só essa resistência eleva ele a um patamar de ancestralidade e importância dentro da comunidade negra que não tem precedentes, é um cara que conseguiu ver muitas coisas. Então ele se torna um conselheiro desse lugar, uma pessoa que aconselha e conta histórias, porque ele tem memória, tem vida pra poder ter esse porte, esse cargo. Quando você escuta uma história, por exemplo, uma história mitológica, fabular, ela sempre quer dar uma sentença, né? Sempre tem no final uma moralidade, é para ensinar algo, é para você refletir. São coisas muito didáticas, mas faladas de uma maneira muito circular, meio misteriosas, nunca é uma informação direta, é uma informação fabular, por quê?
Porque o que se espera dessas histórias é que a pessoa fabule imagens, que dê tempo da pessoa pensar, refletir, buscar caminhos, que não é o caminho direto, é um caminho muito mais interior. Então eu acho que meus filmes tentam um pouco disso, serem menos diretos e fazerem mais curvas.
Eu sou menos o griô e mais a pessoa que escuta. Eu acho que eu escutei tantas histórias morando ali no Caixa D’água, morando no terreiro e tudo mais, que o que eu consigo fazer é reproduzir o meu silêncio ao escutar essas histórias e reproduzir todas as imagens que ficam aqui na minha cabeça enquanto a pessoa fala. É como se o griô falasse pra mim e a voz dele virasse uma voz em off dentro da minha cabeça. Eu reproduzo o sentido do que o griô tá falando e não o que o griô tá falando.
L: Você escreve roteiro dos seus filmes?
E: Todos, todos. Eu desenho, faço storyboards, faço um roteiro, faço um argumento, faço um roteiro técnico, faço um roteiro linear, como o de uma ficção, eu faço vários tipos de roteiros, faço um gráfico de simbologias. Eu piro o cabeção. Agora meus roteiros são muito de imagens, mais do que de palavras. Eu gosto do silêncio, acho que a gente precisa de silêncio no mundo, a gente precisa escutar, a gente vive num mundo muito dialético, muito impositivo, da palavra, da voz, que é muito forte. E a gente conseguiu resistir através do silêncio, nossas mulheres principalmente, e os homens também. Conseguimos resistir através da fala, quando alguns falaram e foram mortos, quando alguns conseguiram chegar no espaço em que puderam falar, mas também resistimos muito através do silêncio. Quantas mulheres não morreram e não viveram toda uma vida de silêncio? De choro, falando pra dentro? Quantas vezes a gente não teve que tramar através dos olhos uma fuga? Quantas vezes no silêncio a gente não tramou rotas de fuga através do cabelo? Quantos de nós não nos comunicamos pelo olhar? Um negro e outro negro se comunicam pelo olhar quando gostam de alguma coisa ou quando não gostam. A gente tem essa sensualidade, essa coisa do gesto, a gente é muito expressivo. Tudo isso pode ser acentuado se você diminuir a fala, diminuir o discurso.
A gente vive num mundo muito discursivo e acho que isso mata muito as imagens. No terreiro a gente aprende a escutar e a calar. Então, meus filmes são a reprodução desse silêncio. Uma expressão vale muito, quando uma pessoa tá triste você pode perguntar a ela por que ela tá triste, mas o corpo dela diz que ela tá triste, diz que ela tá feliz. E a gente quando tá feliz a gente dança, a gente não fala que tá feliz. Como meu cinema é muito performático também, tem um viés performático, talvez seja um dos motivos. Mas é um cinema no qual toda questão dialética e do discurso estão na minha pesquisa, estão em mim, mas no momento de evacuar isso eu tenho muito mais critério para não impor minhas ideias. Eu tenho ponto de vista, mas eu não imponho ideias. Eu não gosto da minha voz também. E eu não tenho certeza de nada, também. Então eu tô fazendo o filme no fluxo né, da vida, então é um fluxo de observar.

Pattaki (2019)
L: Você pensa essa performance a partir do corpo?
E: Do corpo, do corpo somente. Do meu corpo e do corpo do outro. Eu intitulo meus filmes como um Cinema-Espelho, eu me vejo nos meus filmes. Não faço filmes nos quais eu não me veja. São filmes que falam de mim para os outros e que também falam dos outros, que é a mesma coisa que falar de mim. Então são filmes nos quais eu tô confortável ali, porque eu tô me vendo, é o meu próprio reflexo. Eu nunca vou fazer um filme de pessoas que eu não admiro, porque eu não tenho essa capacidade de falar mal de alguém. Então só faço filme de gente que eu me apaixono. Depois que eu me apaixono pelo o que ela é e vejo que ela tem uma potência subjetiva em si, vejo que ela tem uma persona, eu tento cativar ela pelo olhar mesmo, e pelo olhar ter esse brilho, ser esse espelho, são sinais que chegam.
No momento de filmar eu sou a cineasta, eu separo. E não é que eu deixo de ser a Everlane, ou passo a ser uma pessoa ruim ou hierárquica, não. No momento de filmar, eu estou para filmar. E convenço meus personagens a estarem também para o filme, porque o filme a partir de agora também é deles, não é só meu, é responsabilidade deles também. O filme é nosso. O momento da gravação é uma coisa tão séria e tão visceral pra mim que as pessoas entendem. Neste momento, tenho meus pudores, mas não tenho pudor para que o filme funcione. Existe um profissionalismo incluso, as pessoas são muito profissionais. Elas podem ser profissionais do cinema também, qualquer pessoa pode fazer um filme, ser ator, ser diretor, basta estar comprometido com aquela atividade. Eu mantenho o contato esporádico com as pessoas que gravo. Eu não estou para modificar a vida delas, nem pra trazer o dinheiro que elas não têm, não tô pra trazer nada disso. Eu encontrei elas daquela maneira e deixarei elas daquela maneira, o que eu puder ajudar com a minha mínima possibilidade, eu ajudo. E acho que já estou ajudando quando tiro elas da rotina, quando eu trago pra elas algo novo, quando eu dialogo com elas e faço elas se verem nas suas telas. De alguma maneira trouxe alguma coisa na vida delas, que durou aquele momento e não durará mais, porque eu sigo avançando pra encontrar com outras pessoas…
L: E elas também, né?
E: E elas também. Então, a relação do dinheiro, eu dou sempre o dinheiro depois, mas eu dou um dinheiro. Geralmente porque a pessoa passou quatro dias comigo, deixou de trabalhar, de fazer sua atividade. Ou então eu compro a mercadoria dela ou eu faço todo mundo da equipe comprar também. Ou eu posso dar em roupa, posso dar em material, mas eu sempre tento pagar meus personagens. Ou às vezes não, porque eles não querem. É uma questão de ética de sempre manter a relação de proximidade e distância necessária. É uma paixão, mas é uma paixão somente por uma pessoa boa, é uma paixão pelo personagem, pela possibilidade que aquela pessoa tem pra determinada coisa, pra esse material.
Mas tem que medir essa questão da paixão, porque você pode cair numa paixão louca por uma pessoa e você não conseguir extrair dali nada e o personagem dominar, o personagem te dominar, dominar o filme. Você tem que ser muito forte, porque o filme é seu, a motivação é sua. Você que tem que saber o que tem que ser feito, a pessoa não tem compromisso nenhum com isso, né? Ela tava vivendo a vida dela e de repente você chegou. Se você chegou pra modificar a vida delas, modifique, faça a “pincha”, faça seu filme e depois vá embora. Eu tenho isso muito claro, não fico com esse sentimento do “Ah, meu Deus, e agora? Eu fiz um filme e meu filme não vai ajudar em nada a Monga [personagem de Monga, retrato de café] ser uma mulher e conseguir sair dessa condição”. Claro que não, e eu não tô numa posição tão boa também. Ou seja, Monga é linda e maravilhosa, é resistência e continua sendo resistência. Eu a encontrei assim, eu a registrei assim e espero que Monga vá até onde ela possa ir nos esforços dela e na caminhada dela. Porque não tenho essa visão meio paternalista de “Ah, quero modificar o mundo e…”. Não, eu quero modificar as pessoas, deixar uma sementezinha plantada em cada pessoa, depois eu exibo o filme, cada pessoa sai com uma sementezinha plantada e multiplica. É trabalho de formiguinha. Mas nada de representar o mundo, representar todo mundo, modificar, nada disso. Eu não tenho essa pretensão toda. Tenho a vontade de transformar o mundo, mais todo cuidado pra não me frustrar, pois pode ser que eu não consiga… mas creio que já estou conseguindo, pois cada filme é uma semente de reflexão, espiritual e política.
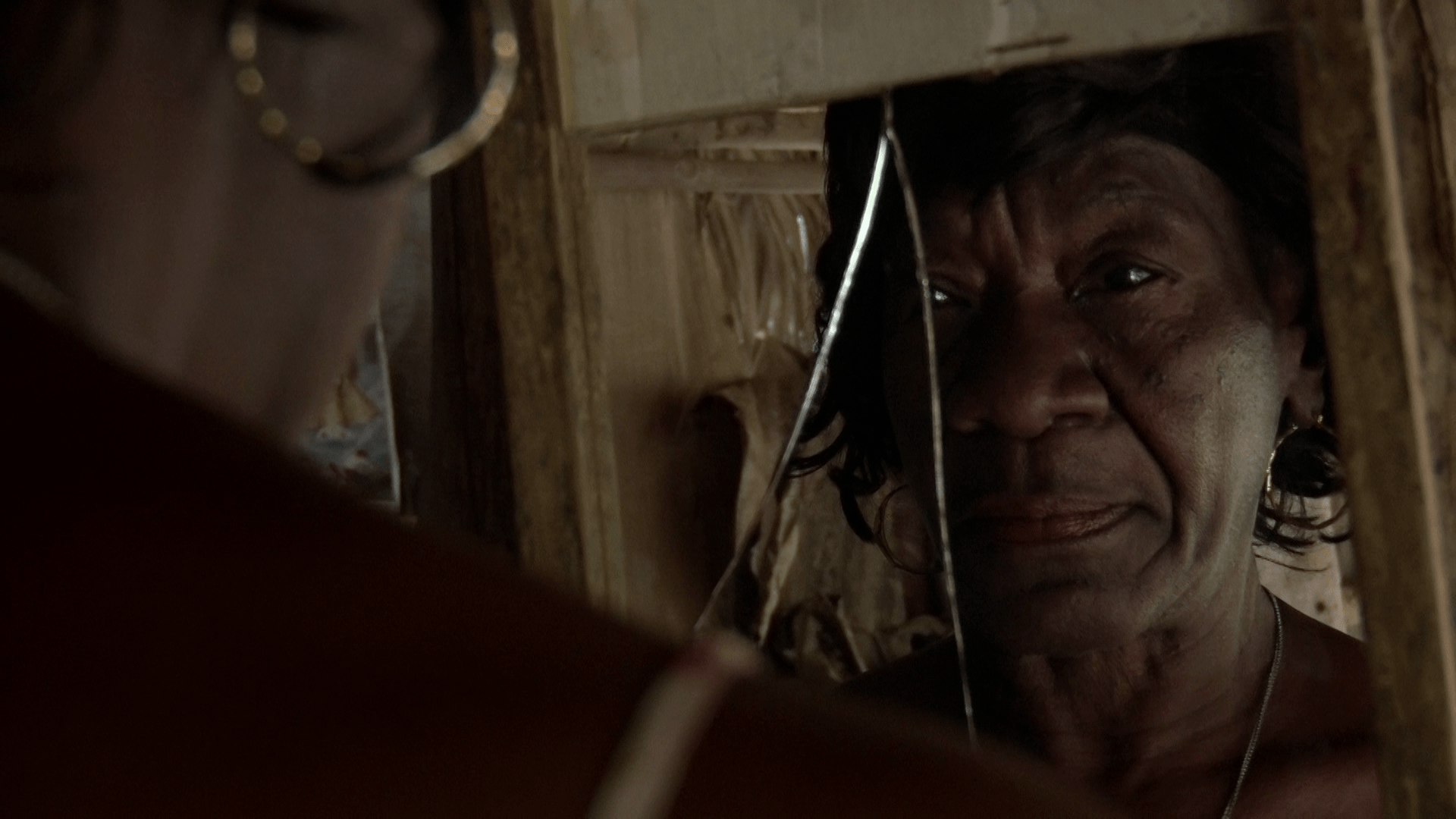
Monga, Retrato de Café (2017)
L: Por que o documentário?
E: Pra mim o documentário é A plataforma, eu gosto de assistir documentários, porque eu aprendo, eu vivo também com os personagens, com aquela realidade. Eu acho que o documentário é uma plataforma extremamente livre, de formato, o documentário pode ser o que ele quiser, não deve nada, não deve explicação. Eu gosto da metodologia dos documentários — que é diferente da ficção, que requer uma metodologia um pouco mais controlada. Eu tenho muitas questões em relação a trabalhar em filme de ficção, mas eu trabalho. O filme de ficção tem que ser muito bem feito, uma palavrinha de atuação falada mal, um objeto de arte feio, uma coisa feia na cenografia me tira do filme de ficção… Eu fico muito atrelada às artimanhas para fazer um filme, tem que tá muito bem feito, eu tenho que tá muito dentro da história para eu conseguir assistir um filme de ficção. A maioria dos filmes de ficção, alguma coisa me tira da narrativa, porque eu fico prestando atenção em algum erro. Diferente do documentário que não tem erro e não tem acerto. Por mais que você assista um documentário não tão bom, você sempre aprende algo. Acho o documentário muito mais completo, acho que ele garante muito mais todas essas logias dentro dele. Eu acho realmente o cinema de ficção um “porre”, mas um “porre bom”, também é muito lindo, muito maravilhoso.
L: Você acha que você gosta da investigação?
E: Da investigação, do contato com as pessoas, de usar “não atores”, de registrar o cotidiano, a vida social, como ela é mesmo, os erros, os acertos, os acasos, né?
L: Eu gosto muito de documentário e o que me fascina no documentário é a possibilidade de maquiar a realidade e, ainda assim, ser a realidade. Eu gosto de brincar que o documentário é tudo aquilo que você quiser fazer, é tudo que tiver jurisprudência… Se eu tô falando que é documentário, isso é documentário.
E: Eu gosto disso que me deixa fluída no documentário, que é você não sabe o que você vai filmar, e como isso vai passar, e talvez o que você planejou não vai dar. Adoro esses desafios constantes do documentário e às vezes você filma uma coisa, e que bom que você tava com a câmera ligada, se você não tivesse, você ia perder, porque só você viu aquilo e registrou aquilo. Não existe segundo take para algumas coisas. O documentário é desafiador porque ele é a própria vida, que segue, que passa em frações de segundo, o tempo todo e você é muito pequeno, o ser humano é muito pequeno. Eu adoro esse desafio de não poder fazer esses dois takes, de não ter que ensaiar para alguma coisa, de estar o tempo todo ali sendo sacudida. Eu gosto desses estímulos que o documentário me possibilita na vida mesmo. É isso, eu gosto de aventura, acho que o documentário é um lugar de aventura.

Aurora (2018)
L: É, que você não tem o controle…
E: Total e absoluto não né, mas tem. Agora eu trago um pouco da ficção pro meu documentário também. Se bem que às vezes eu acho que não tem tanta diferença entre a ficção e o documentário. Acho que a diferença é a indústria, que deu esse estrelismo para os atores de Hollywood. Trouxeram esse glamour pra ficção e esse glamour que me atrapalha, mas acho que não é muito diferente não, acho que se controla aqui, se controla ali.
L: La Santa Cena, por exemplo, você pode ver ele e achar que é uma ficção tranquilamente.
E: Com certeza, com certeza. Eu até já assumo que pode ser uma ficção.
L: O Aurora também.
E: Eu já assumo, não tenho problema nenhum com isso. Mas eu parto de motivações muito documentais. Na verdade, é a documentação da interpretação e fabulação das pessoas “normais” diante de uma câmera. Não deixa de ser um documento, documentar algo diante da câmera. Tudo é documentário, algo esteve diante da câmera, isto é um documento, um fato real, não é? Por exemplo, a Monga é a Monga, mesmo Monga tendo seu personagem, sua persona. Quando eu cheguei lá, ela colocou essa peruca e ela tem o personagenzinho dela da madame. Eu vou dizer que Monga não é Monga? Cheguei e Monga já não estava querendo ser Monga, já estava fabulando a si mesma, não é que isso não vai ser documentário, eu tô documentando uma pessoa que está fabulando a si mesma, né? Um ser que naquele momento era aquilo, tava querendo ser aquilo. É documentário, nós também todo o tempo queremos ser alguma coisa ou vestimos personagens. Em casa somos alguma coisa com a mãe, com os amigos a gente é outra coisa. No trabalho a gente é outra coisa, na hora de filmar a gente é cineasta, quando termina de filmar a gente é outra coisa. Qual é o problema? Quer dizer, só é ficção o que tá na frente da câmera? E o que tá por trás também que também é uma ficção? Ou seja, também é uma discussão. E por que a gente se limita tanto? Por que se limitar? Eu não consigo entender por que as pessoas se limitam. No meu caso, o filme tá livre pra que as pessoas nomeiem ele da maneira que quiserem. Não tenho problema nenhum, não vou entrar em crise.
Mas enquanto autora, enquanto criadora do método, eu digo: “Eu faço documentários”. E quando eu digo que faço documentários, eu digo que eu faço filmes, quando eu digo que eu faço filmes eu tô levando em consideração todos esses elementos aí dos outros gêneros. Quando eu digo que eu faço documentários, é porque dentro de mim existe uma documentarista nata! Agora, também existe uma artista que vem das artes plásticas e traz essa manufatura mais ficcional, traz essa plasticidade mais ficcional. Eu sou uma documentarista nata porque eu sou uma pessoa da cultura, eu sou a pessoa da rua, eu sou uma pessoa da análise sociológica, mas ao mesmo tempo eu gosto muito de psicologia, de filosofia, de fabular coisas, de teorias. Acho que essa mescla de coisas que faz meu cinema ser híbrido.

Pattaki (2019)
L: Para fechar, quais são suas referências cinematográficas?
E: Eu gosto muito de Sara Gómez, uma cubana, que pra mim parece uma mulher extremamente revolucionária, maravilhosa, de uma sensibilidade que não existe, eu sou fã da Sara Gómez, embora tenha uma filmografia muito pequena, porque ela morreu muito jovem. Eu adoro o Spike Lee, tenho muitas críticas ao cinema dele também. Essa posição de homem e tudo mais, tenho muitos problemas com o Spike Lee, mas acho ele de uma linguagem extremamente original, esse cara é um gênio. Eu gosto muito do Zózimo, principalmente por Alma no Olho. Não tem uma filmografia muito assim “Ohhhh” e tal. Mas por sua atitude, por ele ter sido o ator que ele foi, por ele ser um defensor do Cinema Negro como ele foi, uma figura muito representativa pra gente. Eu gosto de Yves [Yves Saint Laurent], que é esse documentarista que é bem minha cara, eu gosto muito dele. Ele fez filmes de sinfonia, sinfonia da cidade, muito musicais, são documentários muito elevados à poesia e tal. Yves eu acho maravilhoso.
Eu gosto muito de várias mulheres negras contemporâneas, como a Viviane Ferreira, a Larissa Fulana de Tal, Joyce Prado, Renata Martins, Taís Amordivino, Safira Moreira, Juh Almeida, várias. Acho que fazem cinema muito potente, muito centrado, ao mesmo tempo de conteúdo e de forma muito bem equilibrada. Tamém tem os cineastas negros David Aynan, Vinícius Silva, Gabito (Gabriel Martins), André Novais, Diego Paulino. São cinemas diferentes, mas cada um com seus erros, acertos, suas obsessões, enfim, suas existências e subjetividades.
Eu gosto muito do Vertov, do surgimento do cinema, embora seja muito branco também, mas eu gosto de assistir esses primeiros experimentos do cinema, diretores que estavam muito em nível de conceito e tal. Ou seja, aquela coisa, eu consigo aproveitar qualquer linguagem dessa e trazer pra negritude, esse é o meu diferencial. Eu não tenho essa crise não. Porque foi feito por branco, eu consigo separar o joio do trigo, consigo tirar o que do branco nos serve e aproveitar… Gosto muito da Varda… são mulheres brancas também, mas bom, são mulheres sensíveis, né? Tem Jordan Peele aí que tá me impressionando com seu cinema.
L: Bom, acho que chegamos ao fim. Você quer acrescentar alguma coisa?
E: Acho que meus filmes refletem um pouco de como minha cabeça funciona. Minha cabeça funciona a mil, meus olhos funcionam a mil, é muito latente essa coisa do fazer artístico, da ancestralidade na minha família. São muitos estímulos à arte desde pequena. Eu não sei fazer outra coisa na vida, eu me sinto muito confortável dentro do cinema, fazendo o que eu faço. Às vezes eu tento até fugir um pouco dele porque eu me pergunto: “Será que não tá muito conceitual, Everlane?”, “Será que você também não consegue se despir de algumas coisas e experimentar outras?”. Mas eu gosto dele, então, eu vou continuar fazendo esses filmes que eu chamo de experimentos estéticos. Eu adoro colocar a gente nesse lugar, eu adoro quando tem pessoas que, historicamente, socialmente, ou que no nosso imaginário coletivo são pessoas que são incapazes de estarem nesse lugar. E de repente eu pego elas e coloco no lugar de conceito, de filosofia, de logia, extremamente complexo e sofisticado.
Eu adoro quando coloco essas mulheres num lugar tão sofisticado. Pra mim isso é um tapa, é um murro na cara do branco, porque eu sei que eu tô falando com o branco, eu sei o que eu tô atingindo dele, eu sei a raiva que ele tá de mim, eu sei que eu sou um mistério pra ele. Primeiro que minha estética, minha idade e de onde eu vim, seria impossível fazer um cinema tão conceitual como esse, tão engajado e tão firme, né? Que consegue falar com ele de maneira horizontal ou até acima, em uma posição que ele não está acostumado. Eu sei onde meus filmes são bons, em relação aos filmes brancos, eu sei onde eles nunca vão conseguir fazer igual, né? Então, eu gosto muito desse lugar, que pega o nosso que é tão simples, cotidiano e tão estigmatizado dentro de um lugar considerado pequeno e trazer ele pra um lugar extremamente conceitual, de nível altíssimo de filosofia, de logia. Sei onde eu atinjo o branco com isso, onde o branco fica com muita raiva, onde o branco consegue a partir daí compreender como a sua antropologia é uma antropologia de merda, sabe? O quanto a sua antropologia reflete o seu caráter, e a sua malvadeza, sabe?
Então, quando eu faço esses filmes eu estabeleço uma “nova” antropologia visual contemporânea. Eu sei que nenhum antropólogo conseguiu representar o negro dessa maneira, dando esse cárater de sujeito, como eu tô dando. É uma maneira de contribuir, dialogar diretamente com essa crítica que eu faço às imagens do negro na contemporaneidade. De dialogar com o Fanon, com a literatura das mulheres negras, com Racionais, com Virginia Rodriguez, Zezé Motta, Léa Garcia, Beatriz Nascimento, Nina Simone, Milton Nascimento, Arthur Bispo do Rosário, Belkis Ayón, Bob Marley, meu pai, meus ancestrais. São muitas possibilidades, em todos os meios, linguagens, logias possíveis onde nós negros somos plenos. É aí que eu bebo.

Set de filmagens de Aurora (2018)
L: É de dentro, né?
E: É tudo isso. Me modifica. Botar um pouquinho de cada coisa nos filmes, pra ver nossa beleza. Me faz achar que realmente estou fazendo a coisa certa. Ainda bem que eu não sou aquele tipo de negro que não tá ligado nisso, ou seja, que bom que desde muito cedo eu consegui ter a possibilidade de estar nesse lugar hoje, sabe?
L: Acho que isso tem muito a ver com a maturidade do seu trabalho.
E: Às vezes eu penso como deve ser triste ser um negro sem contexto, sabe? Eu sou tão brasileira e tão negra que meu cinema não poderia ser diferente. E de maneira autoral, eu faço o cinema que eu gosto de assistir. Eu gosto de saber que pessoas que não assistem esse tipo de formato assistiram meus filmes, eu gosto de estabelecer esse “novo” tempo no cinema, esse “novo” silêncio, esses corpos bem fotografados, essa plasticidade gigante. A gente tá acostumado a ver negros ou certas condições sociais filmadas de maneira que essas imagens não fiquem bonitas porque a gente precisa da coisa feia pra sustentar certo discurso. Por que quando a gente filma a pessoa na feira a gente tem que filmar com a camerazinha meio tremida, não pode ser uma câmera melhor, tem que ser com uma câmera mais simples? Parece que tem que tá cru e feio. Então, essas coisas me atrapalham muito, porque eu acho que dá pra filmar com uma RED [câmera de cinema profissional] um feirante, sabe? Acho que a beleza é fundamental e me incomoda muito esse lugar da filmagem precária ou da imagem precária. Mesmo na precariedade a gente também é bonita, pode ser bonita, pode ser melhor valorizada, sabe? Na verdade, acho que não é nem uma questão do dispositivo, é uma questão de olhar, de respeito, de responsabilidade, de ponto de vista. A beleza está dentro das coisas, dentro de nós, que olhamos. Penso assim, são coisas que podem se modificar ao longo do tempo, com minha carreira. Mas é isso, não tenho nenhum tipo de pudor de juntar as artes plásticas com o cinema e pintar, e pintar no cinema. Eu sou uma artista plástica e cineasta ao mesmo tempo.
*
O OLHAR COMO ATO DE CRIAÇÃO DO MUNDO
Em 2020, na ocasião da Mostra de Cinema de Tiradentes, tive a oportunidade de conhecer a diretora Viviane Ferreira, diretora do longa-metragem Um Dia com Jerusa (2020). Dentre essas poucas conversas que tive a felicidade de ter com ela, alguns de seus questionamentos me marcaram, me desafiaram. Lembro que ela pensava bastante no lugar da crítica, e de uma crítica negra, e na relação de velhas e novas críticas com os filmes que surgiam – e filmes como o dela, que surgem a partir de cosmovisões pouco vistas e da consolidação de demandas políticas construídas ao longo de anos e anos.
Uma de suas indagações ficou comigo, depois daqueles encontros: que gramática, que aproximações a crítica de cinema pode construir a respeito dos cinemas negros de hoje e dos que virão – e quais olhares surgem a partir de uma crítica que se localiza também como negra nesse ecossistema das imagens e das palavras sobre as imagens? Se o cinema negro é um projeto em construção, como afirmou Janaína Oliveira há alguns anos1, as críticas negras o são também, e caminham com os filmes em um processo múltiplo e espiralar, no qual idas e vindas, aberturas e composições podem engendrar poéticas e políticas.
Dentre as várias perspectivas possíveis para dialogar com Um Dia com Jerusa, escolhi olhar a partir de autores negres e/ou brasileires, que têm como referência as cosmovisões afro-brasileiras. Parto das pistas que o próprio filme traz, e me permito passar por ele, decifrar, buscar rimas e consonâncias com filosofias que me ensinem outras formas de imaginar.

Tecido, textura
O longa-metragem Um Dia com Jerusa (2020), de Viviane Ferreira, traz novamente Léa Garcia e Débora Marçal nos papéis de Jerusa e Silvia, personagens que primeiro surgiram no curta-metragem O Dia de Jerusa (2014), da mesma cineasta. Aqui, a diretora reinventa a relação entre as duas personagens para fazer emergir novos atravessamentos. Silvia, jovem negra, médium e historiadora, aguarda o resultado de um concurso público enquanto trabalha fazendo pesquisas para uma empresa de sabão em pó. Ela acaba batendo à porta de Jerusa, mulher negra, idosa, que vive sozinha na região do Bixiga, em São Paulo, e que no dia de seu aniversário acaba enredando Silvia em sua casa, em suas histórias e, por fim, em sua vida. O filme elabora aberturas e passagens entre dimensões – visível e invisível, esquecimento e memória, presença e ausência – que compõem a malha subjetiva da população brasileira, de subjetividades compostas tanto pelos processos violentos que vivemos desde o sequestro dos povos africanos durante a colonização portuguesa nas Américas, como por cosmovisões que vêm resistindo a essa violência, trazidas pelos sobreviventes da travessia do Atlântico, e transformadas por seus descendentes.
“As culturas negras que matizaram os territórios americanos, em sua formulação e modus constitutivos, evidenciam o cruzamento das tradições e memórias orais africanas com todos os outros códigos e sistemas simbólicos, escritos e/ou ágrafos, com que se confrontaram. E é pela via dessas encruzilhadas que também se tece a identidade afro-brasileira, num processo vital móvel (…)”
Leda Maria Martins2
Tecido e textura. Falas e gestos. Interação. Coreografia. São palavras que surgem quando Leda Martins pensa a identidade afro-brasileira, em suas constantes transformações e reatualizações. O dinamismo dessas formações e a força de seus enraizamentos não combinam com a estereotipia e a ausência que marcam os aparecimentos de povos e pessoas pretas nas imagens cinematográficas brasileiras. Também nos foi reservado, na História com H maiúsculo, o lugar de quem é olhado, e raramente o de quem olha. Nos dias de hoje, diversas artistas têm buscado fracionar essa história, colocar-se entre as frestas. Nesse contexto, a cineasta Viviane Ferreira é uma das poucas mulheres negras que dirigiram um longa-metragem no Brasil. Não à toa, ela faz das ausências o ponto de partida para a construção de presenças politicamente implicadas.

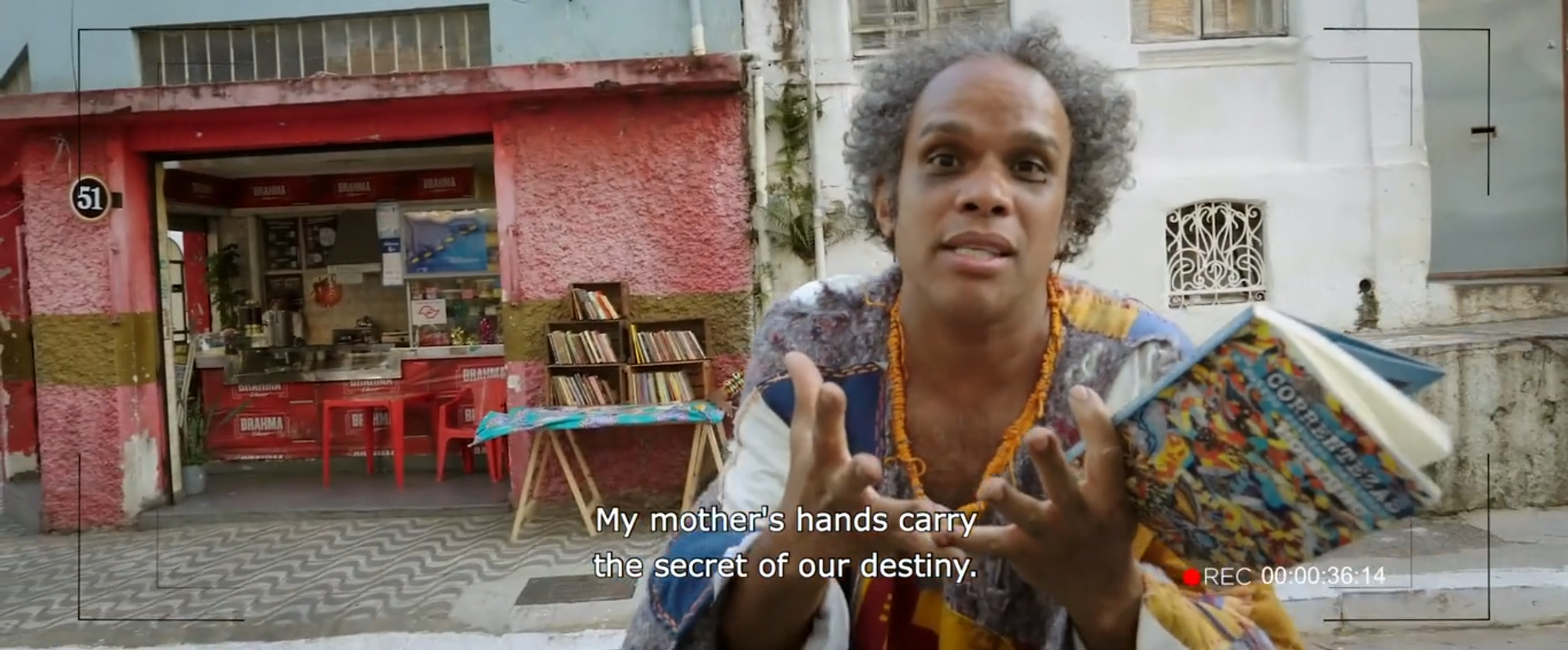
No início, podemos notar aparições que deslocam os imaginários a respeito das pessoas negras que povoam o Brasil; aqui, em específico, a região do Bixiga, na cidade de São Paulo. Silvia é uma jovem que estuda para concursos, e vemos na tela de seu computador que tem uma professora também negra, que ressalta em seu discurso a subversão que é existir como mulher preta no Brasil. As pessoas que cruzam as ruas são retratadas com dignidade: as duas amantes na rua, o catador de recicláveis e o declamador de poesias surgem sorrindo, parte viva e constituinte da cidade. Aliás, todas as pessoas mostradas no filme, nas ruas e nas visões e histórias partilhadas por Silvia e Jerusa ao longo do filme, são negras. Em um mundo em que os filmes brasileiros não se constrangem em, muitas vezes, povoar suas imagens apenas – ou em maioria – com pessoas brancas, Viviane Ferreira constrói um mundo inverso para tornar visíveis as pessoas negras em sua multiplicidade.
Jerusa compra, então, uma filmadora e aponta para o declamador, que fala como um griô, ainda que tenha um livro nas mãos. Ele recita o poema As mãos de minha mãe, da escritora baiana Lívia Natália:
“Nos dedos vincados de veias grossas,
na curva que se enruga no mais preto das dobras
as mãos de minha mãe perfazem os caminhos de meu mundo.
(…)
As mãos de minha mãe, cada vez mais idosas,
guardam, em suas linhas, o segredo de nosso destino,
elas se cruzam no ventre da espera, e nasce
sempre feliz, sempre feminino.”
Lívia Natália3
Vemos o enquadramento de Jerusa, que empunha a câmera; ouvimos o poema declamado, que indica o poder fundante da voz. O filme avisa que conheceremos Jerusa através do que ela dá a ver ou esconde em atos de criação do mundo.
Outras presenças/ausências emergem, muitas vezes em um só corpo: descobrimos que Silvia é uma jovem homossexual em um relacionamento escondido da família. Através dos momentos em que experimenta transes, Silvia converte em visibilidade os apagamentos históricos. Enquanto escuta a coordenadora de seu trabalho falar sobre o Bixiga, Silvia nos dá a ver, em transe, um festivo carro da escola de samba Vai-Vai subir a rua. A Vai-Vai reivindica a vanguarda dos negros na constituição da região4, contra o discurso hegemônico de que seus primeiros habitantes teriam sido imigrantes italianos. Quando as duas protagonistas finalmente se encontram, Jerusa começa a narrar as histórias da família, ligadas à Vai-Vai e ao rio Saracura, um dos rios invisíveis, canalizados, que correm por baixo da cidade de São Paulo.

As populações negras que fundaram o Bixiga buscavam a proximidade com o rio que, quando corria visível, servia às lavadeiras e às crianças pretas que as acompanhavam. É a partir da pergunta sobre lavagens de roupa que Silvia, sem querer, aciona as memórias de Jerusa, que acompanhava a avó nas lavagens no Saracura. Ao desfiar sobre o rio, Jerusa atrai Silvia para a correnteza, para dentro da casa, para um espaço-tempo que identifico com a ideia de encruzilhada.
Interseção, ponto nodal, encruzilhada
Volto a Leda Martins para melhor definir – ou abrir – o conceito de encruzilhada, que me ajuda a pensar no visível e no invisível que se apresentam no filme, nas existências materiais e imateriais, naturais e sobrenaturais que compartilham o mundo:
“A cultura negra é uma cultura das encruzilhadas.
Nas elaborações discursivas e filosóficas africanas e nos registros culturais delas também derivados, a noção de encruzilhada é um ponto nodal que encontra no sistema filosófico-religioso de origem iorubá uma complexa formulação. Lugar de intersecções, ali reina o senhor das encruzilhadas, Exu Elegbara, princípio dinâmico que medeia todos os atos de criação e interpretação do conhecimento. Como mediador, Exu é o canal de comunicação que interpreta a vontade dos deuses e a eles leva os desejos humanos. Nas narrativas mitológicas, mais do que um simples personagem, Exu figura como veículo instaurador da própria narração. ”
Leda Maria Martins5
Essas dimensões da existência, no entanto, não podem ser compreendidas a partir de uma visão ocidentalizada dicotômica, de dualidades que se opõem, não se cruzam ou não se afetam. Se, como afirma Martins, a encruzilhada é um lugar de intersecção, regido por uma energia mediadora e canalizadora, essas dimensões estão intrinsecamente ligadas, afetam e constroem uma à outra. “Operadora de linguagens e de discursos” e “produtora de sentidos”, a encruzilhada em Um Dia com Jerusa é a abertura que surge do encontro entre Silvia e Jerusa, para uma oralidade que aciona a visão, para uma visão que aciona história, e uma história que aciona uma passagem.
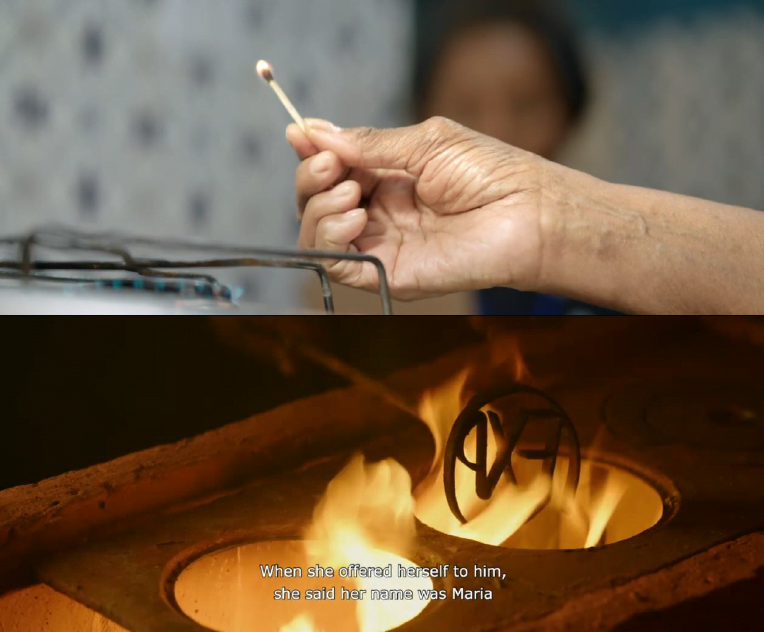
Silvia é sensitiva, médium, mediadora: através de seus transes as histórias desfiadas por Jerusa se traduzem em imagem. À medida que enreda Silvia em suas histórias – e não por acaso, cada vez mais “para dentro” da casa –, notamos que Silvia e Jerusa não estão sozinhas. Alguns enquadramentos sugerem que há presenças ali para além das duas. O espectador também pode se localizar pela perspectiva dessas presenças. Não só como quem olha de fora, mas como é convidado a observar de perto. O contato com as presenças invocadas pela narração de Jerusa faz com que Silvia possa de fato ver – e nos dar a ver – imagens de vidas ancestrais, de resistência e criação.
Ao contar a história da avó e de como herdou seu nome, Jerusa versa sobre a oralidade como ferramenta de sobrevivência: “Anunciação era também o nome de minha avó. Maria Jerusa Anunciação. Ela não era registrada e nem letrada. Mas sabia enganar os letrados”. Ela continua: “Mãe contou” – e aqui Jerusa insere outra narradora que toma parte no tecer de sua vida – “que vovó era negra ladina. Fugiu do senhor que a tinha como propriedade e se apresentou para um outro que a marcasse como de aluguel”. Ela conta então que a avó se apresentou ao novo senhor como Maria Jerusa Anunciação: Maria, como a mãe de Deus, Jerusa, como em Jerusalém, e Anunciação, porque estaria destinada a anunciar o retorno de Jesus. Através da impressão de que compartilhava com o opressor da fé dos brancos, Maria Jerusa o convencera a pagar pelos serviços de lavadeira. Aqui, Jerusa repassa uma sabedoria dialógica – que se mistura a uma subversão do feminino –, um saber do qual a avó se serviu para subverter o sistema escravista e forjar, aos poucos, a própria liberdade. Diante de momentos de inflexão, de encruzilhadas, mais que sobreviver ou resistir, as antepassadas que Jerusa evoca forjaram outros futuros :
“Os sobreviventes podem virar ‘supraviventes’: aqueles capazes de driblar a condição de exclusão, deixar de ser apenas reativos ao outro e ir além, afirmando a vida como uma política de construção de conexões entre ser e mundo, humano e natureza, corporeidade e espiritualidade, ancestralidade e futuro, temporalidade e permanência. (…) Mas o salto crucial entre a sobrevivência e a supravivência demanda um conjunto de estratégias e táticas para que saibamos atuar nas batalhas árduas e constantes da guerra pelo encantamento do mundo.”
Luiz Antonio Simas e Luiz Rufino6
A supravivência marca todos os atos de narração de Jerusa. O filme não esconde, porém, a presença das ausências: Silvia e Jerusa compartilham, junto a inúmeras famílias negras brasileiras, a dor de perder um ente querido para a violência da polícia e do tráfico. Essas aparições perpassam o filme de forma repetida, como é repetido o luto. Não precisamos ver a violência que os vitimaram. Viviane Ferreira demonstra mais interesse em construir outro repertório imagético sobre vidas pretas.


Tomo como exemplo a bela prosa de Jerusa sobre o avô, o negro Pizzolato, que vemos através da tradução sensitiva de Silvia. Era um somali chamado Aberia, que se tornou assistente de um fotógrafo italiano em expedição no chifre africano. Após o falecimento do italiano, Aberia era o único que sabia manusear os equipamentos de fotografia. Passou então a ser chamado de Pizzolato e voltou para a Itália com a expedição. No início da imigração dos italianos para o Brasil, chegou ao país em condição bem diferente dos negros que mal tinham saído da condição de escravizados. Uma vez no Brasil, casou-se com Maria Jerusa, a avó de Jerusa. Ensinou-a a fotografar. “A sua avó era fotógrafa ou lavadeira?”, pergunta Silvia. “Vovó era tudo que precisava”, responde Jerusa. A estratégia de supravivência garantiu uma nova vida ao casal (os avós), em São Paulo, e marcou a família com a herança da fotografia, que preenche toda a casa de Jerusa – também herança dos ousados avós. A fabulação proposta pela roteirista e diretora Viviane Ferreira dialoga com o apagamento da ancestralidade de grande parte da população afro-brasileira, que em muitos casos não possui fotos ou registros dos antepassados, nem conhecem suas histórias.
Água, correnteza, mpámbu anzila
Lá no início do filme, quando conhecemos Jerusa, escutamos o aviso: “eu acho que hoje as águas vão lavar tudo”. Em certo momento, realmente chove, e quando um sino revela que as águas do rio invisível subiram, Silvia é convidada a adentrar ainda mais a casa Jerusa. Na parte mais baixa da construção, há um poço. “Depois da canalização, vovô construiu esse poço e disse: ‘na minha casa, o rio tem como respirar”’, diz Jerusa. O apagamento e a submissão da natureza na cidade de São Paulo, aqui representado pela história de apenas um de seus dos rios canalizados, coincide com o apagamento e invisibilidade dos povos que habitavam suas margens e usufruíram de suas águas.
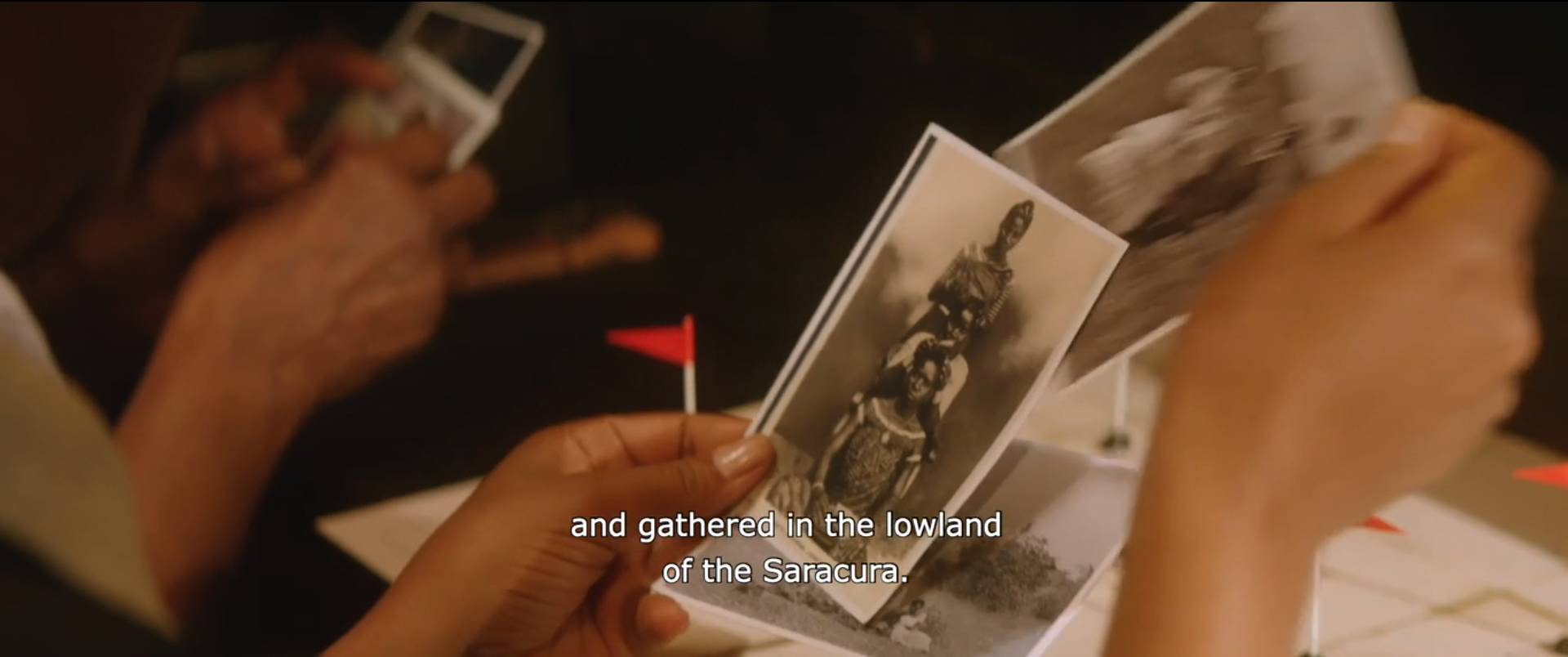

Jerusa narra: “A vovó contava que o velho Saracura era a salvação de quem buscava alimentar a liberdade. Fui batizada nas águas do Saracura. E nele, aprendi a nadar. Em suas margens, mamãe me ensinou a fotografar os pássaros de pernas finas comedores de goiaba. ” Na voz, o carinho pelo significado cosmológico e afetivo do rio. Na imagem, as águas transparentes e o peixe que nada mostram que o rio está vivo. Nos diz Makota Valdina:
“Então, existe o mundo visível, natural, onde nós habitamos, e o mundo invisível, sobrenatural, espiritual, o mundo habitado pelos ancestrais. Só que nesse nosso mundo natural que nos cerca está também o mundo sobrenatural. (…) vocês podem até não acreditar, mas tem mais gente além de nós aqui, nos ouvindo, nos olhando, tem energias aqui, conosco, interagindo. Então, todas as nossas interações ocorrem nesse mundo, nesse nosso plano natural. A gente interage com o mundo sobrenatural é nesse plano; a gente não tem que esperar para ter vida espiritual, nem estar em contato com o que é espiritual depois da morte, não.”
Makota Valdina7
A interação com o sobrenatural mediada pela relação com a natureza é parte fundamental das cosmologias negras na diáspora de origem ioruba e banto. Fonte de vida e fonte de visão. Há na casa de Jerusa um poço e uma sala de revelação fotográfica. As águas revelam imagens. Jerusa, em mais um ato instaurador, compartilha através da câmara escura da sala uma outra imagem da cidade, uma em que rios e pessoas invisíveis coabitam. Mais do que contar a própria história, Jerusa ensina Silvia a entrar em contato com o que é “para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir”, como já disse Mestra Pedrina dos Santos8.

Retorcer a imagem, colocá-la de cabeça para baixo, para ver de outra maneira. Tal proposta diz respeito também às imagens do passado: ver de outra forma o passado, cultivar o presente e construir o futuro. Diz Jerusa: “O cultivo é o melhor professor. Se você cultiva o esquecimento, alimenta a lembrança da dor para se convencer que tem que esquecer. Se cultiva a memória, pode escolher alimentar a dor ou o impulso da liberdade.”
Todo o discurso de Jerusa me parece um longo convite para que Silvia também habite o espaço-tempo da encruzilhada. O sangue que desce entre as pernas, a saia, o cabelo trançado: Silvia passa por uma espécie de iniciação em um tempo suspenso no qual Jerusa transmite o que ela precisa conhecer para seguir – no emprego, no relacionamento, na vida. Silvia abraça a encruzilhada. Para a Mestra Makota Valdina, mpámbu anzila.
“Estar em mpámbu anzila é estar numa encruzilhada, o que significa estar num ponto de tomada de decisão e isso vale para tudo. A todo momento estamos em situações de decidir o que temos que fazer, o que queremos fazer, que rumo tomar. Nem sempre as escolhas que cada um faz é a mais certa e adequada, e assim, tem-se que assumir as consequências das escolhas feitas.”
Makota Valdina9
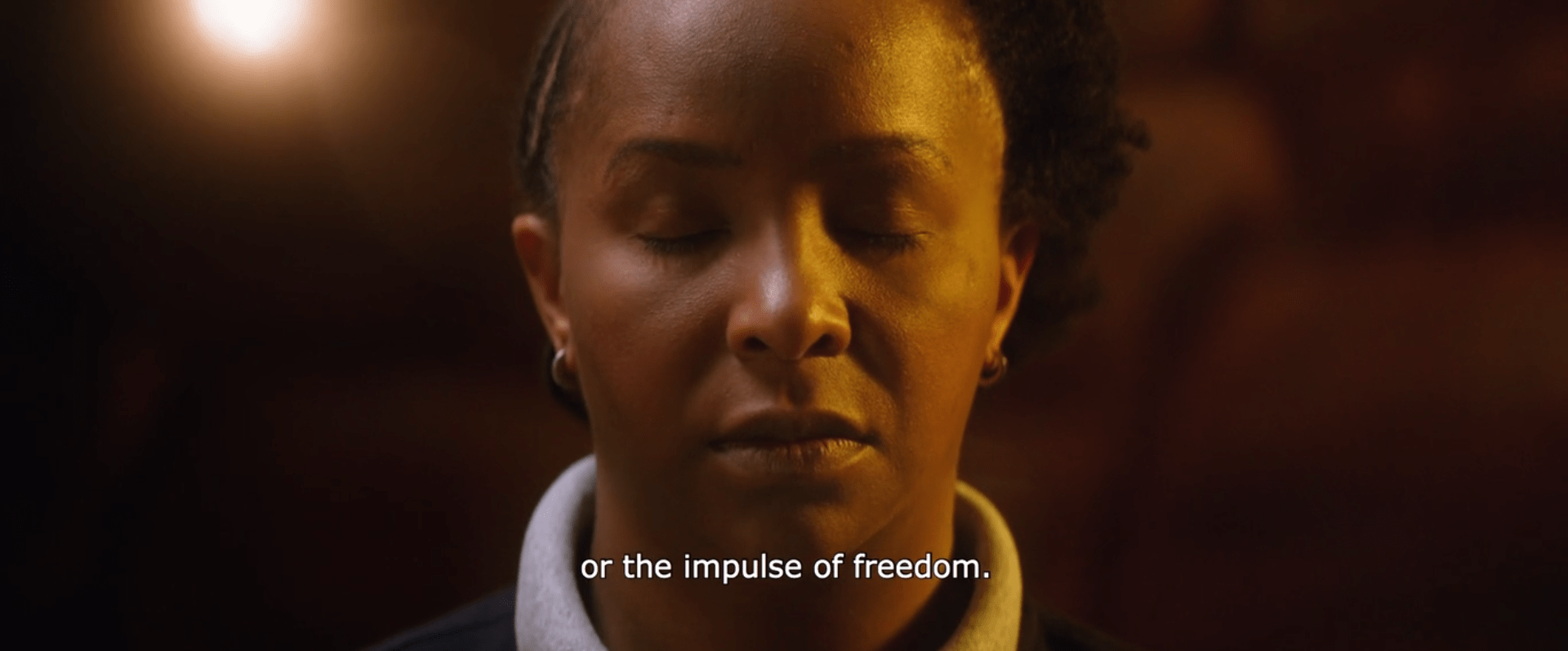
Silvia descobre, ao encontrar o quarto de Jerusa, que não foi a única que habitou aquele espaço-tempo. A coleção de fotos sobre a parede nos mostra que Jerusa fazia dos aniversários momentos em que driblava a solidão para formar laços inesperados. Movida por Exu ou mpámbu anzila, pela oralidade e pela história, Jerusa guia Silvia e espera as águas. Quando a jovem encontra o jornal com o resultado do concurso, vê que foi aprovada e corre para contar à nova mestra. Encontra o corpo de Jerusa, que repousa tranquilo, inerte. O esquecido formulário de pesquisa de sabão em pó fora preenchido. Uma foto de Jerusa com o misterioso jovem que vemos durante todo o filme é deixada, como uma carta de despedida. O dia de nascimento se torna o dia da morte – ou do renascimento para outro plano de existência. Silvia e Jerusa atuam, então, como facilitadoras dos caminhos uma da outra. Desfeito o nó, atravessada a encruzilhada, Jerusa pode seguir em paz. E eu, permeada de sentidos e sensações, posso seguir em frente, em busca de outros olhares para outros cinemas.

CINEMA DE MULHERES DA BEIRA DO RIO MADEIRA
Foto: Marcela Bonfim
11 de abril de 2021 foi o último dia da primeira edição do Guaporé Festival Internacional de cinema ambiental, festival criado este ano em Porto Velho, capital de Rondônia, via lei Aldir Blanc, uma iniciativa de Raissa Dourado. De São Francisco (EUA), onde vivo agora, acompanhei esse festival online com um entusiasmo especial. Escutei as vozes das pessoas realizadoras10, comentei no chat e assisti aos filmes locais desejando que eles fossem diferentes. A rapidez dos cortes, a temporalidade das imagens, o excesso de música sobre os sons, o desencaixe entre o ritmo dos filmes e as vidas que eles fazem vibrar em quadro me atravessaram com estranhamento. Busquei nesses filmes o tempo. Desejei um respiro antes de passar para a próxima imagem. Pedi silêncio. Estava constantemente esperando o momento fílmico em que seria possível ser tocada pelos sons ambientes que deveriam, ao meu gosto, emergir daquelas imagens.
Mas os filmes me surpreendem e me mobilizam. Sinto que esses filmes, realizados majoritariamente por mulheres, anunciam um vento bom vindo das terras do norte. O festival, um evento virtual sem nenhuma relevância no âmbito nacional, surge, talvez, como um momento histórico da invenção do cinema rondoniense porvir. E tudo isso ativa, em mim, um desejo de retorno.
Deixei Porto Velho para estudar cinema há 17 anos. Graduação, mestrado, mestrado, doutorado. A passagem decisiva de uma língua para outra língua se deu estudando o violento filme Iracema, uma transa Amazônica (1976), de Jorge Bodanzky e Orlando Senna, durante um mestrado em Paris. Foi lá que desenvolvi minha formação cinéfila e fortaleci meu amor profundo pelo cinema brasileiro. Como se estar longe me aproximasse do nosso cinema. Algo próximo do que sinto agora, diante desse cinema rondoniense ainda tão precário, mas importante de ser notado.
Passei os dias seguintes imaginando conversas a respeito dos filmes, com as cineastas de Rondônia. Eu disse mentalmente para a Roseline Mezacasa, historiadora indígena que fez um filme com o povo Makurap, que a cena da pesca do filme Kiteyã Toalet Makurap – Nosso conhecimento Makurap (2018) está entre as mais maravilhosas da história do cinema dedicadas a essa ação. Os planos em que acompanhamos cada gesto do encontro do indígena com sua pesca são tão deslumbrantes que quase consigo esquecer, por um segundo, o quão destoantes soam as músicas que foram inseridas em boa parte do filme. Na conversa imaginária com Michele Saraiva, correalizadora do curta experimental Banho de Cavalo (2016), de Michele Saraiva e Francis Madson, falei que gosto da maneira como o filme dela se desprende da razão para expressar o sentimento estarrecedor que sempre nos atravessa ao percorrer as margens do deserto crescente que é a BR-364. Como a Michele Saraiva se ocupou da montagem dos documentários da Simone Norberto (Nazaré Encantada, 2018) e da Raissa Dourado (Vozes da Memória, 2019), nossa conversa imaginária se desdobrava da intensidade dos cortes do curta dela para a elaboração dos dois documentários, um tanto convencionais, que ela ajudou a dar forma. Em meio às conversas imaginárias aconteceu uma conversa de verdade, virtual, com Marcela Bonfim. Da sala da espaçosa casa de madeira, de onde Marcela tem uma vista privilegiada do pôr-do-sol do Rio Madeira, ela me descreveu euforicamente os quatro projetos de filme em realização. Todos já tem título. Dois deles já receberam um “boneco” (uma primeira estrutura na timeline), enquanto que, para os outros dois, “estar em realização” significa que parte de suas imagens já foram extraídas do mundo.
Inspirada por essas conversas, imaginárias e reais, fabulei um espaço de troca possível através da escrita. As conversas com as realizadoras acabaram acontecendo, por meio do que a tecnologia nos permite hoje, e pontuaram os caminhos tomados neste texto. E por que escrever a respeito de cinco filmes rondonienses feitos por mulheres e somente deles? O sentido de conjugar iniciativas fílmicas tão variadas se deve ao fato de todas elas se empenharem, a seus modos, na criação de imagens e sons habitados pela escuta, pela memória, pelo encontro, pelo desejo e, por que não, pelo encantamento da beira do Rio Madeira e das vidas nas florestas. Também me interessa o fato de que os filmes são realizados por mulheres que atuam, em diversas frentes, pela consolidação de uma cena cinematográfica local. Os filmes delas dizem alguma coisa das minhas investigações, eles são pontos de partida que me ajudam a me reencontrar. E este ensaio dedicado ao cinema rondoniense feito por mulheres, surge, para mim, como uma maneira de me aproximar de casa.
*
querer ver o que já não está
(notas sobre Banho de Cavalo, de Michele Saraiva e Francis Madson,
filmado em 2014, montado e lançado em 2016,
produção independente)
Às margens do pasto e da soja, há vida. Um cavalo no chão com as patas para o ar irrompe na tela logo após uma sucessão de planos mostrando aquilo que mais se vê nas estradas do Norte. Gado, máquinas, fumaça, carreta com gigantescas toras de árvore. Em outro instante rítmico, vemos uma pessoa caminhando em círculos dentro de um curral. Ela desaparece e aparece na imagem, repetidamente, aludindo a um recomeço sem fim. A repetição e o recomeço são fenômenos importantes nesse curta experimental que foge das regras da retórica clássica para tracejar alguns prenúncios do fim do mundo. O filme emerge da experiência de uma viagem de um mês pelo interior do Estado de Rondônia. Michele Saraiva e Francis Madson, diretor teatral, percorreram os 52 municípios do Estado no âmbito de uma itinerância do SESC-RO, onde Michele S. trabalhou durante alguns anos como técnica de cultura. Na época, ela já desejava viver com o cinema e a fotografia, e costumava sair com uma câmera junto ao corpo. As imagens que compõem o filme fazem parte de um arquivo privado de cerca de cinco horas de material bruto captado nos intervalos e pausas dessa pequena expedição. O curta-metragem traz também pequenos sketches, performances encenadas em lugares que instigaram a atenção ao longo do percurso. O filme se inventou aos poucos, improvisadamente, diante das paisagens, acontecimentos, conversas que marcaram essa experiência avassaladora que é ver de perto, profundamente, “as terras ardentes e sem árvores, percorridas por máquinas em todo lugar”11, como define tão bem Davi Kopenawa.

Fig. 1 Fotogramas de Banho de Cavalo (2016), curta experimental de Michele Saraiva e Francis Madson, com trilha sonora original da banda rondoniense “Tuer Lapin”.
“O que a gente queria era trazer um pouco das sensações que a gente tinha e sentia olhando, de passagem, as cidades do interior e aqueles lugares (…) Um pouco da vastidão, da solidão, de um isolamento, de um incômodo, da devastação, da castanheira solitária que permanece no meio de um pasto. É toda essa imagem da destruição porque tudo virou pasto ou plantação de soja.”
Michele Saraiva
A história de Rondônia é essa: a modernidade chegou nas florestas pelo processo de colonização destruindo tudo, abrindo estrada, fazendo desaparecer o que está no caminho, tirando a vida por onde passou – e trazendo novas vidas também. Nas primeiras fotografias do território de Rondônia tomadas pelo estadunidense Dana Merrill, é possível ver o que já não está – cachoeiras, povos, bichos, florestas, trabalhadores do mundo. E o início do processo de destruição. Destruição que se dá hoje, como sugere o curta de Michele Saraiva e Francis Madson, de forma diferente, embora a lógica do desaparecimento continue a reinar. De umas décadas pra cá, até as pessoas que lutam pela natureza ou por condições de vida melhores desapareceram. Foi isso que me ocorreu ao me confrontar com o movimento de aparições e desaparições na cena do curral. Para Michele, que guarda um carinho especial pela cena – afirmando ser a passagem que mais gosta de seu filme –, o jogo aparição/desaparição é uma tentativa de expressar a sensação de imobilidade transmitida pelas pessoas com quem conversaram nos municípios onde vivem muitos trabalhadores rurais — a mão de obra barata dos latifundiários da região. Muitas pessoas demonstraram o desejo de sair de lá, “correr mundo” (como dizia Iracema no filme de Bodanzky e Senna), mas não viam perspectiva nenhuma para isso, comentou Michele. Estão enclausurados naquela vida de dias iguais, pobreza e pequenos prazeres. Ao descrever esses encontros, Michele acrescenta: “O filme é um fragmento de histórias ouvidas na viagem e de sensações que foram brotando ao longo do percurso”.
Era o fim da tarde e o sol sanfranciscano se punha quando Michele S. me contou que o título do seu curta-metragem experimental, Banho de Cavalo, provém de uma lenda que ela desconhecia até então. Falamos, num cara a cara virtual, sobre a importância do cinema em nossas vidas, apesar de termos crescido em lugares onde o cinema raramente chega. Michele nasceu e cresceu em Guajará-Mirim, cidade que faz fronteira com a Bolívia. Minha mãe também é originária de lá e isso favorece uma partilha de memórias e afetos entre a gente, embora nem nos conheçamos tanto. Nessa conversa, compartilhamos nosso estranhamento em relação a percepção do tempo ao deixar a temporalidade de Rondônia. Somos atravessadas por outro tempo, um tempo que escorre de outra maneira. Falamos do desencaixe intermitente que é confrontar a temporalidade das grandes metrópoles (ela vive agora São Paulo, eu vivi anos em Paris e agora em São Francisco), e como isso mexe conosco, altera nosso modo de sentir, de agir, de pensar, de habitar o mundo.
As alterações são inenarráveis, porém continuo sendo caracterizada como uma pessoa devagar. Talvez por isso queria encontrar outra temporalidade em Banho de Cavalo, desejei que os planos durassem mais e sinto muita falta dos sons ambientes ou pelo menos de alguns momentos de respiro e silêncio, sem música. Comentei isso em nossa conversa e Michele contou que de fato, no primeiro corte, ela buscou dar ao filme algo do “tempo amazônico” que sentimos. Só que suas imagens não a permitiam isso. Talvez pelo fato de terem sido tomadas num processo de deslocamento, avançando por aquelas paisagens, dentro de um automóvel, suas imagens carregam a mobilidade da experiência vivida e a sensação de aceleração. “São imagens de passagem, estávamos de passagem”, disse Michele. O intervalo de quase dois anos entre a tomada e a retomada das imagens no processo de montagem fez com que ela enxergasse no material outro filme, mais dinâmico e visceral. Michele montou Banho de Cavalo em São Paulo, remexida pelos sons e agitações da Rua Augusta, onde vive desde 2015.
Os planos que mostram o cavalo, filmados em dois tempos, na ida e na volta, deram origem ao título do filme. No trajeto de ida, eles avistaram um cavalo esparramado no chão, na beira da estrada. A cena inventada mostra o cavalo em primeiro plano e ao fundo um homem com terno branco, cuja presença faria referência à figura dos latifundiários, donos das imensas áreas de terra esquartejadas da região. No trajeto de volta, 1 mês depois, o cavalo estava no mesmo lugar, já em estado de decomposição. Diante dessa cena macabra, Michele optou por planos fechados, que apenas sugerem se tratar do mesmo animal e que permitem que o espectador construa algo sozinho a respeito dessas imagens.
No carro, ainda atônitos com os vestígios da morte animal, o motorista que os acompanhou na viagem, conhecido por todos como “Parente”, contou uma história sobre os cavalos:
“Vocês sabem como cavalo toma banho? Ele deita num lugar arenoso, se esfrega, se esfrega, se esfrega. Esse é o banho do cavalo. E se uma pessoa for no mesmo lugar e se esfregar na terra da mesma maneira que o cavalo, essa pessoa passa a ver como o cavalo, enxergar o mundo do animal. Para sair da visão do animal, a pessoa precisa tomar uma peia [quer dizer, ser acordada através da força].”
Ouvindo Michele, me veio à mente, imediatamente, uma página de A inconstância da alma selvagem, de Eduardo Viveiros de Castro, que havia rabiscado dias atrás, quando lia o capítulo Perspectivismo e multinaturalismo na América Latina. Essa lenda, que Michele desconhecia, nos coloca no terreno do pensamento indígena, evoca a noção de animismo e “perspectivismo ameríndio”. Terreno que encontrará mais fertilidade no filme de Simone Norberto, Nazaré Encantada (2018), e se materializa nas imagens de Kiteyã Toalet Makurap – Nosso conhecimento Makurap (2018).
Gostaria de comentar o plano final de Banho de Cavalo, que sintetiza muito bem a perspectiva crítica ao desenvolvimentismo do agronegócio que o filme tenta expressar. Em plano-sequência, num dos únicos momentos em que sinto o tempo escorrer na imagem, um homem nu de aparência indígena corre em uma estrada de chão, da frente para trás (em tempo invertido). Está chovendo, ele olha atônito para os lados, expressa angústia e medo, como se avistasse o céu caindo. O movimento retrógrado do homem na estrada se dá inicialmente numa cadência constante e desacelera rapidamente, o homem dá alguns passos para trás e para. A câmera se aproxima de seu corpo. Ele olha para trás, por alguns segundos, e retorna o olhar pra frente. Ficamos um tempo observando seu olhar que parece perdido no tempo, até que sua imagem desaparece aos poucos em fade-out.

Fig. 2 Fotogramas da cena final de Banho de cavalo (2016)
De costas para o futuro, o homem nu vê no passado, à sua frente, um amontoado de ruínas. Reencontro nesse plano-sequência invertido, nos gestos desse homem nu, o “Anjo da História” descrito por Walter Benjamin em seu célebre ensaio Sobre o Conceito de História. Em 1921, o filósofo alemão escreveu:
“Há um quadro de Klee que se chama Angelus Novus. Representa um anjo que parece querer afastar-se de algo que ele encara fixamente. Seus olhos estão escancarados, sua boca dilatada, suas asas abertas. O anjo da história deve ter esse aspecto. Seu rosto está dirigido para o passado. Onde nós vemos uma cadeia de acontecimentos, ele vê uma catástrofe única, que acumula incansavelmente ruína sobre ruína e as dispersa a nossos pés. Ele gostaria de deter-se para acordar os mortos e juntar os fragmentos. Mas uma tempestade sopra do paraíso e prende-se em suas asas com tanta força que ele não pode mais fechá-las. Essa tempestade o impele irresistivelmente para o futuro, ao qual ele vira as costas, enquanto o amontoado de ruínas cresce até o céu. Essa tempestade é o que chamamos progresso.”
O último plano de Banho de Cavalo desponta impressionante, revelador da tempestade. Introduz-nos a percepção mais lúcida do progresso colado ao desenvolvimentismo do agronegócio, onde paira uma ameaça sobre cada ser, sobre cada território. Dentro desse plano benjaminiano, há outra declaração política, “kopenawana”, que se desdobra das imagens, também em tom profilático: “Quando a Amazônia sucumbir à devastação desenfreada e o último xamã morrer, o céu cairá sobre todos e será o fim do mundo”.12.
*
“ele vê você mas você não vê ele, vê o bicho que tá encantado nele”
(notas sobre Nazaré Encantada de Simone Norberto
filmado em 2011, montado em 2018,
produção independente)
Nazaré Encantada (2018) é um longa-metragem que nos toca pelo ouvido, ao ouvir as histórias e causos contados pelos habitantes de Nazaré, comunidade ribeirinha situada na região do “Baixo Madeira” (cerca de 6 horas de barco de Porto Velho). Uma lição de pensamento ribeirinho que nos ensina as lendas e mitos da Amazônia pela perspectiva daqueles/as que acreditam neles. Ao longo dos relatos, entendemos que “Norato cobra grande”, “Boto rosa”, “Curupira”, “Matinta Pereira” e “Visages”, todas essas lendas, são atravessadas por um estado ou fenômeno misterioso por eles/as descrito como encantamento. No encanto do “Boto rosa”, por exemplo, as moças são encantadas pelo boto quando o encontram na beira do rio. A moça vê um boto, apesar deste ser um homem. “Ele [o homem] vê você mas você não vê ele, vê o bicho que tá encantado nele”, explica um dos entrevistados. Esta é, para Simone Norberto, a realizadora do filme, a melhor definição do encantar.
“Encantar a Palavra”13, poderíamos resumir assim o processo que leva Simone a realização de um filme. Nazaré Encantada deriva de uma reportagem da Rede Amazônica (afiliada da Rede Globo em Rondônia), para a qual Simone, na época repórter, esteve em Nazaré a fim de fazer uma matéria sobre um grupo musical composto por jovens e crianças da comunidade, chamado “Minhas Raízes”. O processo de feitura do documentário se inicia tempos depois, distante do modo de produção televisivo, junto à pesquisa de mestrado realizada por Simone entre 2010 e 2012, na qual a jornalista propõe uma análise sociocultural dos mitos e lendas da comunidade ribeirinha à luz das teorias pós-coloniais (Franz Fanon, Albert Memmi, Edward Said).14
Tendo em mente a maneira como os entrevistados aparecem em quadro, pouco surpreende saber que, mais uma vez na história do cinema brasileiro, a ideia de fazer um filme sobre elementos culturais de uma comunidade tradicional surgiu de uma reportagem jornalística (foi o caso de Aruanda, por exemplo). A esta linhagem, pode-se acrescentar também que Nazaré Encantada não só se inscreve na tradição do cinema de entrevista como se aproxima, em certa medida, da empreitada da “Caravana Farkas”. No âmbito da “Caravana”, lembremos, o grupo de cineastas-intelectuais saindo de São Paulo para filmar as tradições das comunidades do “Brasil profundo” foram severamente taxados por impor, em seus filmes, uma visão externa, expositiva e sociológica das tradições populares nordestinas. No caso de Nazaré Encantada, trata-se de uma iniciativa fílmica de uma cineasta-intelectual da cidade interessada em escutar e historicizar a tradição oral dos ribeirinhos de seu território. Se velhas associações merecem realce, merecem também ponderações. E se algo forte da forma jornalística permanece em Nazaré Encantada, a energia narrativa do cinema documentário se afirma e se institui. Talvez porque antes de se colocar à escuta dos moradores de Nazaré, a jornalista-documentarista-cineclubista já havia realizado doze filmes de não-ficção, curtas e médias documentários e experimentais que ela denomina “vídeo-poemas”.15 Quando Simone Norberto praticou, pela primeira vez, um cinema de entrevista, ela carregava aprendizados de experiências cinematográficas das mais variadas.16
Para fazer o filme, Simone passou um mês vivendo na comunidade, convivendo e conversando com seus moradores, experiência que lhe permitiu “criar uma relação de confiança, indispensável”, como ela destacou algumas vezes ao longo das duas conversas que tivemos para a elaboração desse texto. A grande referência de Simone é o cinema de Eduardo Coutinho. Ela se interessa pela maneira na qual o cineasta “mesmo interferindo, sempre se coloca com muita humildade para ouvir o outro”. Simone preza pelo “respeito pelo outro” na “hora de documentar”. Essa postura cuidadosa diante de sujeites entrevistades já caracterizava seu trabalho enquanto repórter jornalística (Simone atuou como repórter, apresentadora, editora e pauteira da Rede Amazônica por quatorze anos) e se reativa a cada processo de Nazaré Encantada, da elaboração ao momento de exibição. Trata-se de, convivendo e conversando com os moradores de Nazaré, adotar um método de filmagem em que se tenta “escutar ao máximo, não levar uma ideia pré-estabelecida do que ‘tirar’ da conversa, esforçar-se para deixar a história tomar um rumo, por si só”. Essa abertura resulta em um filme interseccional, que atravessa as lendas locais para desembocar em questões sociopolíticas, e vice-versa.

Fig. 3 Fotogramas de Nazaré Encantada (2018), de Simone Norberto, extraídos de diferentes passagens do filme.
A montagem de Nazaré Encantada é intensamente dinâmica, pautada por planos relativamente curtos. Solução formal que também o distancia do cinema da oralidade, este que favorece a observação das expressões e gestos de sujeites filmades, e o aproxima da reportagem televisiva. A impressão que ficou, em mim, ao sair do filme, é que o procedimento de montagem, agenciado numa lógica de fragmentação dos depoimentos para serem organizados em função de uma temática, dissolveu a possibilidade de sentirmos as potências do encontro entre quem filma e os sujeites filmades e algo de mágico da expressão oral – como ocorre no cinema de Coutinho. Em relação ao campo sonoro, Simone optou por não incluir sua voz ou narração, no intuito de deixar que os/as/es sujeites filmades contem sua própria história. “Eu queria que eles falassem”, escolha que Simone define como uma “postura pós-colonial”.
Para Simone, há uma responsabilidade envolvida no processo de fazer e oferecer imagens de outras individualidades. A esse respeito, ela me contou que remontou um trecho do filme após a “pré-estreia” em Nazaré, por ter percebido um desconforto da plateia que enchia a arena da comunidade diante de uma passagem do filme. Um desconforto causado, digamos, pelo encontro de epistemologias. No trecho excluído, o entrevistado comenta que comadre “tal” virou porco e o compadre “tal” virou cavalo. O que significa, naquele território, que comadre e compadre, comprometidos em seus respectivos casamentos, haviam tido relações sexuais. Para Simone, contudo, tratava-se apenas de mais uma das diversas metamorfoses de humano e não-humano que atravessam os mitos e lendas do território ao qual o filme se dedica.
Em nossa conversa, Simone me explicou que as lendas amazônicas são vestígios do “encontro colonial”, frutos conjecturais desse momento decisivo em que os mitos fundadores e a cosmologia indígena se deparam com a crença branca. “Então, há dois níveis: o mito é mais profundo, enquanto que a lenda, oriunda do encontro do indígena com o branco, adquire uma linearidade e reflete a questão da apropriação cultural. (…) A lenda da curupira é exemplar nesse sentido: a curupira é uma protetora da Amazônia. Mas por que ela precisa proteger a floresta?” Nessa pergunta, Nazaré encantada encontra Banho de cavalo. Uma constelação envolvendo esses filmes absolutamente distintos se compõe, meio que naturalmente.
*
ver e aprender com outros territórios de conhecimento
(notas sobre Kiteyã Toalet Makurap – Nosso conhecimento Makurap,
de Roseline Mezacasa com o povo Makurap
filmado em 2017, lançado em 2018
realizado por meio da primeira e única edição do Prêmio Lídio Sohn)
Em meados de 2013, Roseline Mezacasa, professora e pesquisadora que atua no campo da História Indígena, começou a frequentar a aldeia do povo Makurap, situada no interior da Terra Indígena Rio Branco, a 575 km de Porto Velho. Roseline chegou na aldeia pela primeira vez a convite da anciã Juraci Menkaika Makurap. Foi também um convite de Juraci, ou melhor, um pedido, que a motivou a encontrar meios para realizar um documentário com o povo Makurap. Roseline me contou, com a voz emocionada, os detalhes desse encontro, de tudo que ela viveu e aprendeu com os Makurap ao longo dos anos de pesquisa para sua tese de doutorado que também foi dedicada a esse povo – nomeada Por histórias indígenas: o povo Makurap e o ocupar seringalista na Amazônia.17 O filme é, portanto, para a realizadora, mais uma maneira de contar a história e a vida desse povo indígena. Roseline percebe o cinema como “uma estratégia para pensar e comunicar histórias”, mas uma estratégia absolutamente potente, pois “usar um filme em sala de aula impacta muitos mais os alunos, sensivelmente, do que ficar lá a tarde inteira falando sobre esse povo”. Trata-se de tocar, sensibilizar, afetar, estimular o pensamento com o coração, através do cinema.
Em nossa conversa a respeito de Kiteyã Toalet Makurap – Nosso conhecimento Makurap, Roseline destacou que a possibilidade de um documentário surgiu das experiências vividas com os Makurap. “Eles queriam que as outras gerações tivessem acesso àquelas histórias”. Os processos descritos no filme foram decididos coletivamente. “Porque tem temas que eles não queriam. Tem coisas que querem mostrar e outras que não querem”. Os povos indígenas da região convivem, desde a chegada dos brancos, com a ameaça da injustiça territorial e a cobiça fundiária. Certamente essa luta constante pela proteção de seu território poderia estar no filme, mas eles preferiram fazer um filme permeado de “coisas que eles fazem e que são extremamente importantes para vida, para o cotidiano, para sociabilidade, para a questão territorial”. O filme é atravessado pelo comprometimento em registrar aspectos do modo de vida tradicional nos Makurap para que as próximas gerações possam acessar mas, também, para que esses saberes circulem fora do território, permitindo que outros indígenas e não-indígenas possam conhecer um pouco da vida Makurap.

Fig. 4 Fotograma de Kiteyã Toalet Makurap – Nosso conhecimento Makurap (2018), extraído de cena em que se vê a caminhada das mulheres pelo território para a coleta do tucum, planta que serve de matéria-prima para a produção do marico. Faz parte da caminhada feminina pelo território a subida de uma serra, onde existe maior incidência da planta.
Kiteyã Toalet Makurap – Nosso conhecimento Makurap segue o propósito do acolhimento de outros saberes, saberes que são governados por outros princípios, e nos seus 30 minutos de duração se torna uma oportunidade rara para testemunhar aspectos do modo de existência do povo Makurap. Logo nos letreiros de abertura, o filme nos ensina que
“Os Makurap são indígenas do tronco linguístico Tupi e fazem parte do complexo interétnico da margem direita do Guaporé, nas cabeceiras do Rio Branco no Estado de Rondônia. No início do século XX tiveram seu território invadido por seringais com imposição do regime de aviamento e a incidência de epidemias avassaladoras. Vivem, em grande maioria, na área demarcada das Terras Indígenas Rio Branco e Rio Guaporé, numa população de aproximadamente 600 Makurap”.
Letreiros de abertura de Kiteyã Toalet Makurap – Nosso conhecimento Makurap
Dividido em 6 blocos, o filme se compõe de um rigoroso trabalho de documentação que acompanha em detalhes o processo de produção do marico18, da pesca com arco e flecha, da pintura de jenipapo, da preparação do gonguinho (bichinho de terra comestível) e da chicha (bebida à base de mandioca). É interessante notar que os processos documentados, com exceção da pesca, são protagonizados por mulheres. À esse respeito, Roseline pontua que o fato dela ser uma mulher pesquisadora fez com que ela fosse “abraçada pelas mulheres”:
Por muitos anos, os antropólogos eram homens e conversavam com homens. Então há muitos estudos de um povo X, que acabou se tornando a história do povo X. Enquanto que conversando com as mulheres, a gente vai acessando universos femininos das mulheres, que muitas vezes um pesquisador homem não vai acessar. A relação que eu criei lá dentro, por conta de ser acolhida pela anciã Juraci, é muito ligada à experiência das mulheres. A produção do marico, por exemplo, é muito um processo das mulheres.
Roseline Mezacasa
Gostaria de fechar esse fragmento do texto destacando dois pontos que permitem evocar algo da minha experiência com o filme. Em primeiro lugar a bonita sequência de abertura em que conhecemos a história do começo do mundo na perspectiva Makurap, contada pela anciã Juraci, transcrita e traduzida para o português nas legendas do filme. Essa oportunidade de ouvir um discurso em língua originária e ler a sua tradução, que outros filmes de cineastas indígenas ou não-indígenas vêm nos oferecendo, merece destaque uma vez que, como sugere o filme logo na sequência seguinte, a preservação da língua Makurap é um dos movimentos importantes no processo de transmissão de saberes entre gerações. O filme se abre com a grandiosidade das palavras da anciã e se fecha com elas, momento em que descobrimos sua imagem.
Vez ou outra, mais uma vez, deu vontade de estar diante de imagens que duram e de sentir o tempo se construir na sequência desses processos calmamente vividos. É somente na sequência da pesca que encontramos a ressonância do momento filmado. A câmera está em fase com os gestos discretos e ciosos do homem. Com precisa e intensa atenção de cada minievento, o cinema se guia mais pelo tato do que pelo olhar. Com essas imagens, deu vontade de poder desprender o olhar para reencontrar o som, ouvir o canto do rio, o canto dos passarinhos, o canto dos peixes – inaudíveis pela presença quase onipresente de música.
São essas questões que me fizeram desejar que esse filme fosse um pouco diferente. A dificuldade de recebê-lo tal como ele é colocou uma dúvida, e com ela uma esperança: se desejo outro filme, seria só porque esse olhar que se debruça sobre os saberes Makurap é muito domesticado pela retórica documentária clássica? Ou seria o cinema indígena, de cineastas indígenas, que já deslocou suficientemente a maneira como sinto as imagens?
*
a memória coletiva que se vê e as memórias que não cabem num filme
(notas sobre Vozes da memória de Raissa Dourado
filmado em 2018, lançado em 2019
realizado por meio da primeira e única edição do Prêmio Lídio Sohn)
Vozes da memória (2019) é um filme importante na cinematografia rondoniense em plena elaboração.19. O filme toca o coração daqueles que (re)conhecem as histórias e os lugares rememorados pelos sujeites entrevistades, arranca sorrisos e lágrimas de todes que constituíram um vínculo com Porto Velho, informa aqueles espectadores que nada sabem da vida e da geografia das periferias do Brasil. Seu forte é esse e já é um feito e tanto, considerando a escassez de produções audiovisuais na região.
Com esse documentário, Raissa Dourado se propõe a assumir a impossível tarefa de definir num só filme o que seria a identidade cultural de uma cidade, Porto Velho, recorrendo a procedimentos estéticos que aproximam o cinema da reportagem televisiva (o uso da entrevista a serviço da corroboração de uma tese pré-concebida, a ilustração do passado por meio de imagens de arquivo, pessoas servindo de matéria-prima à construção de tipos – o músico e o poeta local, a artista de rua, o cineasta das antigas, a presença indígena). Nesse sentido, como muitos documentários convencionais dedicados a condensar aspectos culturais, o filme convoca o universo crítico de ressalvas feitas aos filmes da dita “Caravana Farkas” e àquilo que Jean-Claude Bernardet nomeou, há quase vinte anos, o “feijão com arroz do documentário cinematográfico e televisivo” (em texto chamado “A entrevista”).20.
Interessa pouco me deter nesses problemas aqui, porém parece-me útil destacar um deles, relacionado a tentativa declarada de totalização das coisas. A metodologia discursiva totalizante, esta que conduz a associação de um depoimento ao outro e estrutura o filme sob o signo da adição, visa, na maioria das vezes, constituir um todo harmônico e homogêneo (embora reúna muitas vozes). É precisamente assim que Vozes da Memória se oferece e, como se a história fosse um rio tranquilo, o filme sugere a elaboração de uma memória única e unívoca.
Só que, é sempre bom lembrar, a história de um território, assim como a memória de seus habitantes, é complexa, múltipla, fragmentária. Há sempre uma história deslembrada. Há sempre uma memória que falta. Uma delas se anuncia no filme, aliás, em depoimento da militante indígena Márcia Mura. Em fragmentos de sua fala recortados pela montagem, Mura pontua a necessidade de falarmos mais da percepção dos indígenas em relação a construção da estrada de ferro que provocou a criação da cidade de Porto Velho (E.F.M.M) – construção e criação que significaram, a um só tempo, a destruição do modo de vida indígena naquele mesmo território. “Não tem como a gente falar das comunidades que estão às margens do Rio Madeira, sem construir essa memória indígena”, diz Márcia Mura. Ao invés de puxar o gancho e desenvolver com a voz de Márcia, minimamente, essa questão crucial para a história da colonização brasileira, o filme salta rapidamente de suas palavras para adicionar mais uma discussão em torno da memória da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Ouvimos então um antigo trabalhador da E.F.M.M demandar a necessidade de revitalização dos trilhos para que o trem volte a circular novamente como atividade turística. Em seguida, retornamos a Márcia Mura, cujo relato evidencia, agora, a existência de uma disputa de memória entre os que vieram trabalhar na ferrovia.
“Fala-se muito dos Barbadianos, não que eu ache que não deva falar. Tem que falar sim! Mas não só deles, né? Cadê as outras histórias, as outras memórias do Bairro Triângulo? Como [as histórias] das comunidades dos seringais, como das mulheres que lavavam roupa dos coronéis, dos médicos, militares, né? Porque não tinha outra possibilidade de emprego pra elas. Quem são essas mulheres vindas dos seringais, as mulheres indígenas. Então tem essa memória afetiva, também. Mas depois que eu fui construindo esse processo de consciência crítica eu percebi que a ferrovia foi também essa destruição, e essa representação da morte para os indígenas e para os trabalhadores.”
Márcia Mura
Esse trecho é exemplar de como o excesso de montagem pela perspectiva da totalização pode enfraquecer as vozes dos(as/es) sujeitos(as/es) entrevistados(as/es). Num primeiro momento, logo após o corte, a impressão inicial é que o filme desviou, engoliu a seco, aquela discussão. Não é o caso, já que reencontramos a entrevistada alguns planos depois. Porém a dissolução de seu depoimento em fragmentos, aqui e acolá, acaba por esmagar a singularidade e força da argumentação de Márcia Mura. Muitas vezes, como já nos demonstraram tantos filmes e cineastas, deixar a voz ecoar longamente, do início ao fim do depoimento, significa acentuar por meio das formas aquilo que é dito pela pessoa filmada.
Na conversa com Raissa, falamos bastante a respeito dessas questões ligadas ao modo de enunciação, tanto em relação à pretendida objetividade quanto à maneira na qual o filme organiza o seu discurso. Ela pontuou que num primeiro momento, durante a filmagem, estava seduzida pela ideia de um filme que daria conta de abarcar diferentes percepções da cidade – do centro, da periferia, dos povos originários, dos imigrantes –, em suas respectivas temporalidades – jovens e velhos. Só que no processo ela percebeu que não dava pra fazer esse filme idealizado e, na urgência da montagem, ficou assim, um “filme mal resolvido”, mas que contempla muitas coisas que ela desejava mostrar. Comentei que essa inquietação em torno da identidade cultural de Porto Velho já foi minha. Há 11 anos, percorri a cidade com uma pequena câmera DV, acompanhada de duas amigas incríveis – Nina Kopko e Carla Italiano –, para fazer um trabalho de fim de curso de Cinema, intitulado Rumo ao norte. Esse documentário teve como tema a trajetória de imigrantes do Nordeste e do Sul que se instalaram em Porto Velho e contribuíram para constituir a “identidade cultural” da cidade – muitas vezes a despeito dos povos originários que lá estavam. Lembro que um dos inúmeros problemas desse filme de estudante era justamente o lugar que a entrevista havia tomado. Na época, minha maior inspiração era o cinema de entrevistas “à la Johan Van der Keuken”. Porém o resultado fílmico ficou muito distante dos trabalhos do cineasta holandês, e não demorei a perceber que a causa disso foi a ausência da dimensão subjetiva que caracteriza o cinema de Keuken e todas as imagens por ele filmadas.
Tenho impressão que o excesso de objetividade documentária que acabei por impor àquele exercício documentário, e que causou problema, é o mesmo que emerge de Vozes da Memória. Como numa reportagem televisiva, o filme não nos permite saber quem fala por trás daquele discurso elaborado pela montagem, tampouco quem fala quando alguém toma a palavra dentro dos planos; quer dizer, as pessoas entrevistadas não são identificadas. Obviamente, a falta de identificação afeta o sentido e as sensações que nós, espectadores, temos ao receber os relatos dos entrevistados. Num dos momentos mais interessantes do filme, dedicado às atividades de cinema no Estado, essa vontade de saber quem fala é acentuada. Após uma passagem divertida retomando fragmentos de um outro documentário que também abraçou as expressões culturais da capital rondoniense como tema, o média-metragem de Beto Bertagna chamado Porto das esperanças (1991), surge na tela um homem falando a respeito de um Cinema com projeções em Super 8 que ele montou num acampamento de garimpeiros no Rio Madeira.
Rapaz, vamos montar um cinema no garimpo. Aí eu contei a história que eu tinha visto um Super 8 tá tá tá tá tá tá tá…aí nós arrumamos dinheiro emprestado e fomos comprar uma máquina, um projetor de filmes em Manaus. (…) Teve um filme que fez um sucesso! À meia noite encarnarei no teu cadáver. Era um filme do Zé do Caixão. (…)
Personagem de Vozes da Memória
Foi conversando com a cineasta que descobri que o projecionista garimpeiro é o pai da realizadora, cujas experiências de cinema influenciaram fortemente o caminho que ela acabou por trilhar. Mas, no filme, nada nos indica essa relação entre quem filma e quem é filmado.
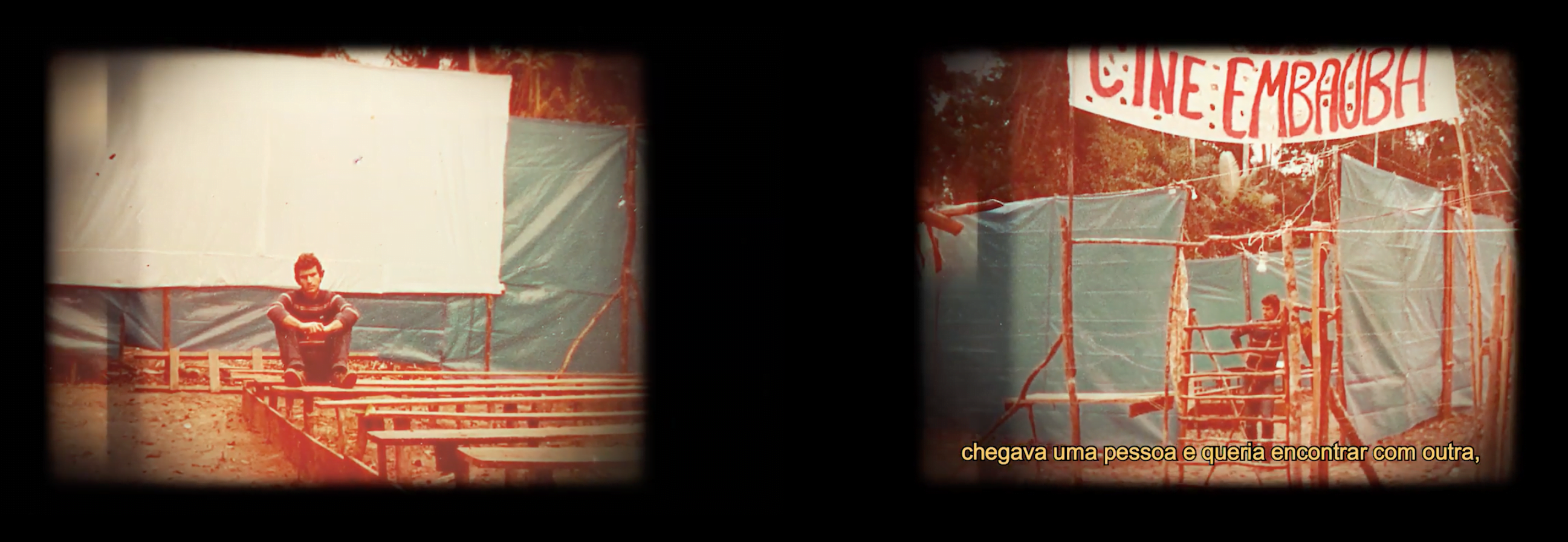
Fig. 5 Fotografias retomadas no filme com um efeito audiovisual de simulação do Super 8. As fotografias atestam a possibilidade do cinema se espalhar pelos misteriosos buracos de Rondônia. Inclusive nos buracos ilegais, como os garimpos.
São relatos como esse do projecionista garimpeiro, absolutamente inusitados, que nos fazem lembrar como podem ser preciosas as iniciativas fílmicas que se dedicam a testemunhar a história cultural de um lugar. Fico pensando que uma cena cinematográfica rondoniense já existe, há tempos, só que eu não sabia.
*
o que nós vemos, o que nos olha
(notas finais, sobre um filme porvir de Marcela Bonfim)
Nas conversas mais recentes que tive com Marcela Bonfim – cujo filme Jonathan e Gabriel está em processo de montagem – , sempre me surpreendo com seu fulgor ao reafirmar, eloquentemente, que a vida está acima da arte [leia-se: a vida importa mais do que a arte, o processo mais do que o objeto artístico, os problemas sociopolíticos mais do que a “bolha” do cinema e da arte]. Marcela tem muita clareza que a fotografia, assim como o cinema, sempre foram companheiros de processos de destruição e colonização, e é necessário subverter essa lógica. Subversão que ela pratica em atividades das mais diversas: das brincadeiras de cinema com as crianças da vizinhança à elaboração de projetos fotográficos ambiciosos. Marcela é ativista cultural, como ela gosta de se descrever, e ficou conhecida pelo Brasil com seu projeto fotográfico Reconhecendo a Amazônia Negra. Em Rondônia, ela se faz conhecer agora por sua nova aposta na música, através da Gig Soul Preta, banda formada com colegas músicos portovelhenses. Ouvindo-a cantar suas próprias composições, que reverberam traços da sua subjetividade, concluí que Marcela é sobretudo uma poeta civil. A poesia está presente em todas as formas de expressão nas quais ela se aventura. Com o cinema, trata-se de uma aventura em elaboração. À pergunta “que tipo de cinema você gostaria de fazer?”, Marcela me respondeu:
Quero fazer um cinema possível. E a forma mais possível é de filmar como as coisas acontecem. Não sou eu que estou fazendo as coisas acontecerem. As coisas que eu filmo já estão acontecendo. Eu fico lá, observando esses movimentos incríveis que acontecem na minha frente. (…) Então as coisas que eu filmo acontecem independente de mim, independente de eu estar lá. É a vida. (…) Às vezes eu crio umas situações, mas eu não tenho controle sobre elas.
Marcela Bonfim
Ao ver o corte inicial do filme porvir (provisoriamente intitulado Jonathan e Gabriel), encontrei um cinema como captação de forças. Com esse filme em que a vida das crianças filmadas pulsa em toda a sua potência, algo novo vai despontar na pequena constelação do cinema rondoniense realizado por mulheres. Um filme rondoniense do acaso, da vibração, do voluntariamente improvisado está ganhando forma neste instante.

Fig. 6 Fotograma de filme de Marcela Bonfim em processo de montagem. O filme acompanha as brincadeiras de dois irmãos, Jonathan e Gabriel, pelo território da Reserva Extrativista Pacáas Novos, situada no município de Guajará-Mirim, no Estado de Rondônia.
Algo da prática cinematográfica da Marcela, dialoga com uma observação da cineasta Dácia Ibiapina, compartilhada durante o curso “Essa terra é a nossa terra”, organizado pelo Forum.doc (maio 2021). Dácia comentou que “é muito importante construir um modo de produção, inventar o seu modo. Não é o orçamento que faz o filme, mas você se sentir à vontade com certo modo de produção”. Numa localidade como Rondônia, em que os investimentos em cultura e arte são raríssimos, essa observação de Dácia se expande a um horizonte possível.
Conversando com Marcela, lembrei que o cinema pode ser só um pretexto para estar junto, entrar em relação, encontrar outros mundos. Assim como a experiência de escrita deste texto foi para mim. Um texto do acaso, da vibração; voluntariamente improvisado. Talvez seja um texto precipitado. Talvez esta movimentação de um cinema de mulheres da beira do Rio Madeira que anuncio cesse por aqui. Pouco importa. Ao menos esse texto nos ajudará a lembrar que ela aconteceu. Digo isso porque já aprendemos, com a história do cinema brasileiro que foi escrita, a constante ameaça da gente, realizadoras mulheres, “sumir”.
E ao mesmo tempo em que escrevo essas linhas, eu me digo: “Esse cinema meio desajeitado, inventando seus modos de produção, tateando suas formas, ele é uma promessa. Sem pressa, fazendo pressão para que Editais de Fomento ao Audiovisual aconteçam e se perpetuem, esse cinema rondoniense se expandirá; e acontecerá, deixando muitos vestígios”.
*
Veja também: Programa de Formação Transversal em Saberes Tradicionais – UFMG
Referências
ARAÚJO, Juliano. “Documentário rondoniense: filmes, realizadores e contextos de produção (1997-2013)”, Revista C-Legenda, no 38/39, 2020, p.158-171.
BERNARDET, Jean-Claude. Cineastas e imagens do povo. São Paulo: Companhia das Letras, 2013.
Bruce Albert e Davi Kopenawa, A queda do Céu: Palavras de um Xamã Yanomami, trad. Beatriz Perrone-Moisés, São Paulo: Companhia das Letras, 2016.
MAYA, Paulo. “’Como suas palavras são lindas!’ – dedicado à memória do rezador Valdomiro Flores, indígena Ava do Coração da Terra – Ava Yvi Pyte”. Belo Horizonte: Catálogo forum.doc, 2020.
MEZACASA, Roseline. Por histórias indígenas: o povo Makurap e o ocupar seringalista na Amazônia. Tese defendida no Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal da Santa Catarina, 2021.
MEZACASA, Roseline “As Mulheres Makurap e o saber-fazer do Marico”. Revista Brasileira de Lingústica Antropológica, Volume 10, Número 1, Julho de 2018, p. p.23-45.
NORBERTO, Simone. Mito e identidade em Nazaré (RO) – Uma leituras pós-colonial das manifestações culturais de uma comunidade ribeirinha. Porto Velho: Temática Editora, 2020.
IMAGINAR O PRAZER E OS FILMES QUE NÃO FIZ
Filmes são coisas a serem feitas, e eu, que já construí artefatos muito concretos para filmes – entre casas de senhoras solitárias, abajures para adolescentes sonhadoras e naves espaciais para guerreiros intergalácticos – quando me vejo diante da possibilidade de realizar um filme a partir do zero começo a me debater em meio a ideias profundamente etéreas. Meio fio, meu primeiro curta, nasceu da minha vontade de filmar a solidão feminina, da minha experiência com a cidade e da minha profunda crença de que elas podem, por meio do cinema, se tornar uma só. Meio fio era só um nome dado ao bloco de concreto que delimita a rua e a calçada. E era também o lugar onde Karine e Flávia se sentavam para conversar. Ao mesmo tempo, o que é a metade de um fio se não outro fio? É a metade de algo que sempre se torna um. E isso pra mim tinha a ver com a solidão.
Tem muita coisa que acontece enquanto se faz um filme e também depois que ele passa a existir na sala de cinema. Pra mim era um filme sobre a solidão e eu queria que as pessoas vissem na personagem uma mulher autônoma. Mas também, esse espaço da solidão era o espaço da fantasia, onde se rememora e se projeta a relação com o outro. Quando o filme começou a circular, eu conversava com muita gente que se identificava e se emocionava com o sentimento que expusemos ali. Ouvi muitas vezes que era um filme “voltado para o público feminino”. Mas percebi também que as fantasias românticas narradas pela personagem provocavam riso em algumas pessoas. Isso aconteceu pela primeira vez quando passei o filme em uma escola, e pensei, bom, adolescente sempre ri de nervoso. Mas aí eu comecei a ver gente adulta rindo e pensei: é, tem alguma coisa aí.
Eu penso muito nessa ambiguidade que eu via na reação das pessoas ao se deparar com aquela intimidade feminina exposta na forma dos relatos de Karine Bahn, e é um pouco sobre isso que quero escrever aqui. Acho que há algo que surge dessa relação que a gente estabelece, enquanto espectadores, com essas imagens que desconcertam, que fazem a gente sentir um pouco de vergonha, ou que chacoalham com um certo “gosto” do que é o bom cinema. Acho que é um pouco o que os filmes de Douglas Sirk provocaram e ainda provocam. Ou o que talvez filmes como Inferninho e Sol Alegria colocam hoje, de maneiras muito diferentes. Ou até o que criou uma certa resistência, por exemplo, em torno da pornochanchada brasileira.
Então, uma forma de falar sobre isso com vocês é puxar impressões sobre filmes que assisti, alguns mais de uma vez, e que de alguma forma falam dessa intimidade feminina e provocam as nossas percepções sobre ela. Mas é bom falar que esse não é um texto que pretende fazer análises formais ou estabelecer coerências entre um corpo de filmes. Não tenho essa pretensão crítica, e assumo até uma certa dificuldade em fazê-lo. Quero falar sobre os filmes a partir da ótica de quem os assiste porque quer fazê-los. Falar como se conversa sobre eles na mesa de bar, na saída do cinema, nessa coisa que também faz parte da experiência coletiva que é o cinema. Experiência da qual hoje estamos apartadas. Não só pela impossibilidade de entrar e sair da sala de cinema, mas também porque tudo indica que o contexto geral de produção e de fruição do cinema está sendo desenhado para que essa experiência definhe.
Eu penso que vivemos uma guerra contra a imaginação. Qualquer experiência de invenção de mundos que enfrente o atual estado de coisas está sendo deliberadamente polida. Tomando isso para o cinema, eu acho que podemos pensar na imaginação tanto como aquela que dá substância ao filme, que provoca o seu estado de espírito; como aquela presente na experiência de se estar acompanhada do filme na sala de cinema, com ele projetado de forma que a gente se sinta miúda diante da tela, permitindo que nossa mente produza derivação e prazer.
Atravessada pela necessidade de fazer filmes, e ao mesmo tempo, pela completa impossibilidade que se coloca neste momento, tanto de fazê-los como de dividir espaço com eles na sala de cinema, escrevo pela necessidade de colocar essas ideias para circularem. Pode parecer, mas isso aqui não é um texto de lamentações. Eu quero devanear sobre filmes que não fiz, cogitando que pode interessar a alguém dividir isso comigo, e desejando ferozmente que esses filmes venham a existir.
A pergunta que eu me faço há algum tempo é de como a capacidade de invenção do cinema pode provocar a nossa imaginação acerca daquela intimidade feminina. Se a gente pensa na intimidade como algo que está guardado, trata-se de trazer para a tela algo que não é visível. Essa intimidade, esse universo oculto que me interessa, guardado como segredos em um diário, é um universo povoado pelo desejo, pela fantasia, pela sexualidade e, simultaneamente, por todas as forças que tentam mantê-los ocultos. O que me interessa é buscar como esse universo sensível e invisível vai tornar visíveis nos filmes as múltiplas experiências do prazer feminino.
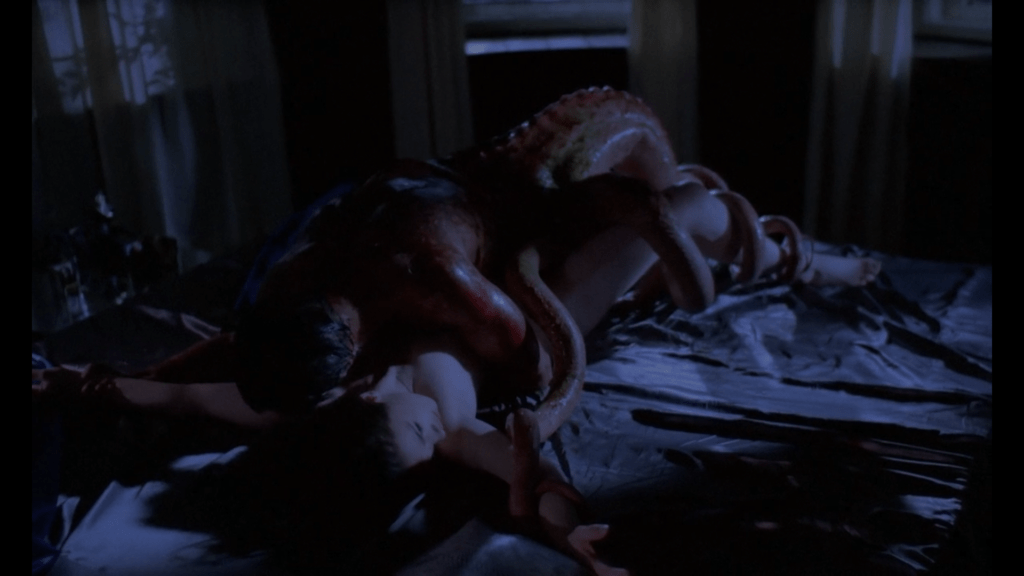
Acho que um começo pode ser perguntar como agem essas forças que procuram manter oculta essa experiência do prazer, e porque ela em si pode ser tão ameaçadora. Em Possessão (1981), eu vejo essa ameaça no olhar que Mark (Sam Neill) lança para Anna (Isabelle Adjani) na cena em que ela se entrelaça ao monstro-amante.21 Embora o filme aparentemente diga o contrário, o conflito de Anna para mim não é com os dois homens entre os quais ela está dividida – o marido e o amante – mas sim com o monstro que a possui. “Eu não posso” ela repete, ao mesmo tempo que diz “preciso ir”, enquanto vai ao encontro do monstro, apesar do muro, apesar dos carros que despencam à sua frente. Ele a espera, ela cuida dele. Ele a possui, ao passo que a enlouquece, mantendo-a dividida entre a fé e o acaso, “essas duas irmãs”. Na cena a que me refiro, Anna está envolvida pelos diversos tentáculos do monstro, ele a penetra, ela olha para Mark e diz: “quase…. quase, quase, quase”. Mark, aterrorizado, apenas diz “sim” e foge, incapaz de lidar com aquela cena. Depois, ele quer salvá-la, mas também quer matá-la e quer morrer. O monstro que possui Anna é a sua própria experiência do prazer, inapreensível para os dois homens com os quais ela se relaciona e, principalmente, para ela mesma.

Essa experiência do prazer tornado horror eu vejo também em Trouble Every Day (2001)22 com esse título que sugere a persistência de um problema dia após dia. O desejo pulsante em Cloé (Béatrice Dalle) é uma doença. Tanto ela quanto Shane (Vincent Gallo), seu amante do passado, são acometidos da mesma doença, aparentemente incurável: a experiência do prazer sexual leva-os a canibalizar seus parceiros até a morte. Shane é atormentado pela culpa, e nele eu vejo uma racionalidade que não vejo em Cloé. Enquanto Shane resiste ao seu desejo pois sabe que ceder a ele significa matar sua esposa June (Tricia Vessey), o desejo de Cloé é visceralmente mais potente e incontrolado, atuando como uma força centrípeta e fatal. Quando finalmente encontra Cloé, Shane a mata e, neste ato, me convenceu de que ele a via como provocadora de sua condição. A cena imediatamente seguinte a que Cloé arde em chamas é a de Shane transando com June, como se acreditasse na sua cura a partir da morte de Cloé.
Existe nesses dois filmes um ímpeto de exterminar aquilo que dá prazer e, simultaneamente, atormenta. Pode ser uma potencialização desse desconcerto que causa a experiência visível do prazer feminino: uma experiência tornada monstro. Na construção do filme de horror, é preciso criar um monstro no qual a gente acredite, e para acreditar é preciso temê-lo. E quanto mais tememos, mais forte ele se torna.
“Tenho medo da vida! Às vezes eu fico aterrorizado. Qualquer felicidade parece trivial. E, no entanto, me pergunto se tudo não passa de um engano… essa busca da felicidade, esse medo da dor. Se em vez de temer a dor e fugir dela, se pudesse… atravessá-la, ir além dela. Há algo além da dor. É o ser que sofre, e há um lugar onde o ser… acaba. Não sei como expressar. Mas acredito que a realidade… a verdade que eu reconheço no sofrimento, mas não reconheço no conforto e na felicidade… que a realidade da dor não é a dor. Se for possível atravessá-la. Se for possível suportá-la até o fim”, disse Shevek23 em Os Despossuídos, de Ursula Le Guin. O que nosso instinto primordial nos diz é: evite a dor, fuja do monstro. Filmes, fábulas e parábolas foram contados para nos fazer acreditar que é possível superar a dor e, depois dela, alcançar o júbilo, o céu, a recompensa.
Para Lilian, ou Maria, ou Célia (Célia Olga), em Lilian M: Relatório Confidencial (1975) essa recompensa nunca chega.24 A cada relacionamento ela vive tudo o que pode viver, mas subitamente passa para outro, como que entregue ao acaso das circunstâncias. Os cortes do filme não permitem fechar um julgamento moral acerca de Lilian, apenas acompanham seu movimento, que é sempre de viver uma experiência e passar para a próxima.

Uma cabeça treinada para procurar propósitos vai se perguntar pelo quê ela está procurando. E essa mesma cabeça aí poderia tornar essa personagem opaca, desinteressante. Mas aí acontece uma cena, que fica voltando em looping na minha cabeça sempre que assisto ao filme, ou quando lembro dele. Lilian encontra Braga (Benjamin Cattan) em um restaurante. Ele é o seu primeiro amante na cidade, um homem rico, casado e que a mantém. Ele fala sem parar. Lamenta-se das agruras de ser um homem poderoso, com tantos empregados que não enxergam a bondade que há nele. “Eu poderia privá-la da minha amargura, mas eu nunca tive tempo de ir ao neurologista. O único preço por tudo que eu lhe fiz, foi você sempre me ouvir sem refutar ou concordar. Sua mudez, ou quem sabe, a sua ignorância, são elementos altamente terapêuticos para mim. Minha primeira mulher sempre foi minha confessora, até o dia do parto do Fausto…”. Lilian desliga-se e olha para o nada enquanto ele despeja sobre ela toda essa chatice. Subitamente, o salão do restaurante é invadido por dançarinos, vestidos com roupas coloridas, que dançam em volta da mesa e por trás deles. A câmera lentamente se aproxima do rosto dela, e é como se os dançarinos e a música fossem as voltas que sua mente dá enquanto ouve todo aquele blá blá blá. Aquela poderia ser sua mudez ou sua ignorância, como Braga diz. Mas aí vem o cinema e, à mudez e à ignorância, opõe a imaginação e o desejo.

Um de seus amantes vai oferecê-la um trabalho em um bordel. A primeira pergunta que a cafetina faz a ela é: “Você sabe dançar mambo, meu bem?”. Seguem-se cenas da cafetina fantasiada, encenando diversos estilos musicais a Lilian: rumba, conga, ula-ula, etc. Lilian se empolga, é como se naquele momento estivesse vivendo a fantasia construída enquanto conversava com Braga. O filme não entra muito nisso, assim como Lilian não entra muito em nada. Mas essa cena pra mim diz muito sobre a disponibilidade de Lilian de performar diversos papéis, e o prazer que encontra nessa busca que a gente não apreende, se transformando numa personagem fugidia, incapturável, assim como é o próprio desejo.
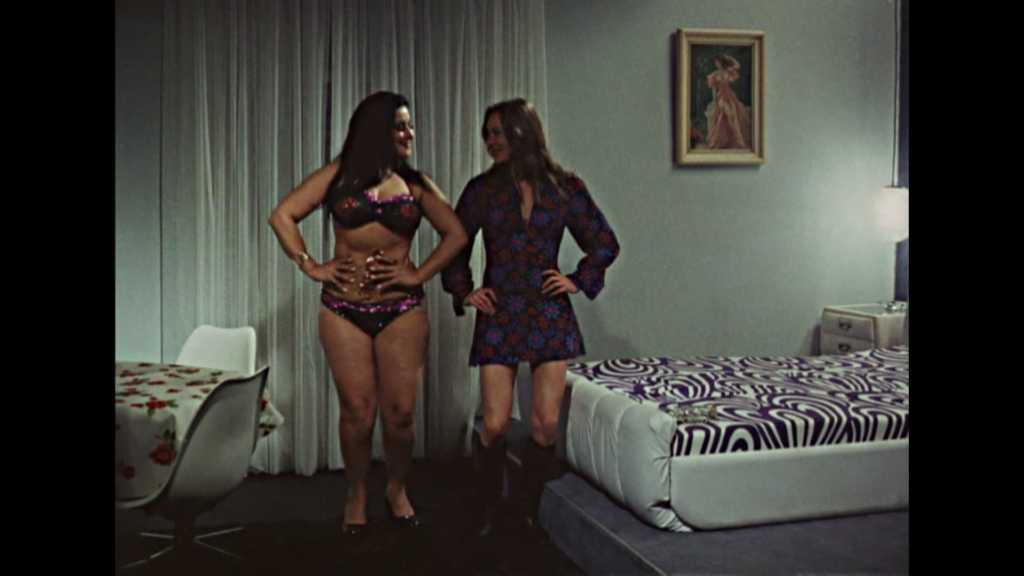
O acaso que atormentava Anna é o que conduz Lilian. Ela escolhe não ceder à fé: é a primeira que ela abandona quando deixa o marido e os filhos no início do filme. Mas nessa propulsão de Lilian existe um instinto ou uma necessidade de sobrevivência, e é esse instinto que coloca a experiência do prazer em contato com a experiência do mundo, de seu território e das regras que constrangem a existência. E o prazer acaba entrando nesse jogo, delimitado entre a disposição para ceder ou transgredir essas regras.
Uma vez eu estava em um bar aqui na Ceilândia e fui ao banheiro. Quando empurrei a porta, percebi que tinha uma pessoa dentro e recuei. A mulher que estava lá abriu a porta e me falou que eu podia entrar. Era um banheiro pequeno, só cabíamos nós duas lá mesmo, eu fazendo xixi e ela na pia. Começamos a conversar. Ela me disse que trabalhava na Império, mas que tinha ido nesse bar hoje porque estava procurando uma menina pra substituir ela lá. Queria mudar. Comecei a entender o que ela estava querendo me propor. Ela me perguntou se eu já tinha feito programa, eu disse que não. Ela disse que era de boa, que eu ia me acostumar. E que ela começou porque era assim: “Eu pegava um cara num final de semana. Aí quando era no outro final de semana tava lá o mesmo cara com um amigo. E dessa vez, o amigo dele é que queria me comer porque sabia que eu já tinha dado pro outro. Aí é melhor cobrar, né?”. Ela disse que eu ficasse tranquila, olhou pras minhas roupas e disse que se eu topasse ela ia no shopping comigo pra gente ver umas roupas novas. Eu disse que ia pensar, ela disse que se eu topasse era só aparecer de novo lá na próxima sexta.
Nunca mais essa proposta saiu da minha cabeça. Estava ali, um dos caminhos. E é só mais um deles, eu pensei, assim como Lilian pensou. A prostituta, que penso aqui como personagem, estabelece um outro jogo com o prazer que é o da relação produtiva. Nele, é preciso se usar da fantasia e do desejo de maneira pragmática, tornando-o mercadoria negociável. O bordel de luxo em Palácio de Vênus (1980) é construído como uma fábrica.25 Ali estão todos os componentes da linha produtiva, o patrão, os operários, o valor da jornada de trabalho, as disputas por hierarquias, tudo permeado pelo pragmatismo necessário para que o sistema opere. Logo no início do filme, Madame Carlota (Elizabeth Hartmann), dona do bordel, diz a Dolores (Arlete Montenegro), enquanto esta coloca dinheiro em um envelope para enviar à filha distante: “Cê não tá pensando no seu futuro, mulher. Eu sei que mãe é mãe. Mas o tempo passa, a gente envelhece, e depois? Lembre-se que somos como máquinas! Máquinas de abrir as pernas e nhec nhec nhec”. O recado dela é claro: não há espaço para pensar outra vida que não essa. E é essa a fatalidade que vai determinar o trágico fim do filme.
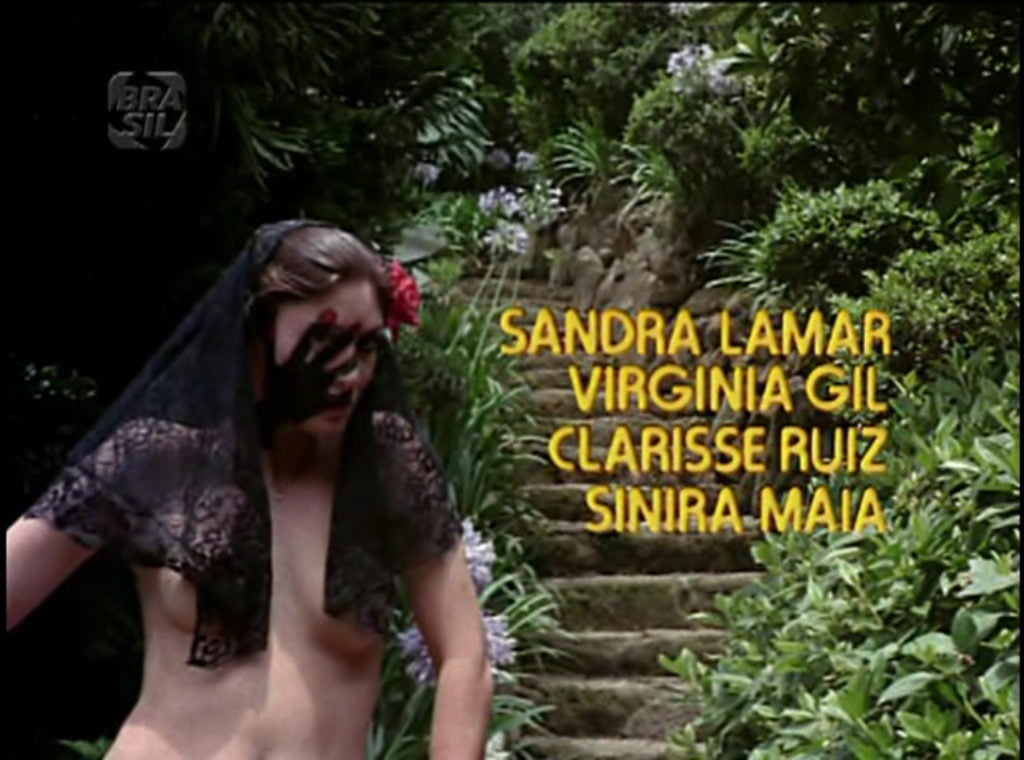
A experiência do prazer na cabeça de Madame Carlota precisa ser formatada para a venda. A imaginação tem lugar como produto que atende a uma demanda, assim como faz um publicitário, vamos dizer. Mas onde há subordinação há também resistência e invenção: as prostitutas resolvem fazer uma greve, insatisfeitas com o alto percentual retido pela patroa. Elas se recusam também a aderir ao moralismo da prostituta católica, que tenta reconduzi-las ao caminho do senhor. Mas ela mesma é uma figura ambígua: a portas fechadas, leva ao extremo a fantasia do êxtase cristão com seu amante coroinha.

Acho que a prostituta é uma personagem que me provoca porque me coloca diante da nossa mais profunda ambiguidade. Ela é marcada de forma escancarada por esse estigma puritano que leva à condenação do corpo feminino e a possibilidade de se manipular e formatar a experiência do prazer, mesmo que seja para vendê-la. Ela me faz olhar o monstro de frente, provoca o meu moralismo, me jogando no embate entre a fé e o acaso.
Olhando para o motim das prostitutas no Palácio de Vênus, eu me pergunto: como fazer para resistir a esse estado de coisas que nos é imposto, que nos pretende máquinas de nhec nhec nhec tanto quanto máquinas de produzir filmes? Eu acho que os filmes não precisam responder a nada, o cinema não salva nem nunca salvou ninguém. Ele está inserido no mesmo jogo pragmático que Madame Carlota expõe a Dolores em Palácio de Vênus. Mas é a potência do cinema em tornar o invisível visível e de jogar com os sentidos que pode estabelecer resistências à pasteurização na nossa forma de olhar, imaginar e produzir nosso prazer. E eu acho que essa potência passa por se entregar um pouco como Lilian à incerteza do que se quer, mas também à percepção clara de que essa experiência do prazer não depende de um clímax, mas de algo que acontece em muitas camadas, que depende de inúmeros contatos e que se espalha como lava de vulcão ao tomar a superfície, pesando que a gente pode ser lava.
Eu penso incessantemente nisso, e é essa obsessão que me faz escrever esse texto agora. Escrevo pois acredito na capacidade da palavra tanto quanto na capacidade do cinema de produzir contato, à semelhança do que Claire Denis faz com seu olhar rente à pele; ou de como Naomi Kawase faz a gente respirar junto com as personagens; ou de como Paula Gaitán faz a gente ouvir os filmes dela. Mas existe um contato e um encontro entre quem realiza para que os filmes aconteçam e resistam, mesmo para construir naves espaciais. Os filmes que ainda não fiz são filmes que querem imaginar o prazer como enfrentamento, acreditando no próprio enfrentamento em se fazer filmes e na profunda necessidade de que eles existam.
PIPILOTTI RIST NÃO SENTE FALTA
No presente ensaio são consideradas três instâncias do corpo: o corpo teorizado por estudos filosóficos, o corpo em cena da artista aqui estudada e o corpo da pesquisadora: meu corpo. Para isso, foi preciso, por alguns momentos, superar minha vergonha de ter um corpo.
A partir da minha visita à Exposição ELLES: mulheres artistas na coleção do Centro Pompidou, que ocorreu em 2014 no CCBB em Belo Horizonte, minha visão sobre o espaço ocupado pelas mulheres nas artes foi definitivamente alterada. Uma das obras ali expostas me perturbou mais do que as demais. De longe ouvi que alguns garotos gargalhavam na sala da exposição, atraindo curiosos: o riso, aqui num tom de deboche e desaprovação masculina. Me aproximei das cortinas vermelhas, sem fazer ideia do que me esperava – e lá estava ela, descabelada, desfocada e gigante no telão.
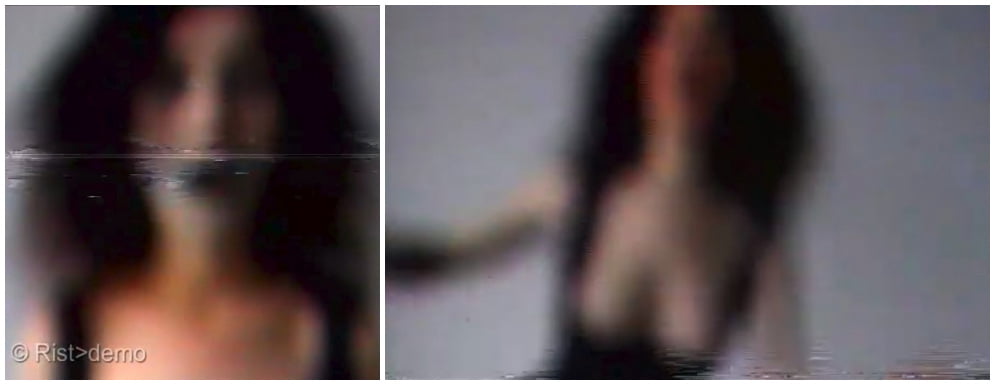
Em 1962, nascia Elisabeth Rist – e minha mãe também. No mesmo ano, Charles Schulz lançou um livro com os personagens de Peanuts, chamado Happiness Is a Warm Puppy (A felicidade é um cachorrinho fofo), frase da Lucy em uma das tirinhas da turma do Charlie Brown. Em 1968, John Lennon vê o slogan de um artigo numa revista sobre armas, uma paródia à tirinha do Snoopy, e assim batiza uma música nova dos Beatles: Happiness Is a Warm Gun. O músico nega que as metáforas da letra se refiram a seu vício em heroína. Segundo ele, a composição é sobre a adrenalina de ter acabado de atirar em algo, como reforçou Belchior ao inserir a tradução “a felicidade é uma arma quente” em uma de suas canções. Em 1980, Lennon foi assassinado.

Seis anos depois, em 1986, ano anterior ao meu surgimento no líquido amniótico, aos 24 anos, Pipilotti Rist26, então estudante universitária, gravou um vídeo para participar de um festival. A introdução da música dos Beatles: “She’s not the girl who misses much” é apropriada e reescrita para primeira pessoa e se torna o título do curta: I’m not the girl who misses much, verso que Rist canta repetidamente, como uma espécie de mantra macabro do qual ela faz questão de se convencer.
Ao longo de sua carreira, Rist sempre teve uma ligação forte com música: ela foi integrante da banda Les Reines Prochaines e frequentemente canta nas trilhas sonoras de seus trabalhos. Sua voz distorcida no curta de 86 é mais um elemento que oculta e difunde qualquer ideia de identidade: o som que ela emite varia do extremamente agudo e feminino/infantil ao gutural grave masculino/adulto. Tais distorções fazem lembrar o efeito que modificava vozes em depoimentos de suspeitos de crimes ou de testemunhas anônimas em noticiários de TV dos anos 90. A sonoplastia é incômoda por remeter a figuras estereotipadas, como uma criança birrenta ou uma mulher histérica, com toda a carga pejorativa patriarcal que o termo evoca.

Rist está usando um vestido preto decotado, que ela posiciona de modo a deixar seus seios descobertos, além de um vívido batom vermelho em seus lábios: sistema muro branco/buraco negro da rostidade de Deleuze.27 Os poucos elementos perceptíveis em seu aspecto a ligam a um estereótipo de feminilidade sexualizada – por ela mesma ou por outrem? – e provocante, como uma boneca de corda, brinquedo que precisa ser manipulado para funcionar. Seus cabelos negros bagunçados formam mais um signo ligado à histeria, delicada palavra para esta doença mental.
O efeito esmaecido e sem nitidez causa o desconforto pela indeterminação do ser. Nas imagens monocromáticas – que evocam uma fita VHS proibida e maldita – em contraste com o azul, blue movie, o vermelho adiciona um filtro de sangue, horror, quando Rist se posiciona com os braços abertos, como que crucificada na parede. Ela dança em momentos ritualísticos, de possessão – semelhante aos espasmos da tarantela – e sorri um sorriso sardônico. Seu corpo não forma uma imagem assimilável, o que a torna a evidência de um movimento aberrante: uma aberração. Quando ela sorri, também afirma, de forma subversiva. Seu rosto é como um corpo sem órgãos, desorganizado, monstruoso.

A respeito da nomenclatura para se referir a I’m not the girl who misses much, as distinções entre vídeo e curta – terminologia que adotei aqui – são exploradas por Philippe Dubois em Cinema, vídeo, Godard28:
um sistema de imagens tecnológicas que sempre teve problemas de identidade: o vídeo, esta ‘antiga última tecnologia’, que parece menos um meio em si do que um intermediário, ou mesmo um intermédio, tanto em um plano histórico e econômico (o vídeo surgiu entre o cinema, que o precedeu, e a imagem infográfica, que logo o superou e alijou, como se ele nunca tivesse passado de um parêntese frágil, transitório e marginal entre dois universos de imagens fortes e decisivos) quanto em um plano técnico (o vídeo pertence à imagem eletrônica, embora a sua seja ainda analógica) ou estético (ele se movimenta entre a ficção e o real, entre o filme e a televisão, entre a arte e a comunicação, etc.). Os únicos terrenos em que foi verdadeiramente explorado em si mesmo, em suas formas e modalidades explícitas, foram o dos artistas (a videoarte) e o da intimidade singular (o vídeo familiar ou o vídeo privado, o do documentário autobiográfico, etc.). Ele constitui, portanto, um ‘pequeno objeto’, flutuante, mal determinado, que não tem por trás de si uma verdadeira e ampla tradição de pesquisa.
Me pergunto quais técnicas Pipilotti dispunha quando criou sua primeira obra. Àquela época, creio na possibilidade de uma destruição de negativos originais, como fazia Man Ray de forma artesanal nos anos 20. Salvas as devidas proporções tecnológicas, Rist interferiu na película, desenhando em sua velocidade, num movimento de rebobinar (RWD) e avançar (FFWD) permanente. Tais interferências realizadas na pós-produção deixam suas expressões e formas indistintas. A ausência narrativa e as imagens de Rist também se assemelham às de Man Ray em seu curta Estrela do Mar (1928), pois são difusas e têm algo de pictóricas, impressionistas. E assim, é como se ela segurasse um controle remoto em suas mãos, ela se apropria do controle sobre a performance de seu corpo, filmado em primeiro plano. A quebra da quarta parede é um recurso utilizado por Rist para criar certa cumplicidade com o espectador, além de conferir uma certa materialidade à fita: o que nós vemos, o que nos olha.29 Ela sabe que estoy aqui, o que aumenta meu pavor diante dela.
A música original é inserida ao final, rumo ao terceiro ato. Os primeiros versos da introdução suave promovem uma breve descrição distanciada de um ser feminino: “Ela conhece bem o toque da mão de veludo, como um lagarto na vidraça de uma janela”, emoldurada pelas guitarras distorcidas que logo surgem. A voz de Lennon proporciona um conforto, um alívio, pois soa familiar e possibilita um ritornelo diegético. A realidade normativa invade a cena do vídeo e Rist veste sua camiseta. Quando seu rosto torna-se mais visível e ao vestir outra roupa, a obra faz rizoma com o real. Ela cobre o corpo nu e sai do ambiente branco e vazio, mostrando que outros movimentos são possíveis: está pronta para criar novas linhas de fuga. Árvores balançando ao vento são mostradas através da janela, recorte de cena da natureza que afirma possibilidades da vida além das imagens perturbadoras.
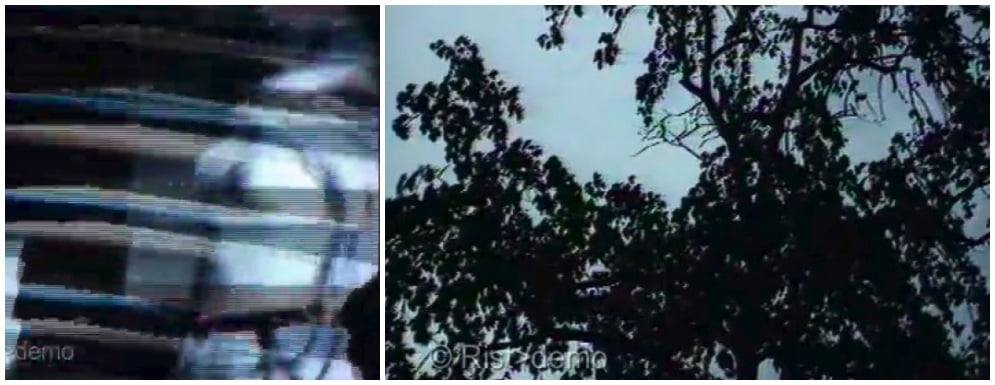
Tenho me defrontado com este curta desde aquela época. As poucas pesquisas nacionais que encontrei apresentam alguns fragmentos de interpretação, mas quase nada sobre o dispositivo e as técnicas de vídeo utilizadas por Rist. Entre elas, Gomes (2009), em seu estudo O retrato e a relação com os dispositivos, destaca no curta de Rist “a distância de anos entre o momento em que a música foi lançada e o momento em que foi reinterpretada; a separação entre a performance ‘desengonçada’ da artista e a suavidade da interpretação da versão original; a paródia performática das gestualidades típicas das dançarinas dos anos 60”. Já Fortuna (2012) lembra que a artista “usa efeitos visuais, como o desfoque, para desgastar a imagem e tornar o reconhecimento impossível”.30
O vídeo me provoca uma perturbação e fascinação diante das imagens, semelhante ao que senti quando ainda criança me deparei com Convenção das Bruxas (1990), com Anjelica Huston: meu medo infantil se tornou uma obsessão que me levou a assistir à fita diversas vezes. Sinto algo próximo ao assistir produções como o curta dentro do terror mainstream O Chamado (2002), de Gore Verbinski, como se o telefone pudesse tocar a qualquer momento. As primeiras jovens que aparecem na tela resumem a proposta crítica do longa, a ameaça de morte, leitmotiv de quase toda produção horrorífica, em uma conversa diante do aparelho televisivo. “Detesto televisão, me dá dor de cabeça” – inicia a primeira delas, que continua:
Há tantas ondas magnéticas no ar por causa da TV e dos telefones que estamos a perder dez vezes mais células cerebrais do que deveríamos. As moléculas da nossa cabeça estão todas em desequilíbrio. Todas as companhias sabem disso, mas não fazem nada. É como uma conspiração. Você faz ideia de quantas ondas eletromagnéticas passam pela nossa cabeça por segundo?” – conclui, ao que responde a amiga: “Tenho uma história melhor: Já ouviu falar da fita de vídeo que te mata quando você a assiste? As pessoas a alugam, parece. É como assistir a um pesadelo de alguém. De repente, aparece uma mulher, que te sorri, que está te vendo através da tela. Quando acaba, seu telefone toca: alguém sabe que a viu, e te dizem: “Dentro de 7 dias, você vai morrer”.
She’s got a ticket to ride
Em uma das poucas entrevistas que encontrei sobre o vídeo, realizada em 2011 e transcrita abaixo, Rist nos convida a refletir sobre o conforto nas sociedades contemporâneas – isso claro, a partir do lugar de fala de uma mulher branca em um país como a Suécia, em um contexto muito diferente do atual. A artista alega que ainda considera I’m Not the Girl Who Misses Much (1986) o seu melhor trabalho, este que mais tarde a consagrou como a pioneira suíça da videoarte: “Acho que é o único trabalho bom que já fiz”. Ela inicia sua fala assim, e ri, muito.
Naquela época eu não pensava em me tornar uma artista, eu enviei o vídeo para o National Film Festival com o único motivo de conseguir um ingresso grátis para ver o Festival de Cinema. Metade do som estava na faixa de áudio 1 e o restante estava na faixa de áudio 2, mas eles só conectaram a faixa de áudio 1 no momento da exibição. Então quando estava na metade eu me levantei na sala de projeção e fiz tudo isso sozinha [ela se levanta e imita os gestos das mãos, querendo dizer que dublou a si mesma, para preencher o som que faltava]. Eles reagiram muito emocionados, disseram “você me tocou extremamente”. Foi nesse momento que fui notada pela cena do cinema experimental, mas eu ainda estava muito longe das Belas Artes ou algo do tipo, era um filme experimental. Isso aconteceu antes da MTV, […] não havia distribuição, exceto no Festival de Cinema. Para mim, a memória desse trabalho está ligada às centenas de reações que recebi. Me disseram que se viram de forma absoluta nele e isso é o que eu espero da obra de arte: a identificação completa dos espectadores. É como uma boa canção, você não consegue mais distinguir entre você e a canção ao ouvi-la. No contexto que temos na sociedade moderna, muitas vezes tenho a sensação de que somos como fantoches […]. Se pensamos que não fomos nós que seguramos as próprias cordas, então nos perguntamos: ‘Quem diabos foi que nos guiou?’ Então, se esse vídeo nos ajuda a pensar que estamos sendo forçados a nos mover dessa forma, que poderíamos fazer de forma diferente, se você considerar sua situação e quais serão seus próximos passos, então acho que este trabalho tem uma razão para existir […]. Há outras camadas no trabalho, claro, há a parte do exorcismo. Nós somos muito bons em nos colocarmos para baixo. Vivemos em sociedades muito confortáveis, mas temos a tendência de tornar nossos pequenos problemas ENORMES […]. Não estamos num momento crítico que teremos que abrir mão de todo esse conforto. Este vídeo nos ajuda a nos colocar pra cima. Não devemos pensar no que nos falta, mas no que temos. Este vídeo nos ajuda – e ajudou a mim mesma – a fazer um exorcismo positivo (tradução nossa).
Ainda nessa entrevista, quando Rist lembra que seu primeiro trabalho é anterior à MTV, é possível pensá-lo como uma espécie de vanguarda do videoclipe, linguagem influenciada pela videoarte de modo geral. Há quebras e fases diferentes no curta, como na música, que em vários momentos foge ao compasso 4/4, padrão musical ocidental. “O conhecimento e a arte podem iluminar as pessoas e fazê-las pensar democraticamente e torná-las menos vulneráveis ao uso indevido de poder. Quero contribuir com um centímetro para essa tendência”, disse a artista. Nesta outra declaração sobre o curta, feita em 2007 ao centro Pompidou, Rist é mais específica quanto à sua intencionalidade:
Neste vídeo as figuras flutuam no ar […]. Com uma espécie de soberania, se redescobre o estado primitivo da existência. Com esse trabalho, pretendo criar um flash de consciência na mente dos espectadores que deveria fazê-los sentir um tipo de suavidade em relação a eles mesmos, com o intuito de relativizar seus problemas pessoais. O vídeo flutua entre o microcosmo e o macrocosmo de forma tal que novas abordagens se abrem para temas tão complexos como a digestão de impressões, nossas origens no líquido amniótico, a hipótese do purgatório e o sistema econômico. Espera-se que os espectadores cheguem a um estado de incerteza em que de repente muitas [outras] coisas parecem possíveis.31
O vídeo completo tem pouco mais de 5 minutos, mas está sem áudio no YouTube – parece parte da maldição da fita mal assombrada – o que a torna muito menos perturbadora. Não temos Rist para levantar na sessão e dublar a si mesma. Tive o privilégio de assistir a obra completa e na tela grande da exposição. Apesar de considerá-lo um objeto de fascinação, meu primeiro contato com este vídeo visceral me deixou agoniada por muitos dias, tendo visões noturnas da protagonista. O vídeo que está disponível com áudio no YouTube tem 2:46, uma amostra fragmentada da minha experiência. A lembrança fiel é impossível e ilusória, resta trabalharmos com as sobras.
José Gil (1980) define a espontaneidade como “a manifestação da energia num corpo não codificado” e lembra que nos estudos corporais se comete uma “violência real sobre o corpo: quanto mais sobre ele se fala, menos ele existe por si próprio” 32Gil considera que “a gratuidade e o carácter de jogo absoluto da dança só são obtidos a preço de uma libertação dos constrangimentos corporais” e para Nóbrega (2010), “nem tudo na linguagem é consciente ou pensado, porém, precisa ser vivido para adquirir sentido”. 33Para colocar tais conceitos em prática, durante a disciplina Poéticas do Corpo, ministrada pela professora Olga Valeska em 2017 no mestrado em Linguagens do CEFET, no intuito de superar meu pânico relacionado ao curta, me propus a não apenas encarar o objeto de frente como estudá-lo e incorporá-lo.
No momento da recriação do curta, mantive meu celular fixo por um tripé que segurava o aparelho a determinada distância e gravei alguns vídeos individuais de teste para posteriormente selecionar os melhores trechos na montagem. Adaptei filtros físicos, não digitais, como uma tampa vermelha transparente e um plástico que envolvia a lente deixando a tela azul clara. A câmera de qualidade baixa que eu tinha disponível me renderia imagens intencionalmente nebulosas. Nesse sentido, em defesa de produções que não estejam necessariamente em alta resolução, Hito Steyerl STEYERL,34 critica a hierarquia contemporânea de imagens: “O foco é identificado como uma posição de classe, uma posição de facilidade e privilégio, enquanto estar fora de foco diminui o valor de uma pessoa como imagem” (tradução nossa).
Como trilha sonora, escolhi a faixa Bull In The Heather, do Sonic Youth, que teve uma importância na minha juventude bem maior do que os Beatles, além de ser cantada por uma mulher, Kim Gordon. Em meados de 2004 eu tinha um CD pirata e arranhado da banda, que começava a pular em determinado momento, e retomar a faixa corrompida me traz nostalgia desses tempos. Além disso, as distorções de guitarra combinam com a textura destruída do vídeo de Rist, que eu procurei emular no meu. Cantei a tradução para o português da primeira parte “ten, twenty, thirty, forty” e a partir do refrão continuei em inglês. A edição no After Effects simulou efeitos como o glitch e demais interferências na fita de vídeo cassete. Rodrigo Bomfim Oliveira (2011), em Hibridismo das linguagens audiovisuais, considera o vídeo como “importante artefato cultural na construção de uma estética imbuída de características impuras, não normativas”:
Com os dispositivos das novas tecnologias, o cinema parece bem mais próximo do público, que imprime suas avaliações por meio de comunidades virtuais, parodia as obras no YouTube e cria vídeos de tipografia cinética com diálogos dos filmes editados em softwares básicos. Assim, embora ainda haja diversos problemas quanto à produção e distribuição de longas-metragens no cenário brasileiro, o cinema tornou-se factível. Afinal de contas, habitam em blogs e sites de compartilhamento audiovisual curtas-metragens de iniciantes, feitos com equipamentos de baixo custo e editados em casa. Além do mais, muitos desses filmes ganham destaque em festivais alternativos em torno do mundo.35
Meu vídeo tem alívios cômicos que me fazem gargalhar – principalmente das minhas vozes fininhas distorcidas (pelo programa Audacity). O riso aqui é afirmativo e foi catártico no sentido de me lembrar de que Rist também era uma humana de carne e osso em processo de criação e não um espírito assustador de uma garota presa numa fita de vídeo, como Samara n’O Chamado.

Depois desse processo, me desespero menos ao ler o nome do curta de Rist, que descobri mexer comigo principalmente devido ao horror do corpo feminino fragmentado, jovem e efêmero, não presente em toda sua previsibilidade no espaço tempo, e não presente em corpo físico para sempre. A partir disso, notei como o link com o verso por mim cantado (“10 20 30 40”) foi eficiente, pois mostra a passagem do tempo inscrita no corpo da mulher que envelhece. Dessa forma, reuni dança, canto e performance no meu caótico e catártico vídeo intitulado 101 2 304 0.
Sinto um misto de vergonha e orgulho ao reassistir meu experimento, quase 4 anos depois. Confesso que esperava algum comentário de choque de alguém que esbarrasse acidentalmente nele em algum vídeo relacionado no YouTube (algo como “estou na deep web?”), mas não obtive mais que 69 visualizações até o momento em que escrevo. Nessa espécie de fracasso bem sucedido, reconheço minha coragem e ousadia no empenho de uma criação de algo diferente, que reverencia36 a obra de Rist, sem propor uma repetição desta. Não foi intencional, mas ao final do vídeo, filmada em preto e branco, me pareço mais com Thom Yorke, do Radiohead, dançando Lotus Flower, uma das partes mais dissociadas do original.
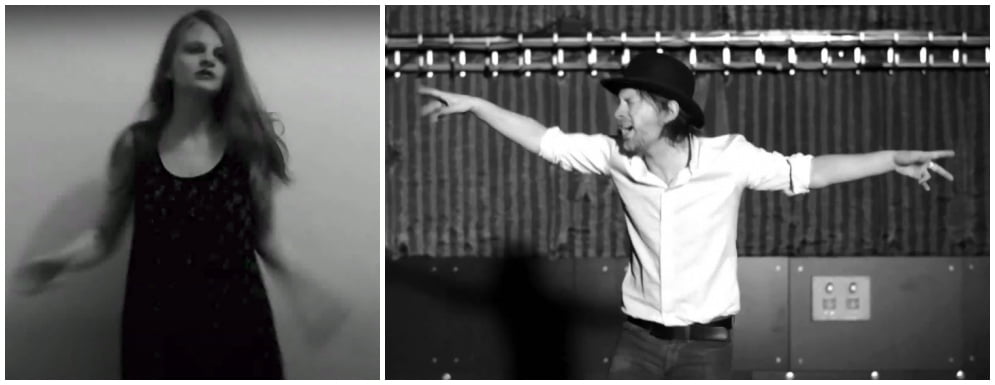
I need a fix ‘cause I’m going down
Por fim, considero o primeiro trabalho de Rist como um curta de terror experimental. Para Carroll (1999), o horror “é uma força de atração, pois convida à interrogação (…) uma parte suficiente é deixada na ambiguidade para que não possamos, em sã consciência, aceitá-la com plena convicção (…) Queremos ver o incomum, ainda que ele seja, ao mesmo tempo, repelente”.37Desse modo, na construção do horror, muito é deixado irresoluto, sem resposta, e assim, I’m not the girl who misses much conserva a eficácia estética e continua a carregar toda a violência e a virulência de quando foi concebido.
A presença criada por Rist é monstruosa, pois em sua indeterminação se afasta do humano, ainda que ela afirme a condição de mulher. As imagens não têm sentido, são etéreas. A personagem vira pixel, aparição transcendental, um fantasma digital eternizado na película. Continuo sem respostas, continuo me perguntando: por que ela continua a me aterrorizar tanto? Meu medo é o medo da vulnerabilidade a que me expõe o riso alheio?
É possível discutir o horror, mas não é preciso compreender a simbologia dos signos evocados pela obra para uma experiência completa de apreciação. Aqui não são muitos, pois o curta prioriza a opacidade: “Não há nada a explicar, nada a interpretar”.38 Nesses tempos distópicos em que meu cérebro parece funcionar flutuando em um jarro e meu corpo está quase atrofiado pelo sedentarismo compulsório do confinamento pandêmico, eu quis retomar essa história corpórea também pelo medo da morte, eu quis tirar potências de escrituras e danças das gavetas virtuais e enviá-las para as nuvens.
NOS CORREDORES DA FICÇÃO: ANOTAÇÕES SOBRE ILUSÕES, DE JULIE DASH
I
“Nós só podemos escrever a história desse processo [político] se reconhecermos que ‘homem’ e ‘mulher’ são, ao mesmo tempo, categorias vazias e transbordantes. Vazias, porque não têm nenhum significado último, transcendente. Transbordantes, porque mesmo quando parecem estar fixadas, ainda contêm dentro delas definições alternativas, negadas ou suprimidas.”38
— Joan Scott
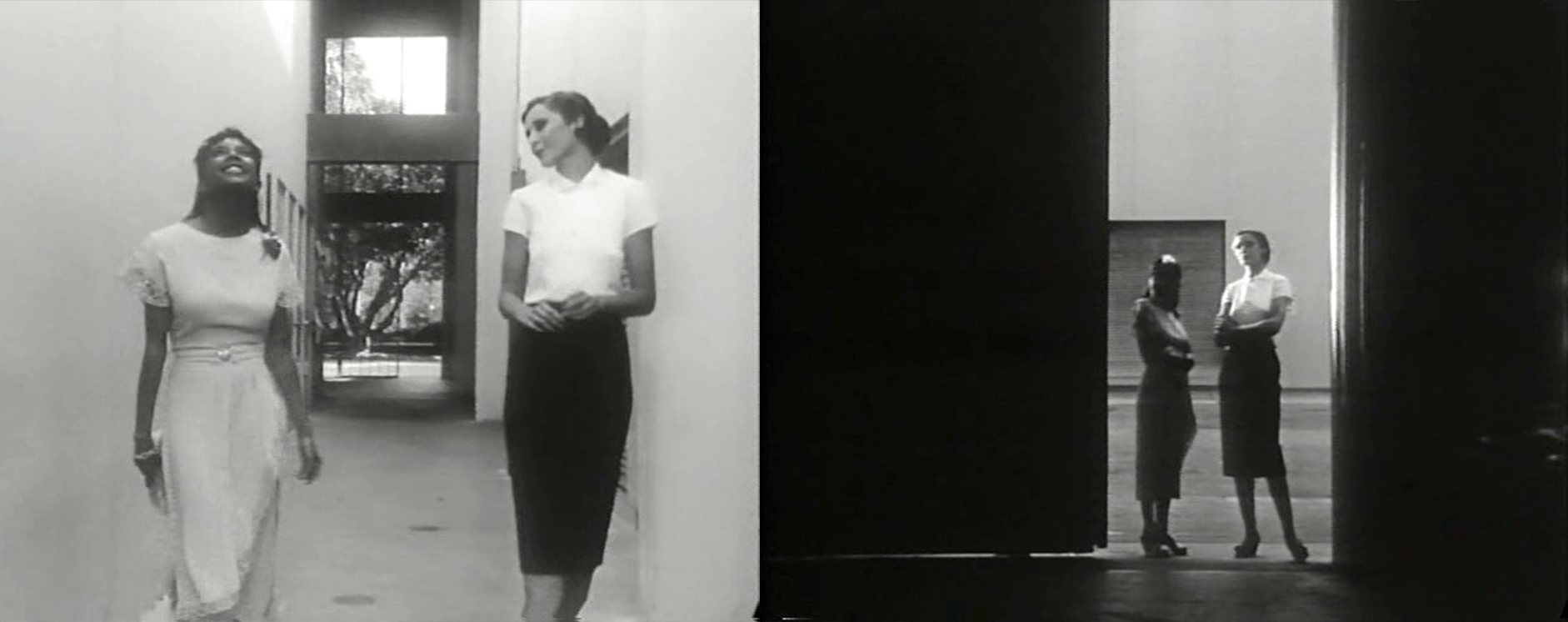
Tenho pensado muito sobre categorias. Categoria como esse sistema cujos códigos limitados revelam (ou revelariam) o que um corpo carrega, como ele transparece sua história, como sua vida individual e social é inteiramente determinada por uma ou mais palavras que cercam e definem o sujeito.
Tenho pensado muito sobre a ficção das categorias – como elas estão tão emaranhadas no nosso imaginário que precisamos reivindicá-las para conseguir falar no mundo, para sair do silêncio. E será possível falar fora da ficção?
Quando penso nisso, penso também em Ilusões, de Julie Dash (1982). Uma narrativa que tem certo desbalanço entre uma vontade de capturar as armadilhas que compõem as categorias, junto à incerteza sobre como fazê-lo sem cair nessas armadilhas. Tento caminhar pelo espaço do entre que Dash cria em seu cinema.
II
“Espaços podem ser reais e imaginados. Espaços podem contar e desdobrar histórias. Espaços podem ser interrompidos, apropriados e transformados por meio da prática artística e literária.”39
— bell hooks
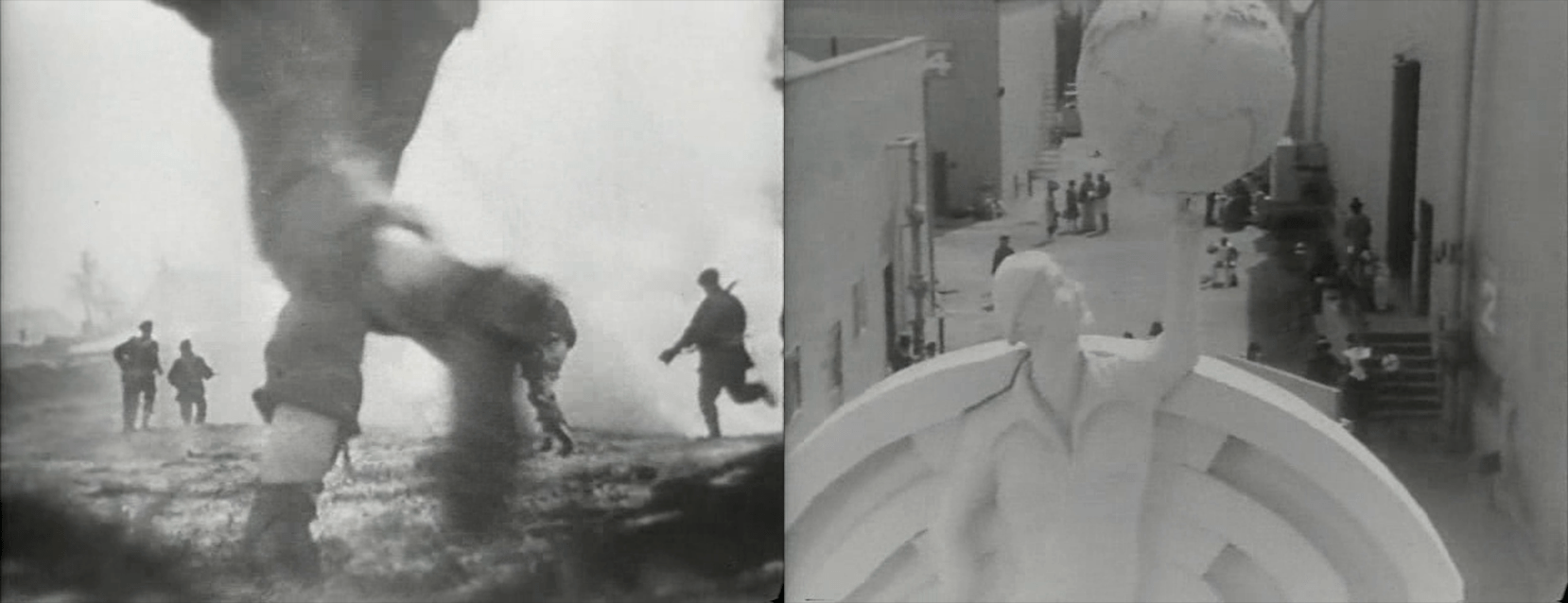
Hollywood, 1942. Dash não é sutil na relação que faz entre a indústria cinematográfica e a guerra. Enquanto no mundo “real” norte-americanos negros lutam por direitos e espaço na democracia dos EUA, entre as paredes lisas dos estúdios só existem heróis brancos.
Soldados correndo, explosões, tanques de guerra. Frames desconexos de um campo de batalha culminam num estúdio de Hollywood. Quem veio primeiro? A violência ou sua representação? A história está sendo reproduzida no cinema ou sendo construída na imagem?
Lembremos que filmar em inglês é atirar (shooting).
A História dos Homens foi construída no mundo das projeções tanto quanto no tiro literal. O cinema aqui é uma indústria ferrenha que não para durante a guerra e que tem, inclusive, a tarefa de levantar a moral nacional.
Mignon, a protagonista, está no limbo entre a ilusão das sombras e a realidade material. Ela é uma mulher lida como branca (de origem afro-americana) que ocupa uma posição de poder nessa máquina da representação.40 bell hooks fala sobre a margem como uma escolha radical, um espaço aberto à força que permite que o sujeito oprimido esteja no centro, mas com o olhar opositivo da margem, sempre se lembrando que seu lugar não é ali, que há outros mundos para além da visibilidade excessiva. Mignon parece (querer) incorporar essa mesma ideia.
No espaço ocupado pelo filme, nesse universo que reimagina Hollywood a partir da posição de poder de uma mulher racializada, a História muda? Ela pode mudar? O cinema tem esse poder que o filme pressupõe de reconstruir a História? Furá-la de dentro para expor sua farsa?
Mignon (e a própria Dash?), em seu lugar escorregadio de poder, está o tempo todo observando o cinema à distância, ainda que no olho do furacão.
III
“A raça não é nem mais mítica nem mais fictícia que o gênero
– ambos são ficções poderosas.”41
-— María Lugones
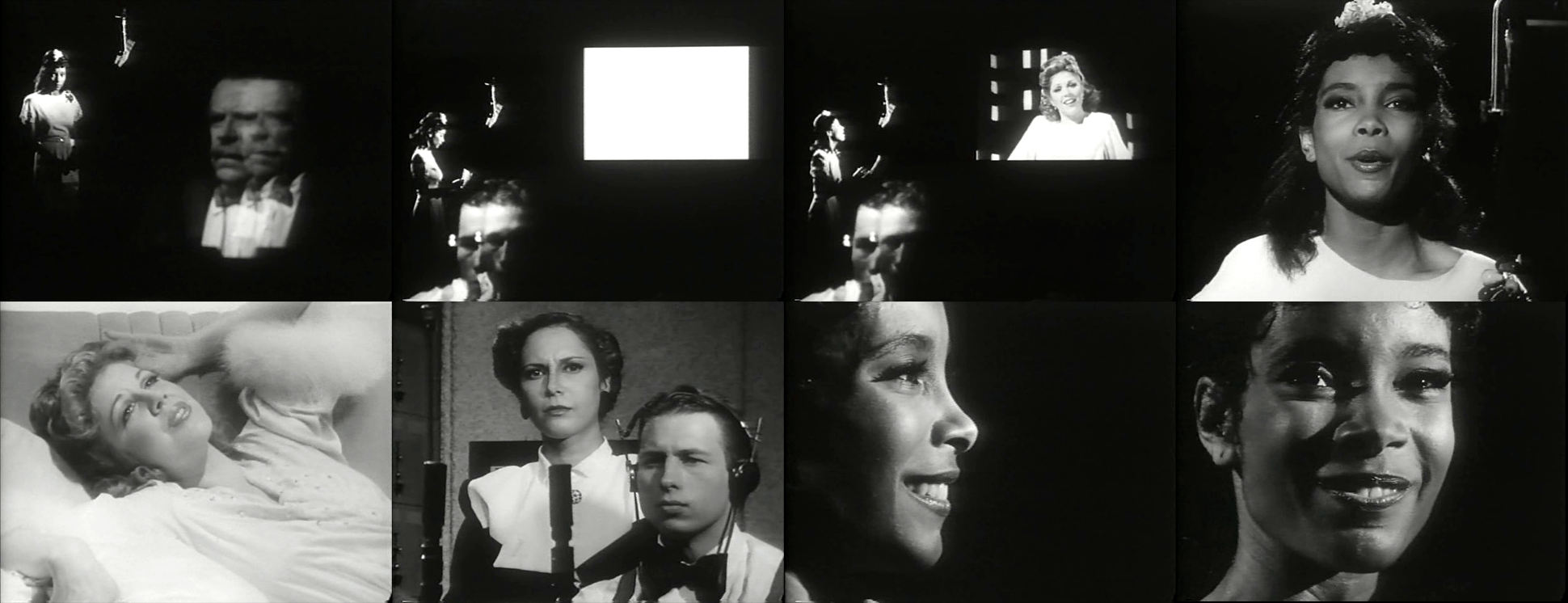
A mulher (branca? dizer mulher é dizer mulher branca?). A mulher negra. A raça.
O que dizem essas categorias? O que dizem essas categorias no cinema?
Pode o cinema tratá-las como as ficções que são, no sentido de serem — como tantas outras categorias — historicamente forjadas para a diferenciação e a criação da Outra, que favorece a ideia da diferença na modernidade?
Na sequência principal do filme, cuja metalinguagem fica mais acentuada, Dash consegue dar vazão a essas questões por meio da exposição do dispositivo artificial do cinema hegemônico que opera por hierarquias e camadas de invisibilidade: uma mulher branca (Leila) é dublada por uma mulher negra (Esther) à margem do quadro. Ambas são coordenadas por um homem branco. Mignon só consegue assistir à cena.
Há uma escolha particular de Dash que me interessa aqui. Ela move Esther da margem na própria decupagem. A cantora começa pequena no quadro, escondida. Sua voz toma o estúdio e os olhares dos bastidores se voltam para ela. Ela ocupa o plano sozinha. A vemos de perfil, encarando a atriz que está dublando, e de frente, encarando Mignon e nós, espectadoras. Dash abre o quadro para Esther mesmo que o cinema não queira fazê-lo. Mesmo que a própria Mignon não tenha poder para isso.
Aqui, a articulação entre a atuação opositiva de Esther, junto da montagem e da mise-en-scène que a privilegiam no enquadramento, forma uma única performance de olhares que reverte a hierarquia da cena e desequilibra a jornada da protagonista. Mignon, depois de relembrar o olhar a partir do espaço radical da margem, entende o jogo com a linguagem e decide continuar no centro, jogando com consciência da batalha.
IV
“O corpo nos expõe. É um lugar de vergonha. A ‘verdade’ do corpo se torna
uma evidência usada contra nós.”42
— S. V. Hartman and Farah Griffin
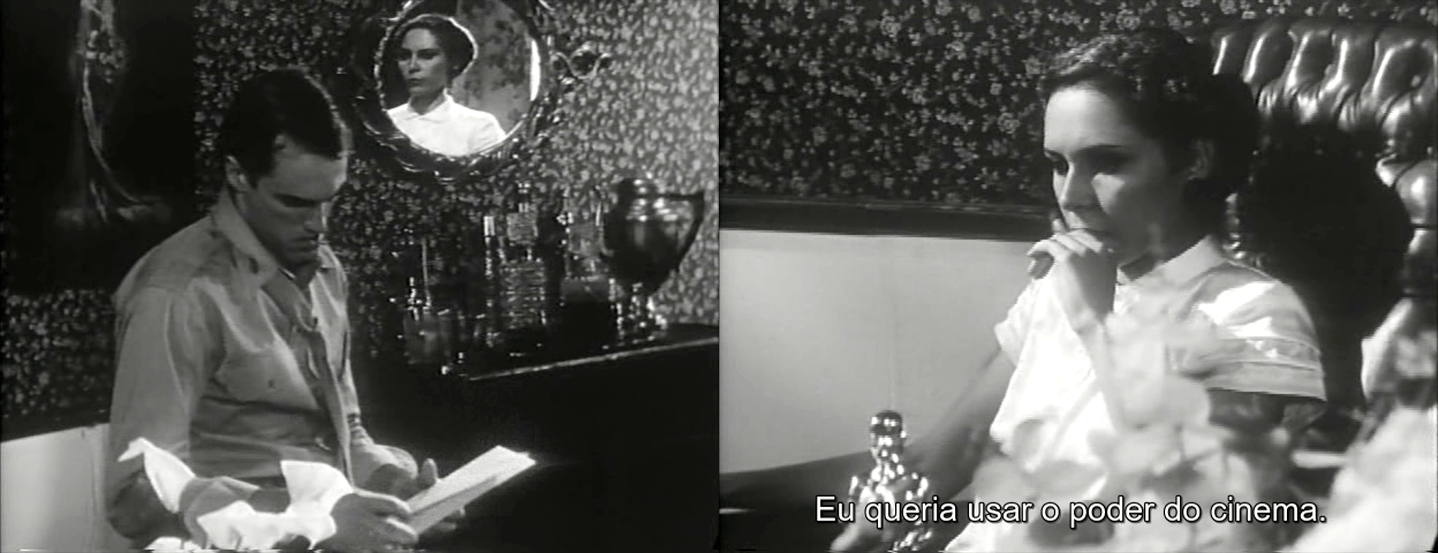
Analisando Ilusões, S.V. Hartman e Farah Griffin falam sobre como Hollywood constrói a mulher ideal a partir de sua fragmentação. A tecnologia decompõe a mulher material para torná-la a mulher-imagem que o homem deseja ver na tela. De Esther, rouba a voz. De Leila (a estrela do filme), rouba o corpo. Nenhuma das duas está completa na imagem – são apenas projeções do olhar masculino.
Jogando com a ficção dentro da ficção, na fixidez do quadro de uma narrativa hollywoodiana clássica, o filme faz escorregar as definições de identidade. Dash bagunça a relação personagem-ficção-história por meio da exposição da máquina de categorias. A ficção de Hollywood é só mais uma invenção para manter o homem branco no poder. A ficção de Dash, apesar de ser também uma invenção, consegue enganar o sistema de imagens dominantes porque coloca em evidência uma série de tensões que se acumulam num único corpo.
Dash enfrenta a a-historicidade delegada às mulheres colocando-as como agentes ativas da história. Mignon e Esther conspiram nos bastidores, mesmo que sua conspiração envolva somente o reconhecimento de uma pela outra. Elas são personagens invisíveis que jogam um jogo cujas regras ainda estão sendo elaboradas por elas mesmas, em tensão com outras redes que as circundam. Quais cartas estão na mesa? Quais identidades? Quais possíveis vitórias? Querer o poder é a saída?
Talvez por isso a estratégia principal de Dash seja investir em uma linguagem que media a narrativa e o discurso, a história e o mito, a realidade e as sombras. O poder está em saber como utilizar os códigos na guerra, brincando com as possibilidades da ficção para borrar as categorias a ponto de elas serem expostas pela farsa que são. O poder não está em ensinar a atirar, mas a ver, a forjar alianças, a reconhecer as diferenças sem confiná-las em molduras fixas. Dash joga, sim, com uma linguagem clássica, mas um clássico assumidamente infiltrado na indústria. Ela escolhe o seu espaço de mudança radical – indo para o centro, mas com a visão da margem.
Mediar os dois lados da ponte. Manter a desconfiança em cada frame.
CONTRA O CAPITALISMO, MISO PEDE MAIS UMA DOSE DE UÍSQUE
A estreia da diretora Jeon Go-woon em um longa-metragem ganhou uma tradução em inglês que imediatamente invoca a relação entre a protagonista do filme e os espaços minúsculos aos quais ela pode habitar. Microhabitat é a versão estrangeira para So-gong-nyeo, algo que poderia ser lido como “uma jovem princesa”. Mas o título original do filme, não aprovado pela distribuidora, era MisoSeosikji, que poderia ser traduzido literalmente como “o espaço onde Miso vive”, sendo Miso a personagem que acompanhamos em uma peregrinação de moradias ao longo dessa história.
É curioso observar o modo como esses títulos se alteram carregando juntos a tensão entre a ideia do que é habitar um espaço e o que é viver esse espaço, dois verbos que, não coincidentemente, são sempre colocados como sinônimos. Quão alto pode ser o “teto todo seu” das mulheres quando aquilo que está entre o “habitar”, o “viver” e mesmo o “morar” diz respeito não apenas a um espaço material que é negado, mas sobretudo ao direito a um espaço também abstrato de existência e sobrevivência em realidades materialmente precárias?
E se “habitat” são as circunstâncias físicas e geográficas que oferecem condições favoráveis à vida, quais as circunstâncias emocionais que nos permitem viver em sistemas capitalistas de concentração de renda? Duas sequências em Microhabitat parecem explodir essas questões para todos os lados pelo modo como são encenadas e montadas.
O Teclado:
Na primeira, Miso, interpretada com sofisticação pela atriz Esom, recebe a notícia de seu namorado de que ele vai trabalhar na Arábia Saudita e o tempo mínimo previsto para ficar lá é de dois anos. Miso está profundamente triste. Cigarros, uísque e seu namorado são suas únicas fontes de prazer em uma vida cada vez mais tomada por um trabalho como faxineira que mal consegue pagar seu acesso a esses “luxos”.
Mas então ele fala: “Vamos usar nosso poder de imaginação.” Ela pergunta: “Para imaginar o quê?” E ele responde, com toda sinceridade e ingenuidade do mundo: “Que eu estou perto de você.” O filme poderia conter e estender esse momento no rosto do rapaz ou na expressão de resposta de Miso. Teríamos aí uma curva pelo romântico ou pela possibilidade da imaginação romântica. Mas em lugar disso, a câmera, que até este momento filmava essa conversa ora em um plano médio com os dois corpos em quadro, ora em planos e contraplanos fechados, decide então se afastar completamente e filma o casal de uma segura distância panorâmica.

O filme responde ao utópico “estar perto de você” no silêncio frio de um olhar distante, estabelecendo uma relação cética com as promessas de finais felizes desenhados por peças publicitárias. “Estar perto” para Miso precisa de concretude, de materialidade imediata, de toque. Não de um horizonte longínquo em ganhar dinheiro na Arábia Saudita. Mas, mais do que isso, como seria possível “estar perto” dela quando ela mesma não pode reivindicar um espaço que seja seu na cidade de Seul?
A Bateria:
Mais adiante, já sozinha na cidade, Miso entra no mesmo bar de sempre e pede a mesma dose de uísque de sempre. A atendente, já ciente das dificuldades financeiras da cliente, avisa que o valor do uísque aumentou porque o aluguel daquele imóvel subiu. A essa altura do filme, já estamos familiarizadas com a política de inflação imobiliária da cidade de Seul porque Miso simplesmente não consegue alugar nenhum cubículo em qualquer periferia. Diante da funcionária do bar, ela fica então em silêncio por um momento e depois de alguma reflexão interna, suspira, sorri e fala: “Tudo bem. Traga uma dose.” O enquadramento permanece fixo nela e, no canto esquerdo da imagem que captura uma janela para fora do ambiente, vemos em algum momento a neve cair. A câmera se desloca e passamos e ver Miso de fora pra dentro, a neve agora em primeiro plano e uma janela entre nós. A taça com o uísque chega.
Em um sistema que insiste em estabelecer como cada pessoa deve morrer em vida (viver/morrer para pagar o aluguel, viver/morrer para comprar comida, viver/morrer para ter energia elétrica), essa mulher decide olhar nos olhos do Capital e pedir mais uma dose de uísque, nem que para isso ela abdique completamente da possibilidade de ter um teto, a despeito de sol, chuva e… neve.
A Guitarra:
Nesse sentido, Microhabitat talvez seja um dos filmes mais sofisticamente anticapitalista do que outro título conterrâneo que ficou famoso por assumir um lugar mais evidentemente crítico a esse sistema enquanto se servia de um esquema alegórico de ‘o de cima sobe e o de baixo desce’: Parasita, de Bong Joon-ho. No trabalho de Jeon Go-woon, os modos como a personagem central vai inscrevendo nela mesma a resistência a um certo padrão de vida que nega o viver se servem de jogos: entre a ironia disfarçada de ingenuidade e entre o mínimo múltiplo comum da dignidade humana e algo que algumas pessoas mais rapidamente leriam como hedonismo.
Miso enfrenta o capitalismo abdicando progressivamente de tudo que a sociedade costuma ler como “escolhas”, mas que na verdade se trata de direitos básicos que esse mesmo capitalismo não fornece. Leia-se: entre pagar o aluguel e pagar por seus cigarros e uísque, nossa heroína bravamente decide ficar com os últimos itens, e isso não é uma “escolha” irresponsável, é uma tática de sobrevivência dentro dos códigos satíricos do filme (e, portanto, várias vezes propositalmente exagerados) e um enfrentamento à ideia de que itens como “cigarros” e “uísque” só devem ser usufruídos por classe sociais mais próximas do topo da pirâmide.
O Vocal:
E como esses códigos são postos em movimento? Sim, porque estamos cá falando não exatamente de um road movie, mas de uma narrativa que se desenrola à medida em que a personagem vai se mudando de casa em casa, dormindo sob o teto de amigas e amigos que, anos atrás, faziam parte da mesma banda de rock. Em lugar de paisagens diferentes, o que acompanhamos nessas viagens entre bairros são casas diferentes e dentro de cada uma delas, um universo de símbolos que localiza essas amigas e amigos em distintos territórios na escala de acesso aos bens capitais, mas de semelhantes adaptações que terminaram sendo feitas por todas e todos em nome de um ajustamento social: casamento, propriedade privada, emprego. E aqui uma ressalva:
Na comédia de costumes que vai sendo costurada desses encontros entre Miso e seus ex-companheiros de banda, o filme escorrega em algumas fórmulas fáceis de achatar essas figuras secundárias como pessoas que, em maior ou menor medida, são infelizes nos pactos que fizeram para que suas vidas fossem “normalizadas”. A infelicidade delas em si não é o problema, mesmo porque a estrutura do filme demanda que essas personagens sejam testemunhas de um sistema falido. Mas quando todas elas se tornam somente acessórios para reafirmar as “escolhas” de Miso em permanecer vivendo o espírito da “banda” enquanto as demais parecem ter abandonado os instrumentos no palco, o filme termina reduzindo a própria Miso a uma resposta, quando em vários outros momentos ela é plena afirmação, puro verbo intransitivo.
O Baixo:
Nesse aspecto a complexidade que o filme consegue estabelecer entre a protagonista e seu namorado é bem mais interessante. Rende conversas sobre as possibilidades de relacionamentos afetivos quando a busca dele por um status quo não nega seu apaixonamento por ela e o apaixonamento dela por ele reconheça a procura do namorado por alguma estabilidade financeira que a ela não interessa como horizonte prioritário. O momento de despedida em que ela e ele se amam nessas diferenças, filmado em um azul ainda mais frio que todo o frio do resto do filme, abre essas duas pessoas em suas zonas de vulnerabilidade sem transformá-las em essências opostas.

É também a partir dessa cena que temos o último ponto de virada do filme. Agora sem namorado, Miso decide não abrir mão dos cigarros e do uísque e, além de desistir de pagar o aluguel, desiste de comprar o remédio que mantinha seu cabelo preto, deixando com que os fios grisalhos se espalhem por sua cabeça. Aqui vale um adendo contextual que ajuda a perceber por que o filme decide trabalhar com esse código: em uma das entrevistas, a diretora explicou que na Coreia do Sul, onde quase 100% da população tem cabelo preto, as mulheres e homens mais velhos que começam a apresentar fios brancos quase sempre decidem pintar seus cabelos como uma forma de manifestar pertencimento à população economicamente ativa. Ser jovem e não ter cabelo preto é necessariamente um desvio de normas nesse habitat visual de Seul.
A Dissonância:
Há então uma morte no filme, os amigos da banda se reúnem para um velório e todos vestem: preto. Mas Miso, ao contrário do que o sistema prevê para alguém que se recusa a cumprir com suas regras, vive e habita em si mesma. Ela, que passa o filme inteiro limpando a casa de outras pessoas e, portanto, é imediatamente lida como uma força de organização do caos externo, só pode se organizar dentro de si mesma reconhecendo a vida como um direito, não como um dever. Jeon Go-woon não revela mais o rosto da personagem no desfecho da história, é exatamente pelo código do cabelo grisalho que a reconhecemos, um vulto cruzando o quadro como uma ideia sem corpo, em desajuste com tudo, menos consigo mesma.
Editorial
Era um domingo, a noite caindo, a casa bagunçada, os arquivos se acumulando na pasta do computador, a digitação frenética. A apuração das eleições presidenciais acontecia a todo vapor, mas nós não consultávamos os sites ou canais de televisão para acompanhar o espetáculo. O foco era em terminar o projeto para o edital de fomento cujo prazo de envio era a manhã seguinte. Diante da troca de governos iminente, a desesperança que tomava conta era canalizada na escrita de um projeto que pudesse ser selecionado no que chamávamos de “edital do fim do mundo”: talvez, quem sabe, a última chance de fazer o que sempre sonhamos — realizar o Verberenas com apoio financeiro, remunerando todas as colaboradoras, com exibição de filmes e debates.
Deu certo. Conseguimos. Os entraves burocráticos, políticos e, posteriormente, pandêmicos, fizeram com que o projeto enviado em 2018 só tomasse forma em 2021. O mal-estar geral e a desesperança com o futuro que se desenhava serviram, naquele episódio, como combustível. Continuam servindo. Glênis, na ocasião da escrita deste editorial, nos relembra um texto da jornalista Eliane Brum em que ela fala da importância de, “diante de tal conjuntura, (…) fazer o muito mais difícil: criar/lutar mesmo sem esperança” e “enfrentar os conflitos mesmo quando sabemos que vamos perder”. Ou “lutar mesmo quando já está perdido”: “fazer como imperativo ético”. Algo como aprender com Ailton Krenak a seguir fazendo para adiar o fim.
Talvez só isso nos dê um vislumbre do sentimento daquela noite de domingo, sentimento esse que nos revisita no momento desolador que atravessamos hoje. Um ponto aqui é fundamental e deve ser destacado: para que seja possível essa teimosia, essa recusa à derrota sem luta, é necessária alguma relação, alguma comunidade, algum tipo de experiência de conexão. E isso, no que acreditamos, nos acompanhou nessa práxis do Verberenas: de um site que começou enquanto colaborativo, que se criou no tesão de dialogar e discutir e discordar e construir juntas, no agregar de pessoas e ideias e emoções. As conexões criadas em 2015 vieram nesse caminho que levou o projeto até aqui.
Um exemplo disso é a autora da capa desta edição, a artista Taís Koshino, que se formou em Audiovisual conosco e esteve presente no início do projeto, criando vinhetas para nossa antiga empreitada no YouTube do Verberenas, auxiliando no design do nosso primeiro site, junto conosco em todas as atividades. Ou a artista Lívia Viganó, que participa como ilustradora de um dos textos desta edição e que foi também autora da capa da edição nº 01. Ou a autora Manuela Andrade, que escreve nesta edição sua quarta colaboração para a revista. Nesse sentido, nos identificamos com as falas de Glenda Nicácio na entrevista feita por Lygia Pereira (também uma colaboradora perene e querida) publicada nesta edição: “Eu gosto de pensar que está tudo em casa, e por isso que gostamos de trabalhar sempre com a mesma equipe, o que é muito gostoso: se é pra contratar pessoas, vamos contratar as que já estavam com a gente, e passar pelos mesmos processos”.
Apresentamos, assim, o número 05 do Verberenas, uma edição entremeada por tantas questões que dialogam com a história e o fazer desse projeto. Começamos pela contribuição de Lorenna Rocha, um texto que trata dos aspectos relacionais da opacidade proposta pelas obras da artista Castiel Vitorino Brasileiro. Nessa mesma esfera do enfeitiçamento está o texto de Natália Reis, uma investigação sobre o cinema da diretora Nelly Kaplan e seu percurso de “pantera solitária” pela magia e o desejo.
O texto de nossa editora Glênis lida com erotismos de olhar e ser olhada se apoiando no filme Retrato de um Jovem em Chamas, de Céline Sciamma. Numa troca de olhares enquanto um ato de amizade e criação, temos as cartas entre Fernanda Pessoa e Adriana Barbosa, um exercício entre duas realizadoras que compartilham seus processos e pesquisas sobre cinema experimental. Há uma disposição de construir algo coletivamente que vemos também na carta de Ramayana Lira às cineastas sapatão, pensando a experiência da lesbiandade enquanto terreiro, um “espaço liminar do público e privado”.
A colaboração especial convidada fica por conta da entrevista conduzida por Lygia Pereira com a realizadora Glenda Nicácio. Sobre comunalidade, tanto Glenda quanto Manuela Andrade elaboram um pensamento. A primeira aborda seus processos fílmicos na feitura de seu primeiro longa-metragem na cidade de Cachoeira, na Bahia. Já Manuela discorre sobre o visionamento do filme da diretora mexicana Luna Máran sobre o próprio pai, um líder indígena oaxaca, e diferenças geracionais como ambientes férteis para o crescimento. Ingá Patriota desenvolve sobre o canal de YouTube de comédia de Faela Maya, um espaço compartilhado por uma dúzia de realizadoras do interior do Ceará que se utilizam de recursos inesperados de linguagem e a rivalidade como motor do humor e da criação.
Nesse momento de isolamento, com uma abundância de serviços de streaming e possibilidades de download que favorecem o visionamento individual — mesmo que sites como o Letterboxd permitam algum diálogo e um vislumbre de uma experiência comum com o cinema —, propomos que estejamos juntas. Juntas, assistindo a um mesmo filme, debatendo e lendo sobre ele. Juntas e dispostas a construir vizinhanças para furar a bolha da solidão.
Nosso último texto é inspirado pela escolha curatorial conduzida por Letícia Bispo para a primeira Sessão Verberenas: Porta para o Céu (1989) será exibido online entre os dias 19 e 21 de março de 2021. A pesquisadora em cinemas africanos Janaína Oliveira escreve sobre a obra da diretora, a marroquina Farida Benlyazid, que também será foco de debate no dia 21, às 18h. É a primeira vez que o filme tem exibição pública no Brasil e o Verberenas comissionou a produção das legendas em português. Este é um filme que nos convoca a ir além: de concepções fundamentalistas de mundo, de ideias fixas sobre o Islã, da paralisia do patriarcado e mesmo das limitações do feminismo ocidental.
Em Porta para o Céu, a protagonista Nadia, dividida entre suas múltiplas origens — francesa e marroquina, laica e muçulmana — decide criar um abrigo de mulheres na casa que antes pertencera ao pai. Há muita solidariedade nessa leitura feminina do sufismo islâmico, e há também contradições. Nadia é uma mulher abastada, ao lado de outras mulheres que não têm nada e vivem como criadas; ao mesmo tempo, o teto sob o qual constrói o abrigo não pertence verdadeiramente a ela, que nada pode herdar por ser mulher. Em meio ao sonho e ao transe, à solidão e à partilha, há momentos que podem fazer feminismos ocidentalizados revirarem os olhos. Janaína Oliveira, no entanto, chama atenção ao íntimo convite do filme: a travessia de uma porta rumo a “relações outras com as muitas encruzilhadas que Benlyazid nos proporciona. Sobretudo àquelas que cruzam nossas idealizações de um feminismo hegemônico”.
Amanda Devulsky, Glênis Cardoso e Letícia Bispo
NOTAS SOBRE OPACIDADE OU UMA CONVERSA COM AS OBRAS DE CASTIEL
“O que se vê é o invólucro do que não se vê.”
Tiganá Santana
“Talvez, a fuga seja uma consequência cultural. Uma consequência ancestral.”
Beatriz Nascimento“A visibilidade não nos protege.
Então, como é que a gente pode não ser apagada e ainda assim não nos tornar transparente?
Não ser silenciada e ainda assim não ser completamente traduzida?”
Jota Mombaça
Um primeiro giro anti-horário. O rodopio. Da janela da casa, a câmera faz um giro para dentro. Em vez da pele negra retinta, olho primeiramente para os cabelos sintéticos avermelhados e a luz que faz um tipo de aura naquela presença, a qual olha firmemente para a câmera que empunha. Um canto, uma reza se inicia, um feitiço. O mundo como conhecemos, aquele que pode ser visto da janela, foi recusado no rodopio inicial. Abre-se uma fissura no tempo linear. Na língua colonial, o português, o canto vai tomando forma, mas a cosmologia que integra a fenda aberta de “Para todas as moças” (2019), de Castiel Vitorino Brasileiro, foge e escapa pelas matérias do espaçotempo: osso, planta, suor, livros, cristais, fogo, vela, perlutan. Como acreditar, ver e sentir nossas presenças físicas, químicas, espirituais, cósmicas e pretas nas telas do cinema, sem a materialidade de nossos corpos em sua integralidade, quebrando demandas e expectativas raciais e sociais?
Descrever é traduzir, mas as traduções negras (não) podem falar de coisas inomináveis, impossíveis de dizer na língua colonial

A câmera escapa. Rodopia. Da janela de casa, para o universo. O vejo de longe, depois da ventania de Iansã. De qual continente esses ventos são? De quais tempos? A distância do planeta terra é demarcada e parece que quase nada que habita os menos de três minutos desse canto-reza-prece existe no regime do nosso real. Onde estamos mesmo? Vejo um altar. Uma nota de cinquenta reais. Livros, mão. Cabelo avermelhado. Vestígios, rastros, matérias. Estados de encantaria, pela voz, na língua colonial, o invisível habita a imagem.
As transformações físico-químicas produzem a fenda no tempo colonial. A dobra. Aquilo que é necessário para interromper o fluxo das embarcações que nos ameaçando a vida, desde que se elaborou pela primeira vez a ideia de novo mundo. As voltas da terra, junto ao canto, se tornam desejo pelo colapso. Tudo gira. O feitiço das travestis e a macumba das bichas colapsarão esse mundo. Elas quebram as embarcações. Aqui, o colapso não é obliteração, é mudança. É possibilidade de reelaboração dentro do tempo exusiástico. Em meio à contradição, na desordem, na profanação e no caos, é possível treinar para a produção de sensibilidades?
O fogo que lampeja atrás da corpa aparenta ser da mesma cor da massa avermelhada evocada pela corpa-presença, barro que não vejo, mas que sou convidada a imagear pelo canto. Posicionando a carranca ao lado de seu próprio rosto, o sorriso de Castiel cria um gesto de similitude com a obra que ela empunha. Quando colocadas lado-a-lado, as duas presenças também compartilham semelhanças em suas texturas e cores. A câmera parece ser matéria do feitiço, da macumba. Quando parece que vai revelar algum segredo, ela simplesmente se afasta.
Glissant afirmou que as opacidades podem coexistir, confluir, tramando os tecidos cuja verdadeira compreensão levaria à textura de certa trama e não à natureza dos componentes”. 43 Que cheiro tem esse altar? Quais óleos estão sendo manipulados para a feitura dessa magia? O que a combustão dessa pedra ativa? Não consigo acessar ou responder a nenhuma dessas perguntas, então imageio. Reelaboro as questões, reconhecendo as impossibilidades da minha própria gramática. Opacidade exige relação e a que estabeleço aqui só me parece ser possível com a dúvida.
Lembro-me de uma carta que Jota Mombaça escreveu para Castiel, sobre sua exposição “O trauma é Brasileiro” (2019), em que diz que não havia linguagem que pudesse descrever, ou seja, traduzir, o que a arrastava ao trabalho de Vitorino, e afirma: “Também não há nada por desvendar”. E continua: “Eu não me interesso pelo significado dessas imagens, mas pelas profecias que tem nelas. Em outras palavras: não é o significado, mas o sussurro que me motiva”. Volto a essas palavras e me pergunto: o que “Para todas as moças” nos sussurra? O que poderia a obra de Castiel desdobrar como profecia aos cinemas [negros]? Seria o sussurro (e a dúvida) uma das manifestações ou, por que não, sintoma das opacidades?
Chakras ativados. Rebolar a raba é energia de ativação. Faz parte do feitiço. Do cristal queimado, a transmutação das energias movimenta a corpa-partes daquela que performa-rodopia para a câmera. Com a câmera. Câmera-encruzilhada. A montagem da encruza entre o corpo marcado e a materialidade daquilo que marca o corpo. Ambos tão profundos quanto o rio e o cu. Escapar pelo mergulho que não tem chão para se tocar. Profundidade, instabilidade e impossibilidade, tudo ao mesmo tempo.
Em “Sortilégio” (1951), de Abdias do Nascimento, Emanuel, personagem principal do texto, está numa encruzilhada. No livro “Cena em Sombras” (1995), Leda Maria Martins enfatiza que Exú é função dinamizadora e organizadora da dramaturgia, do ritual e do conjunto de ações dramáticas de Emanuel. A pesquisadora afirma que, mesmo encarcerado [em suas questões raciais, espirituais e relações interpessoais], a personagem se movimenta, dentro dessa sobreposição de caminhos, dúvidas e perguntas que constroem a trama.
Essa poética da encruzilhada do texto encenado pelo Teatro Experimental do Negro (1944-1968), de alguma forma, parece emergir em “Para todas as moças”. Sem as preocupações raciais e sem as demandas dos processos de subjetivação experimentados por Emanuel, o canto-reza-encruza de Castiel faz movimentos contraditórios, que nos põem num outro tipo de encruzilhada: ao evocar materiais, matérias, símbolos e cantos das culturas afro-diaspóricas, ela escapa várias vezes de sua própria subjetividade, abrindo mão de ser gênero-raça para afirmar-se, por exemplo, como elemento da natureza. A contradição e sobreposição das imagens fílmicas na montagem deixam de ser apenas um artifício: tornam-se a singularidade da poética elaborada pela artista.
Retornamos ao altar. A química, o fogo, a entreluz, a reza. Um canto que ativa as energias do pedido, da crença, da fé. A suspensão. A perfuração da imagem. Vibrátil, o mundo invisível se mexe e a gente não consegue capturar. Há segredo ali. Talvez só ouvidos bem atentos (ou treinados) consigam escutar. O momento da fuga é o momento do canto. Ela canta para todas as moças (bichas, travestis, testículos femininos). De onde? De quando? Dentro da espiral, da encruzilhada, habitam todas elas. É no canto que elas despertam e são recebidas no quarto de cura de Castiel. A massa se decompõe, a energia invisível paira no ar.
Percorrendo temporalidades, escapando pelas imagens
Essa conversa textual se desenrola a partir da minha participação numa mesa do “Seminário Negritude Infinita” 44, mas se encontra com ideias, prosas e muitas perguntas que orbitam dentro e fora desse evento específico. Como num vagar e numa encruza, convido a um passeio pelas imagens, palavras e matérias. Menos do que um texto, talvez esse seja um desenho ou um treino para a fuga. Ou uma colagem, um retalho de ideias, de leituras, de pensamentos e sensações. “Como se pensava antes do iluminismo?”45, nos pergunta Denise Ferreira da Silva.
Daqui de onde olho-sinto, o incontestável aumento das produções audiovisuais negras tem feito do campo um espaço de conversas infinitas.46 Em diálogo com o texto de Kênia Freitas 47 e Janaína Oliveira 48, e tantas e tantos que elas chamam em seus artigos para suas elaborações, é possível traçar um mapa de marcos temporais que nos empurram, em eterna negociação, para abraçar a lógica econômica da valoração, positivação e identificação das representações negras nas telas, engendradas às demandas dos movimentos sociais negros, sobretudo, durante e após os processos de redemocratização da política brasileira. Soma-se ainda a esse contexto o Dogma Feijoada (2000) e o Manifesto do Recife (2001), além da implementação das ações de políticas afirmativas para a entrada de pessoas racializadas nas Universidades.
Mais giros anti-horário. Nos saberes, nas produções audiovisuais, nos conhecimentos. Ao mesmo tempo, mais demandas: da ocupação dos postos de trabalho, maior necessidade de se ver nas telas. Nesse percurso, um pacto com a transparência foi realizado. É “Dogma” não ter estereótipo, só falar da cultura negra e do negro comum. São tantas exigências, muitas delas quase nunca cumpridas em sua totalidade, boa parte delas capturadas pelo capitalismo. Ideias pretas são como commodities e a demanda está altíssima no mercado. “A plantação é cognitiva”, falou Jota Mombaça. Os cativeiros estão cheios de algoritmos. O desejo pelo topo cava a nossa própria cova.
Em “A plantação cognitiva”, Mombaça aponta para os processos de expropriação das vidas negras por meio dos sistemas de arte e produção de conhecimento em escala global, atrelados aos regimes de valoração. Sendo vistos como tendência de mercado, as artes e pensamentos negros e anticoloniais são capturados pelos circuitos artísticos, que reencenam os processos de extração dos nossos corpos e perspectivas, reestruturando o Evento Racial. 49 Se relacionando com o pensamento glissantiano, a artista aposta na elaboração de estratégias de fuga que se posicionam “além do cercado do inteligível, à sombra dos regimes de representação e registros da opacidade”. Como, então, escapar pelas imagens?
Na mesa “Tiranias da Subjetividade”50 Leda Maria Martins arrisca a ruptura da ideia do sujeito racional moderno. Ao identificar os processos de autonomeação e autodeterminação na cena negra — enquanto demanda histórica de direito à fala, à refiguração e à reapresentação da negrura nos palcos brasileiros —, a intelectual aponta para uma possível ruptura do eu, ao elaborar a proposição do eu-nós, em que a pessoalidade não se restringe à noção de indivíduo, mas que se desdobra para a transformação do coletivo, numa rede de compartilhamento de afetos, memórias e experiências.
Castiel canta para todas elas, num é? Apesar da câmera empunhada para si, em “Para todas as moças” a artista ativa um jogo contínuo desse eu-nós. Não apenas na coletividade do grupo que anuncia (bichas, travestis, testículos femininos), mas com todas as existências visíveis e invisíveis do universo recriado, em que ela é, ao mesmo tempo, corpa, vento e ar. Não confinada em si, ela propõe um infinito de corporeidades que se transmutam à medida em que ela canta seu ponto. “Se meu corpo é água de hibisco…” Não consigo ver, mas imageio.
“Eu queria ser peixe”, diz Castiel, em “Uma noite sem lua” (2020). Em “Para todas as moças”, Castiel é rio e cu. É corpa que se tornará ventania e chuva. É metamorfose, ou melhor, transmutação. Dentro dessa encruzilhada, ela vive-comunica-produz-habita estados físico-químicos-espirituais da mudança. E foge, nos força à imaginação/imageação. A produzir imagens que estão vibrando no invisível, e que nos são compartilhadas através de outros registros, que não os da transparência.
Sobre opacidade e vulnerabilidade

A tradição da transparência é ocidental, hegemônica, ligada ao sujeito moderno, e como Castiel falou51, não há prosperidade sem acumulação e sem a violência dos nossos corpos pretos, uma vez que esse mundo se estrutura eliminando tantos outros mundos possíveis. Se queremos interromper o suposto tempo contínuo da história e produzir um evento suspenso e efêmero que nos impossibilite sonhar com a promessa de tornar-se sujeito… A criação desses eu-nós, que Leda nos sugere, seria uma rota possível para escaparmos dos processos de expropriação e captura?
Num mundo em que não apenas nossos corpos, mas as nossas ideias vendem, como escapar pelas imagens, uma vez que esse projeto de modernidade e sua constante reatualização são incompatíveis com a possibilidade de nos manter vivas? Retomo ao início dessa conversa: como acreditar nas nossas presenças sem implicar, necessariamente, na ativação da ideia de ser sujeito? Sem exigir, nas telas, a integralidade de nossos corpos? Como acreditar naquilo que as matérias e os materiais sussurram, cochicham, fagulham e emitem sobre esses eu-nós?
Em “Uma noite sem lua” (2021), Castiel diz: “Eu tenho medo ainda maior de enxergar cores que não consigo ver com meus olhos humanos. Com meus olhos que nunca foram humanos. Eu tenho medo de enxergar essas outras cores que não tenho nome. Eu tenho medo de enxergar essas outras cores que eu não sei dizer. Eu tenho medo dessas outras cores que me produzem cheiros e sabores que eu nunca senti, mas que eu lembro, que fazem parte de mim, mas que eu lembro delas, mesmo não lembrando de como dizê-las.” E se a gente abandonasse, ao menos por um instante, o ocularcentrismo e o logocentrismo? E se os territórios das opacidades, na produção das imagens (e nas nossas relações com elas), nos permitissem vislumbrar coisas que podemos lembrar ou sentir, ainda que não consigamos nomear ou ver?
No trecho citado acima, Castiel enfatiza duas sensações: angústia e medo. Ambas me parecem produzir estados de vulnerabilidade. Como essas sensações podem ser estimuladas ao ponto de nos permitirem aproximações com aquilo que não conseguimos traduzir em totalidade, mas que apostamos enquanto possibilidade relacional? Seria possível que os estados de vulnerabilidade reduzam as assimetrias relacionais que nos são impostas pela noção da diferença? Seria a instabilidade um momento possível de encontro e de troca (com os filmes)? Como estabelecer uma relação de confiança com as imagens enquanto estamos vulneráveis, e levantar como possibilidade trafegar entre territórios, até então, desconhecidos?
Desobedecer ao projeto do sujeito racional moderno é bagunçar radicalmente o campo das percepções. Estar com os filmes deixaria de ser um movimento de captura/interpretação para tornar-se um exercício das sensibilidades. Vulnerabilidade passaria a não ser visto como moralmente ruim ou indesejável, mas como estado de abertura para as relações até as últimas consequências, nos possibilitando criar campos de forças hipersensíveis e instáveis, que moveriam as fronteiras de nossas sensorialidades. Num eterno movimento de fuga e rearticulação do eu-nós, poderíamos, nem que seja por um instante, romper com o cerco da racionalidade. Um instante em que sensações, como a intuição e o pressentimento, habitem nosso encontro com as imagens. Um intervalo que, possivelmente, nos libertaria da cobiça de reduzi-las, compreendê-las ou aprisioná-las.
Referências
FERREIRA DA SILVA, Denise. A dívida impagável. São Paulo: ed. Oficina de Imaginação Política e Living Commons, 2019.
FREITAS, Kênia. Afro-fabulações e opacidade: as estratégias de criação do documentário negro brasileiro contemporâneo (2020). In: Pensar o Documentário: textos para um debate. Organização: Laécio Ricardo. Recife. Ed. UFPE, 2020.
GLISSANT, Édouard, Costa, K. P., & Groke, H. de T. (2008). Pela opacidade. Revista Criação & Crítica, (1), 53-55. https://doi.org/10.11606/issn.1984-1124.v0i1p53-55
MARTINS, Leda Maria. A cena em sombras. Editora Perspectiva, 1995.
MOMBAÇA, Jota. A plantação cognitiva. In: Arte e descolonização. MASP & Afterall. Org. Amanda Carneiro. São Paulo, 2020.
OLIVEIRA, Janaína. COHEN, Mark. With the Alma no Olho: Notes on Contemporary Black Cinema. Film Quarterly (2020) 74 (2): 32–38.
SANTANA, Tiganá. Tradução, interações e cosmologias africanas. Cad. Trad., Florianópolis, v. 39, nº esp., p. 65-77, set-dez, 2019.
O CINEMA, A MAGIA E AS MULHERES DE NELLY KAPLAN
“Posso imaginar um filme sobre uma bruxa que ateia fogo em todo mundo — e não é queimada”
Nelly Kaplan
“‘a natureza as fez feiticeiras’. — É o gênio próprio à mulher e seu temperamento. Ela nasceu fada. Pela volta regular da exaltação, ela é Sibila. Pelo amor, ela é Mágica. Por sua fineza, sua malícia (muitas vezes fantástica e benfazeja) ela é Feiticeira, e faz sorte, ou, pelo menos, adormece, engana os males.“
A Feiticeira, Jules Michelet
Em A debutante (The Debutante), pequeno conto de Leonora Carrington, uma jovem desgastada pela ideia de participar do próprio baile propõe a uma hiena do zoológico que ocupe o seu lugar. A hiena topa a empreitada afirmando: “não sei dançar, mas pelo menos posso ficar de conversa fiada”. Na noite da festa, usando vestido e máscara feita com o rosto destrinchado de uma das criadas, a hiena não se segura e faz um comentário escandaloso e autodepreciativo sobre seu cheiro, para logo em seguida devorar o disfarce de carne humana e fugir pela janela, deixando horrorizada a mãe da homenageada.
Trago aqui essa história por dois motivos: primeiro porque acredito que Leonora Carrington (1917-2011), artista e escritora surrealista inglesa radicada no México, se aproxima do objeto central deste texto — a diretora e também escritora Nelly Kaplan (1931-2020) — não só pela relação estreita com o surrealismo, mas pela forma com que conseguiam promover um tipo próprio de imaginário mágico, partindo muitas vezes do absurdo e do humor. E a segunda razão é que me parece ser um exemplo perfeito para o que Picasso, ao se deparar com a obra de Kaplan, teria afirmado: “Isso é insolência elevada ao estatuto de belas artes”. A Debutante carrega uma dupla insolência: da garota misantropa que empreende um plano mirabolante para fugir de um compromisso social que julga vazio, tedioso, cheio de pessoas com quem definitivamente não quer conviver, e da hiena, que no fim das contas não consegue sustentar a fantasia humana bem-comportada e se rende aos seus instintos selvagens primordiais. Carrington e Kaplan, ambas mulheres são exemplos de insolência feminina transmutada em arte, mas quero agora me deter na segunda.
“Haverá poetas! Quando a infinita servidão da mulher for quebrada, quando ela viver por si e sozinha, o homem — até agora abominável —, tendo-a libertado, ela será poeta, ela também! A mulher descobrirá o desconhecido! Seus mundos de ideias divergirão dos nossos? Ela encontrará coisas estranhas, insondáveis, repugnantes, deliciosas; nós as teremos, nós as entenderemos.”
A citação acima corresponde a um trecho da carta de Rimbaud para Paul Demeny datada de 15 de maio de 1871, na qual o poeta apresenta a Demeny sua “prosa sobre o futuro da poesia” e deixa transparecer uma ânsia profunda pela ascensão feminina na área. Mais tarde, a passagem com ares de vaticínio será repetida por uma jovem diretora na revista Positif (1964, no. 61-63) através do texto/manifesto Na Mesa das Mulheres Guerreiras, que entre outras coisas conclama por um maior envolvimento das mulheres no cinema e na produção de imagens eróticas. A autora do ensaio é Nelly Kaplan, que em vida, indubitavelmente, conseguiu encontrar e concretizar coisas estranhas, insondáveis, repugnantes e deliciosas.
Nascida em Buenos Aires numa família de origem judaica russa, Kaplan cursou Ciências Econômicas na universidade da capital, mas foi no cinema que encontrou uma via atraente. Aos 22 anos partiu para a França com uma carta de recomendação da Cinemateca Argentina endereçada a Henri Langlois, pouco dinheiro no bolso e quase nenhum conhecimento de francês — aprenderia mais tarde, pelo rádio, em seu quarto de hotel: “aprendi a falar escutando”. Como jornalista correspondente, frequentava os mesmos ambientes que a cinefilia local e fez seus primeiros contatos com figuras como Mary Meerson, Marie Epstein, Lotte Eisner, André Breton e Abel Gance, de quem receberia um convite para trabalhar como assistente quinze dias depois de serem apresentados por Langlois.
Da relação com Breton vem a confirmação do lugar de destaque que o surrealismo ocuparia naturalmente na vida de Kaplan. Além de ter seus manifestos e ensaios circulando em periódicos de cunho surrealista, posteriormente, sob o heterônimo de “Belen” irá publicar uma série de romances eróticos, insólitos e fantásticos, incluindo um “cine-romance”, Le collier de Ptyx (1971), cujo formato experimental conta com descrições de cena e posicionamentos de câmera. Com Gance as coisas tomam outros rumos, mais intensos talvez. Nelly passa quase dez anos numa relação profissional e romântica ao lado do diretor francês (que nunca chegou de fato a deixar a esposa), trabalha como assistente de direção e em alguns momentos atua em pequenos papéis — uma cortesã em La Tour de Nesle (1955) e Juliette Récamier em Austerlitz (1959), filme no qual também contribui com o roteiro e assistência de produção. O relacionamento entre os dois só começará a esmorecer em meados de 1962, quando Kaplan conhece o futuro colaborador, produtor de alguns de seus filmes e parceiro por toda a vida, Claude Makovski.
Foi Makovski quem produziu o primeiro longa-metragem de Nelly Kaplan, La Fiancée du Pirate (1969) (A Very Curious Girl na versão americana do título e Dirty Mary na inglesa), uma comédia sobre vingança e o moralismo fajuto que em certas ocasiões assombra pequenos povoados, como o vilarejo fictício de Tellier. Em La Fiancée du Pirate, Marie, interpretada por Bernadette Lafont, é uma jovem serviçal constantemente explorada pela patroa latifundiária. Após perder a mãe num atropelamento e ver os homens de poder da cidade recusarem o mínimo de subsídios para o enterro, dá início a um plano astuto que envolve seduzi-los um a um, extorqui-los e por fim revelar publicamente seus desvios morais. Marie se torna prostituta, estipula seu preço e seleciona seus clientes, mas não existe elogio ao gesto, nem a celebração da descoberta de uma sensualidade reprimida que agora poderá ser usada para outros fins. O corpo, explorado desde que chegou à cidade com a mãe — ambas sem documentos, ambas ciganas e bastardas, forçadas a trabalhar por um prato de comida — é um meio para um fim, uma teia que lança para capturar quem um dia a teve por menos que nada.

Quando entrevistada, Kaplan conta que a motivação inicial para o projeto veio de uma ideia aparentemente banal: “um filme sobre uma bruxa que ateia fogo em todo mundo — e não é queimada”. A imagem de uma bela jovem que maliciosamente grava as conversas que teve na cama com o prefeito, o dono da mercearia, o boticário e outros homens de destaque na comunidade, para depois, durante a missa de domingo, tocá-las através dos alto-falantes do gravador, é a imagem incendiária ideal. Mas se existe fogo, no final ele queimará lentamente a pequena cabana de madeira, isolada numa clareira, na qual Marie e sua mãe sempre fizeram morada. Os aldeões aparecem para consumar o linchamento, mas só encontram a casa tomada por chamas e um tipo de totem feito com os pertences da jovem adquiridos num longo processo de acumulação material. Roupas, lingerie, bolsas, tecidos, telefone, mangueiras para água corrente — empilhados e descartados, compõem um desmanche simbólico dos vínculos que ela ainda possuía com a cidade. Marie então parte caminhando sem sapatos em direção à liberdade que é sinalizada pelo pôster da exibição do filme A noiva do pirata.
Não se trata de um filme de fácil categorização e talvez seja um grande erro tentar enquadrar a obra da diretora em algum estatuto permanente como “surrealista” ou “feminista”. Num olhar mais detido, é possível ter um ou outro vislumbre de um tipo de comédia feita à sombra da hipocrisia burguesa, bem como as comédias de Buñuel, ou de uma “fantasia feminista”, na qual a transposição para a realidade feminina se faz quase impossível, como vai afirmar a acadêmica Linda Greene. O fato é que, escapando de definições, Nelly Kaplan conseguiu, em seu longa de estreia, tratar de temas tão densos como a exploração braçal e sexual, de uma maneira flutuante, leve na medida em que a crueldade é diluída na sátira e na vingança feminina. Marie é a bruxa que vive na floresta, conversa carinhosamente com seu bode preto, coleciona relógios dos homens com quem deita e os espeta na parede ao lado de um morcego empalhado. Tudo parece fazer parte de uma brincadeira ou um grande sortilégio: quando ateia fogo na cidade, ela não esquece de se divertir.
Já em Néa (Young Emmanuelle, 1976), terceiro filme de Kaplan e adaptação de um conto de Emmanuelle Arsan (a fonte dos inesgotáveis soft-porns “Emmanuelle”), somos apresentados à outra face da feiticeira. Se em La Fiancée… o que move suas pulsões é a fúria e a necessidade de instituir o caos, em Néa é o amor na sua forma mais aniquiladora que impera sobre o arbítrio da protagonista. Sybille Ashby (Ann Zacharias) é uma garota rica de 16 anos que, frustrada com a vida em família, passa os dias consumindo todo o tipo de literatura erótica numa espécie de abrigo secreto abarrotado de livros roubados e acompanhada de seu único amigo, o gato “Cumes”. Um dia, Sybille é pega em flagrante e levada a Axel Thorpe (Sami Frey), o belo dono da livraria que costuma desfalcar com seus furtos. Numa conversa reveladora, a jovem se gaba de ter talento no campo da escrita erótica e Axel, que também é editor, decide dar à adolescente a chance de ver seu trabalho publicado. A partir daí ela se torna obcecada pelo homem de 40 anos e insiste que precisa ter experiências sexuais com seu interesse romântico para poder escrever com propriedade. Em casa, as coisas são tão caóticas quanto seu universo interior: o pai rígido mantém o lar sob um regime sufocante, a mãe é apaixonada por sua cunhada e a irmã de Sybille caminha para se tornar parte indissociável dos jogos de poder do domínio paterno, ora nos negócios, ora no campo da sedução.

Comparado à obra de Catherine Breillat e ao tratamento que a realizadora dá a certos tabus, Néa também não deve ser condensado sem que haja um cuidado mínimo com os temas que alcança de maneira inconsequentemente juvenil. Após sofrer por um amor irreparável e contribuir para que a mãe possa viver ela também uma história de amor em liberdade, Sybille descobre que Axel assumiu a autoria de seu livro e a traiu com sua irmã. Ela então forja um estupro para castigá-lo, mas acaba se entregando ao desejo e foge com o editor e o dinheiro arrecadado com seu trabalho – um best-seller a essa altura.
Nancy Joyce Peters, poeta, ensaísta e teórica do surrealismo, vai afirmar que as respostas paradoxais à obra — “controverso”, “reacionário”, “progressivo”, “uma sátira feminista” ou ainda “antifeminista” — provêm do fato de que Néa lida com uma “problemática explosiva”: “como o poder feminino — sexual e intelectual — é percebido, imaginado, experimentado, ou pode ser potencialmente realizado. Além disso, Kaplan toma a posição escandalosa de insistir no amor”. De certa forma, a inconsequência é a lei que governa toda a moral do filme e os sentidos de uma adolescente que arde em paixão. É a sexualidade em expansão convertida em forças modificadoras, como o orgasmo através da masturbação observado pelo gato Cumes que libera a descarga criativa na escrita. Afastando-se de qualquer julgamento, Kaplan talvez esteja deixando para as espectadoras e espectadores essa tarefa árdua (ou não).

No último filme de Nelly Kaplan, Plaisir d’amour (The Pleasure of Love, 1991), temas recorrentes na trajetória cinematográfica da diretora, como as situações cômicas que brotam de mal-entendidos ou segundas intenções, a relação entre natureza e sensualidade e o revanchismo feminino permeado por uma sorte de simbolismos, vão culminar numa fábula tropical sobre um sedutor charlatão que é enganado por seus próprios impulsos. Guillaume de Burlador (Pierre Arditi), prestes a se lançar à morte em um vulcão chamado “Caldeirão do inferno”, toma a identidade de um corpo em estado avançado de decomposição ali encontrado e parte para uma ilha paradisíaca com a função de tutelar uma jovem desconhecida de 13 anos de idade — Flo — que vive com sua avó, tia e mãe: Do, Jo e Clo. Enquanto Flo não retorna de suas aventuras pela Europa, Guillaume, apresentando-se como Willy, seduz uma a uma as mulheres da família, acreditando que as relações estão em segredo e que é ele quem tira o maior proveito da situação. Gradativamente, “Willy” começa a perceber que a ilha e toda a dinâmica que as três mulheres estabelecem com o ambiente e os poucos criados do palacete em que vivem são recobertas por uma camada impenetrável de estranheza.

A constatação final é a subversão da malícia mantida até então pelo hóspede: Flo nunca aparece porque é uma fantasmagoria conjurada para atrair homens à ilha. Do, Jo e Clo se satisfazem com a companhia e as carícias dos tutores convidados, para logo em seguida substituí-los num ciclo contínuo. Guillaume enlouquece, entra num delírio convulsivo enfeitiçado pela imagem de pureza e aventura que a garota de 13 anos criada pelo trio evocava. A última gargalhada é doce e amarga, pois de que vale o esforço por parte dessas mulheres fascinantes se o objeto de desejo é tão volúvel a ponto de se deixar levar por um encantamento tão simples quanto a imagem de um quarto de menina e um manequim com vestido e chapéu?
“A inspiração, em todas as formas de arte, tem um toque de magia porque a criação é uma coisa absolutamente inexplicável. Ninguém sabe nada a propósito dela. Não creio que a inspiração venha de fora para dentro, de forças sobrenaturais. Suponho que ela emerge do mais profundo ‘eu’ de uma pessoa, do mais profundo inconsciente individual, coletivo e cósmico. Mas também é verdade que tudo o que tem vida e é chamado por nós de ‘natural’ é na verdade tão inexplicável como se fosse sobrenatural.”
Na sua relutância em tentar definir o que seria a magia, Clarice Lispector, como convidada no “Primeiro Congresso Mundial de Bruxaria em Bogotá” (1975), vai afirmar de maneira contida que inspiração e criação artística são manifestações de um mistério profundo, não provocadas por fatores externos, destaca, mas algo inerente ao “inconsciente individual, coletivo e cósmico”. A criação é tão natural quanto sobrenatural. Acredito que sua fala se alinha perfeitamente à citação de Kenneth Anger (talvez o bruxo produtor de imagens mais velho vivo hoje) que magicamente se revelou para mim na ocasião de seu aniversário no dia 3 de fevereiro, enquanto pensava sobre esse texto e no que pretendia ao afirmar que Nelly Kaplan, com sua obra, praticava uma forma de magia: “making a movie is casting a spell” (“Fazer um filme é lançar um feitiço”). Magia e cinema envolvem técnica, ritualização. Cinema é manipulação do tempo e da luz a fim de contar histórias, inventar mundos e criar imagens seguindo sempre vontades individuais ou somadas. Raúl Ruiz, quando fala a favor de uma noção de cinema experimental e “xamânico”, vai descrever as origens do registro da imagem em movimento como excepcionalmente ligadas à magia e alquimia:
“a mão de um homem das cavernas pressionada contra uma superfície levemente colorida, depois polvilhada com um sopro de pó vermelho brilhante, a primeira reprodução mecânica de uma imagem; simuladores (demônios do ar semi-transparentes, descritos por Hermes Trismegistus); sombras, pré e pós-platônicas; o Golem; o teatro de espelho de Athanasius Kircher; a névoa das montanhas que reproduz imagens maiores que a vida dos transeuntes (evocada por James Hogg nas “Confissões íntimas de um pecador justificado”); o céu acima do porto de Punto Arenas no Chile, que reflete imagens invertidas da cidade há meio século; o Fantascópio de Robertson; as borboletas mágicas em Coney Island. Todos prefiguram os filmes.”
Ao seu lado vejo Nelly Kaplan, aos 34 anos, traçando paralelos entre imagens e talismãs em seu texto O suficiente ou ainda mais (Études Cinématographiques no. 40–42, 1965): “A composição das imagens é um espírito num corpo”; ou ainda, fazendo um prenúncio-invocação no manifesto já citado Na Mesa das Mulheres Guerreiras: “Neste planeta há algumas poucas videntes, mulheres, que armadas com uma lente causariam uma grande agitação no mundo do teatro obscurecido”. Acredito que, além de vidente, Kaplan era uma bruxa autodeclarada com a habilidade de materializar, a partir de gêneros e abordagens supostamente populares como a comédia e o erotismo, um mundo inteiro repleto de mulheres poderosas em quartinhos abarrotados, objetos encantados, gatos, bodes, bolas de cristal, cartas de tarot e homens abobalhados. O amor e o desejo femininos como encantamentos supremos e o escárnio como artifício.
Nelly foi odiada desde o primeiro momento em que colocou os pés no set do diretor com quem manteve um affair amoroso e criativo por anos, esquecida (“criminosamente mal vista”, dizia o aviso no trailer da retrospectiva) e até tida como morta antes de vir a falecer de fato no ano passado. Nos obituários, a expressão reciclada inúmeras vezes — “anarcofeminista” — denuncia a falta de detimento em sua obra e vida. Aos 87 anos, diria: “Eu não gosto de movimentos! Eu sou uma pantera solitária. Não gosto que as pessoas me digam para assinar coisas. Gosto de viver em um galho na selva. O feminismo não me interessa. Não sou uma misógina, mas no feminismo, há um ódio aos homens e não posso aceitar isso. Existem os idiotas, mas os bons homens também. Se as pessoas são boas, eu gosto delas; se não, não. Eu sou uma bruxa. Eu sei disso”. Independente se a declaração nos atravessa ou não, é preciso aqui respeitar a história de mulheres que preferem ser vistas e lembradas trilhando um caminho solitário, longe do que considerariam uma perda da identidade. Kaplan era uma individualista, “pantera solitária”, nunca negou.
Quando a fotógrafa, escritora e artista andrógina Claude Cahun publica nas páginas do jornal Mercure de France suas histórias desvirtuadas de Eva, Dalila, Helena de Tróia e outras figuras femininas clássicas, o crítico Paul Léautaud, revoltado com versões mal-comportadas de mulheres que nos acompanham desde a mais tenra idade, vai descrever as narrativas subversivas de Cahun como “coisas abracadabrantes e transcendentais”. Gosto desse insulto que tanto parece enaltecimento e acho que não existe neste momento maneira melhor com que eu possa descrever o cinema de Nelly Kaplan em toda a sua mítica individualista, feminista, erótica, surrealista e a vastidão de implicações que já foram feitas a seu respeito: um cinema abracadabrante e transcendental. Que o interesse por ele possa se renovar para além dessas palavras.
Referências
CAHUN, Claude. Heroínas. A Bolha Editora, Rio de Janeiro, 2016.
CARRINGTON, Leonora. The Complete Stories of Leonora Carrington. DOROTHY PROJECT, 2017.
DUPONT, Joan. “Searching for Nelly Kaplan”. 08 de jun. de 2018. Disponível em: https://filmquarterly.org/2018/06/08/searching-for-nelly-kaplan/
FELINTO, Marilene. Lispector foi a congresso de bruxaria. Folha de S. Paulo, São Paulo, p. 6-7, 2 ago. 1992.
GREENE, Linda. “A Very Curious Girl: Politics of a feminist fantasy”. Jump Cut, no. 6, 1975, pp. 13-14. Disponível em:
https://www.ejumpcut.org/archive/onlinessays/JC06folder/VeryCurGirl.html
ROSEMONT, Penelope (Ed.). Surrealist women. A&C Black, 2000.
RUIZ, Raul (2005). Poetics of cinema (Vol. 2). Dis Voir Editions, 2005.
