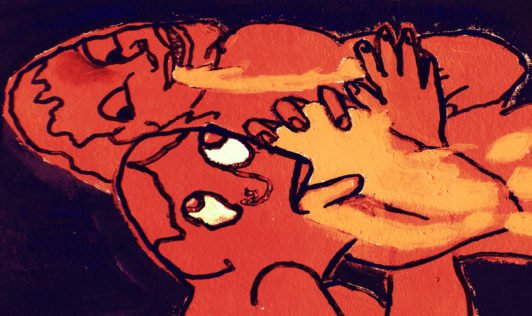ME QUERO INTEIRA E INCONDICIONAL

“Sita Sings The Blues” (2008) é um longa de animação da auto-intitulada “a mais amada cartunista desconhecida da América”. Nina Paley, a cartunista, animadora e diretora deste trabalho, se apropria e remixa criativamente diversas referências que vão desde fragmentos auto-biográficos, até o livro sagrado hindu “Ramayana”, épico sânscrito de 500 A.C. Tudo isso temperado com o charme das canções de Annette Hanshaw, uma das primeiras cantoras de jazz nos anos 20.
Despedi-me de minha amiga Mari, depois dessas conversas longas no horário de almoço que parecem uma terapia no meio do dia. Lembro-me de ela dizer: “de alguma forma, ele fala de amor incondicional”. O filme em questão era Sita Sings the Blues (2008), da animadora e cartunista Nina Paley.
Existe um elo comum entre o ato de conversar comendo uma sopa tailandesa e de ouvir um mito antigo: o conforto que ambos trazem e as emoções primordiais que são tocadas. E, por outro lado, há uma a diferença cultural, as especiarias são leves e doces, um sabor anacrônico para um saturado paladar industrial-ocidental.
Isso me fez pensar na coexistência das diversas realidades sociais e raciais, que no caso cercam a existência de mulheres no sentido do feminismo interseccional, – para entender melhor indico Djamila Ribeiro. E, assim como a realidade necessita de uma leitura cuidadosa, os mitos também. Então busquei olhar para Sita Sings The Blues com algumas camadas, gosto de imaginar que um “bom filme” acontece quando conseguimos descascá-lo e encontrar mais de um significado. As camadas que escolhi para analisar foram a mítica, a estética e estrutura de gênero das personagens.
Como fala Joseph Campbell em A jornada do herói, os traços arquetípicos e a estrutura oral dos mitos atravessaram milênios levando em seu bojo uma moral, um ensinamento que retratam a ordem social de uma época. A moral, por sua vez, não é rígida, e se modifica ao longo da história da humanidade. Os costumes e valores podem ser tão anacrônicos quanto alguns sabores. O que acompanha a formação de um mito depende da cultura, do momento histórico e do contexto onde surgiu.
Durante muito tempo os mitos considerados “universais” transmitiram para outros formatos de narrativas (as literárias e cinematográfica) costumes pautados em sociedades patriarcais que repetiam o lugar objetificado das personagens femininas. Trabalhos como A Jornada da Heroína e o Mito da Virgem, assim como estudos da mitologia yunguiana sobre arquétipos femininos, nos trazem outro olhar frente às narrativas consagradas. O ponto diferencial de jornadas de arquétipos femininos é que a moral ou o devir pelo mundo passa antes pelo devir psíquico, uma jornada interior, rumo ao autoconhecimento. Uma transformação de si para poder transformar algo no mundo.
Em Sita Sings the Blues temos o antiquíssimo livro sagrado indiano de Ramayana. Em formato de poemas épicos, ele é uma estrutura mítica balizadora da cultura hindu. A diretora Nina Paley destacou o casal heterossexual romântico, Rama e Sita, que protagoniza o mito. Como esse mito reflete uma estrutura social fortemente pautada no patriarcado violento que, apesar das transformações políticas, ainda hoje é presente na Índia?

Afinal, de quem é a jornada?
Uma nova oportunidade de emprego em outro país. Um chamado divino para provar sua força. Por que essas são jornadas irrecusáveis para protagonistas homens?
Vemos os principais plots (enredos) de Sita Sings The Blues em paralelo: a história mítica de Sita e a própria história de Nina, como autora-personagem. Diferente do mito, a diretora coloca Sita como personagem principal da história no mito Ramayana. No entanto, Nina-diretora mantém certas estruturas na narrativa que condicionam o destino de ambas as personagens às ações dos seus parceiros.
Quando o namorado de Nina recebe uma proposta de trabalho na Índia, eles precisam encarar uma mudança radical. A partir daí, ele começa a se distanciar emocionalmente de Nina.
Durante a aventura de Rama, Sita é sequestrada e vive em um cativeiro com o rei Ravana. Rama volta de sua aventura e chantageia Sita, impondo que ela faça “provas de fogo e água” para que prove sua “pureza”. Ele a humilha, duvida de sua palavra e coloca a vida dela em em risco, para provar que não irá ferir sua honra masculina. O destino de ambas as mulheres escorrega entre suas mãos para as mãos dos maridos.
O movimento passivo esperado da mulher, no caso de Sita, não é apenas a espera passiva, mas também a naturalização da violência. Ela é mantida em cativeiro por um rei e, mesmo depois de liberta, enfrenta sentimento de culpa pelo abuso sofrido e pelo posterior isolamento e julgamento social. Ela não poderia constituir uma família nos parâmetros aceitos pela sociedade hindu.
Faço aqui uma pequena colagem mental, trazendo um fato atual sobre o movimento feminista indiano. Uma muralha de mulheres marginalizadas (castas baixas, trans, povos da floresta), Vanitha Mathi, foi a imagem que estampou os jornais em abril de 2019. Reforçando a importância do aprendizado da escuta pelo feminismo interseccional, o fato nos lembra da realidade que mulheres indianas vivem sob o poder do hinduísmo ortodoxo, pautado em ideias de castas sociais, sexismo e neocolonialismo.
Revisitar o mito que constitui essa tradição patriarcal é, portanto, chegar em sua raiz.
Múltiplos enredos e o remix da cultura livre
A oralidade no filme aparece marcada pelas personagens-sombras como a figura de narradores da antiguidade que caçoam e fazem pequenas mudanças interpretativas de contexto durante o desenrolar da história. Esse exercício torna-se uma demonstração de como as narrativas orais são suscetíveis a mudanças e interpretações, derrubando a ideia da verdade e da história única.
Nina-diretora defende a cultura livre (nada melhor do que Wikipedia para falar disso). Baseada na ideia da liberdade de modificação e distribuição, a ideia de Cultura Livre é encontrada também no manifesto “RIP: A remix Manifesto”, e no livro “Cultura Livre” do criador Lawrence Lessig que originou o selo Creative Commons. A cultura livre defende que obras culturais e criativas, depois de um período, se transformem em domínio público retornando benefícios à sociedade.
Ao utilizar sem a concessão dos direitos autorais as músicas de Annete Hanshaw, Nina-diretora provocou após o lançamento online do filme uma balbúrdia na indústria cultural. Essa história, ao invés de prejudicar ou “roubar” qualquer originalidade da obra musical de Annete Hanshaw, provocou o contrário. Trouxe sua obra repaginada e com uma releitura contemporânea, tornou-a viva novamente.
Nina-diretora traz para o modo de produção a ideia de propriedade/liberdade que também é tratada no drama da personagem de Sita. A trilha musical por si só é uma personagem do filme. A terceira integrante dessa narrativa, a cantora Annette Hanshaw, também aparece como representação de Sita. Ela foi uma estrela do jazz americano da década de 30. O blues traz seu aspecto trágico e melancólico.
É fundamental ressaltar a origem etnocultural do blues, que se originou da população negro-americana, e os traços melancólicos mostram a resistência e a tristeza diante da experiência da diáspora e escravidão. O blues sofreu apropriações de cantores e cantoras brancas, como no caso de Annette Hanshaw. A cantora retrata sofrimentos de sua condição de mulher falando sobre submissão, relações abusivas, o sofrimento decorrente de uma situação de opressão e violência.
O que impressiona no filme é a originalidade ao costurar tantos enredos e fazer um caldo cultural com diálogo entre tradição e relações modernas multiculturais. Nesse caldo, de forma utópica (ou como imaginação de um futuro possível), essas tradições poderiam ser vividas sem conflitos ou dominações.
Libertando os traços
No artigo ‘Whose Body Is It?’, dentro da coletânea Animating the unconscious, a pesquisadora e artista Alys Hawkins defende a singularidade da animação como linguagem que conecta-se com a linguagem do inconsciente. Permitindo que este se expresse de forma não linear e através do desenho, ganha-se espaço para metamorfoses, anamorfoses e exageros que não são vistos em filmes live action.
Nina, em sua animação tragicômica remixada, flui entre fronteiras dos gêneros fílmicos. No desenho das personagens, a animadora reforça os estereótipos de gênero e beleza lembrando cartuns americanos hipersexualizados. A ironia escancara as dores, mas não liberta seus personagens dos estereótipos. O estilo de desenho se altera e perde o caráter de cartum sexualizado, para um desenho mais fluido e em camadas, quando Sita começa a se libertar dos papéis (literalmente!) socialmente impostos.
O amor incondicional, a flecha que abraça
“A paixão amorosa, desde o princípio, não é capaz de uma visão objetiva do outro, de entrar nele, antes é, um entrar profundo em nós mesmos, uma solitude multiplicada”
– L. Andreas Salomé (1986)
O arco é uma arma e também um símbolo recorrente em mitologias, como em Ramayana ou em Penélope. Ligado ao movimento necessário de se arquear, de se desdobrar diante da vontade para conquistar o que se quer, o arqueiro no entanto, é o conquistadOR.
Divagando sobre o ato de amar, encontrei Coral Herrera, uma estudiosa feminista queer que, em Os mitos românticos na sociedade ocidental, aponta o amor romântico como uma espécie de religião pós-moderna coletiva que nos promete a “salvação”. Ela mostra como ficamos incrustados na idealização e na decepção enquanto não nos abrimos a outras formas de amar.
Mesmo depois de acontecimentos sofridos, Sita repassa sua tradição para os dois filhos, em um canto de adoração ao pai ausente e abusivo. Ela cria e transmite uma imagem do pai que as crianças não chegaram a conhecer. A maternidade é retratada como uma fase “blue”, triste e solitária pela qual Sita atravessa acompanhada apenas de seu guia espiritual. Com o tempo, Sita alcança sua individuação.
No fim encontramos o amor incondicional e a incapacidade de mudança da masculinidade de Rama. Vemos Sita, que criou os filhos sozinha e próxima do mentor espiritual, cantando sua adoração ao pai das crianças. Rama reencontra a família por acaso. Ele não é capaz de enxergar o amor incondicional e continua com a ladainha repressiva de que Sita precisa lhe provar fidelidade.
Nesse momento, Sita conclama a deusa-mãe e entrega a única coisa que a pertence, seu valor maior: sua verdade. Toda a força, dedicação, amor que transmitiu aos seus filhos e junto com eles a lembrança – mesmo que fabular – do “bom pai” são oferecidos à Mãe-terra. Ela simboliza na cultura hindu a origem do Universo, criadora da vida, que engole ou abraça Sita em seu bojo.
Me pergunto, ainda, se manter as características de receptividade e amorosidade apenas quando falamos de arquétipos femininos não seria uma manutenção da binaridade, e da função maternal ligada apenas a mulher? Talvez seja necessário uma discussão e distinção entre arquétipos femininos/masculinos/andróginos e a discussão sobre identidade de gênero nas narrativas. Papo para uma próxima vez.

Aberta a interpretação, a metáfora nos coloca em duas interpretações: seria essa a volta de Sita para seu “amor inteiro”, ao ser integral? Ou seria uma versão suicida da história de mulheres que encontram a liberdade na morte? Sita dança com o fogo e se metamorfoseia: sacrifício ou ritual de passagem?
Nina brinca com essas duas possibilidades, sem nos dar uma resposta certa ou errada. Ambas lidam com a esfera da passagem pela dor, seja pelo sacrifício da própria vida, ou por ser necessário ter que ofertar o que se tem de mais valoroso para si. Não é assim que nos sentimos quando temos que sacrificar algo em nome de um relacionamento, trabalho ou escolha pessoal? O que deixamos para trás era possível de abandonar ou leva consigo uma parte do nosso ser inteiro?
O machismo e a violência que fazem parte das relações afetivas e da intimidade costumam ser os mais difíceis de se pronunciar, pois a chantagem pela promessa de afeto, da manutenção de um laço baseado na ideia de propriedade, muitas vezes é a única forma de ser amada que nos foi apresentada até aquele momento. A chamada para o auto-conhecimento e processo de cura através dele se dá pelo “amor inteiro”, como diz bell hooks. E pergunta brota uma pergunta: é possível manter a ideia de “construir” uma relação juntos sem a ideia de propriedade?
Como diz bell hooks em Vivendo de amor: para que seja possível o despertar interior é necessário um espaço e boas memórias, que nos deem exemplos de amor inteiro e de se relacionar com o outro em uma relação sem dominação. Por isso, lutar pela igualdade de gênero e racial é uma via de mão dupla, é transformar a si e transformar o mundo. Prosseguir é um movimento contínuo de estar sempre em vias de se completar plenamente.
Reinventar nossas formas de amar e nos amar não é excluir as formas que já existem. É um convite para pensar uma educação não apenas sexual, mas sentimental e sensível. O amor pode ser uma transgressão espiritual, mas que ele funcione como alimento para a vida, e não como alienação de si.
Leia os outros textos de Ana Julia Cavalheiro em seu Medium.
Assista ao filme aqui.
Voltar para tabela de conteúdos desse número