EDITORIAL
Esta edição da revista Verberenas e a quarta Sessão Verberenas fecham um ciclo de publicações e exibições de filmes que fizemos com o suporte do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal. Nem tudo que fizemos pode ser quantificado ou corporificado e nem deveria, existem coisas cujo valor não se mede, coisas invisíveis como todas as conversas que tivemos ao longo do ano, seja entre nós, seja com as autoras dos textos, com realizadoras dos filmes, pesquisadoras, leitores e espectadores. Reuniões semanais de produção ou encontros virtuais para tomar uma cerveja depois de um debate nos vêm à mente. Temos alguns registros desses momentos, mas na maioria das vezes esquecemos de tirar o famigerado print screen. Nossas memórias e cérebros humanos vão ter que dar conta disso. Existem outras coisas, entretanto, que podemos manter e que guardam nelas marcas dessas conversas que tivemos. Em 2021, foram 4 edições da revista, 37 textos entre ensaios, entrevistas, cartas, manifestos e editoriais como este, 4 filmes exibidos de 3 continentes diferentes, 3 ou 4 — dependendo de quando você estiver lendo isso — debates ao vivo. Esses números por si só não contam a história toda, mas eles guiam parte da narrativa, registram algo, dão um corpo para o trabalho, para o esforço, o cuidado e o afeto que nós colocamos nele.
Somos pessoas reais, carne viva buscando deixar um legado, uma contribuição em um mundo permeado de informação, mas muitas vezes, pouco contato. Tentamos nos encontrar com os filmes, umas com as outras, criar um território compartilhado, ainda que um território digital. Seja pela palavra escrita nas revistas, pela oralidade dos diálogos em debates e pelas imagens dos filmes, nos tocamos. E buscamos registrar esse contato, instaurar um arquivo de nossas inquietações.
Os textos desta edição se aproximam da construção de uma familiaridade em duplos movimentos: ao mesmo tempo lançam luz sobre os filmes em que memória, corpo e coletivo existem em simbiose, também fundam eles mesmos, no traçar da do ensaio e da crítica, o material que (até então) não foi feito.
Em seu ensaio, Katharine Trajano busca outra maneira de olhar para as pornochanchadas e até mesmo para a história do Brasil, através do papel ocupado pelas mulheres dentro e fora das telas. A “vontade de memória” contra a ausência de imagens move texto de Vilma Carla Martins sobre a autoinscrição de artistas negres em tela. Hanna Esperança evidencia o gesto de amor presente nos registros de família da cineasta Olga Futemma, que se transforma num diálogo entre gerações.
Bem próxima ao filme, Carolina Maria evidencia caminhos e ritos de “A Rainha Nzinga Chegou” rumo ao “desesquececimento” e manutenção do sagrado no presente. A reflexão sobre os ancestrais não passa, porém, apenas pelo rito, mas também pelo cotidiano, pela criação de novas imagens de famílias pretas, como pontua Renata Martins em entrevista conduzida por Lygia Pereira.
A vizinhança da morte desperta a ideia de um cinema múltiplo, de simbiose entre arte e vida, como pontua o ensaio de Natália Reis sobre os filmes feitos com/para Barbara Hammer. As imagens contra a morte — ou o apagamento — também são tema do texto de Alessandra Brito sobre os cinemas com/por mulheres quilombolas, que através da oralidade demarcam territórios reais e imaginários, e nos lembram: “Tudo ali era quilombo”. Não há familiaridade e, portanto, não há memória sem que se respeite os segredos e limites dos corpos e dos territórios. “Sem terra não há cinema”, cita a cineasta e professora indígena Sueli Maxakali, rememorando a frase do também cineasta e parceiro Isael Maxakali.
Essa fala de Isael parece ressoar por toda a edição nº 08 da revista de diferentes formas, com diversas inflexões, e vem da conversa publicada entre ela e Júnia Torres sobre Yãmĩyhex: As Mulheres-Espírito (2019), de Sueli e Isael Maxakali, que será exibido nesta Sessão Verberenas. A exibição acontece de 10 ao 12 de dezembro. No dia 12 às 18h, conduzimos um debate ao vivo com a antropóloga e cineasta Júnia Torres sobre o filme.
Yãmĩyhex: As Mulheres-Espírito é um filme que nos permite tatear, olhar para o invisível, perceber os limites do corpo e da terra. Nos aproximamos do segredo sem corrompê-lo. Exibir este filme neste momento histórico reafirma nossa “vontade de memória”, nossa política de estar ao lado dos povos da floresta. E de alguma maneira, o desejo em retomarmos nossa própria relação com o segredo, com o sagrado e com a terra, com as familiaridades e com a criação de um acervo de memórias para um futuro que desejamos. Percebemos que tudo se trata de como nos aproximamos: dos espíritos, das pessoas, da terra, de nós mesmos. Existe o cinema e nós existimos.
Glênis Cardoso, Amanda Devulsky e Letícia Bispo
OLOR
O cheiro não é codificável. O sentido do perfume é um sinal opaco que expande, pelo ar, mensagens entre o Brasil e Angola.
Kalunga nkoko unene, lungila meso, k’ulungila ntambi ko
(Kalunga é um grande rio que se pode percorrer com os olhos, mas não com as pernas)
— Provérbio de adivinhação usado entre os Bampanga da República Democrática do Congo1
Este texto-rosário é guiado pelas palavras de Elton Panamby e pelo documentário ‘’A Rainha Nzinga Chegou’’ (2019), de Isabel Casimira e Júnia Torres. Outras vozes também contam as contas dos mistérios que regem o rito das palavras, e serão anunciadas ao longo desta corrente. Por mistérios entende-se aqui o conjunto de eventos significativos que se relacionam com o invisível, acontecimentos esses inscritos nos tempos do documentário. Cada parte tenta uma aproximação com os momentos do filme no sentido de ‘“digerir o que o mistério não revela’”2, fugindo de uma linearidade dos acontecimentos encadeados na estrutura fílmica e buscando um caminho curvo entre os instantes misteriosos do filme, que ecoam, entre si, as sonoridades narrativo-textuais do Rosário.
I) Mistério da Anunciação
”Senhora Rainha
— Cântico do Congo
Chega na janela
Venha ver sua guarda
Sá rainha
Eu cheguei com ela”
O arquivo de um tambor incorpora o começo do filme, propulsionando a dança, o toque, e o canto das imagens uma vez que a presença da Rainha Cassimira será anunciada. O som dos tambores restitui a memória, a lembrança e a história do povo africano em exílio3 como nos conta Leda Maria Martins, Rainha de Nossa Senhora das Mercês da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário do Jatobá, em Afrografias da Memória. O som do arquivo incorpora uma atmosfera de rito que se abre, quase tudo é cantado nas primeiras sequências do filme: exceto a breve narração de peso etnográfico que apresenta o Candombe. Ouvir a guarda, em um longo espaço de tempo, diminui o nosso ritmo para entrar na velocidade do que está em cena. A repetição recria a dinâmica de estar com o filme. Em outro arquivo restituído para a exposição do documentário vemos a Rainha Isabel — a mãe — recebendo a visita de outro Reinado.

Enquanto a câmera tenta fixar o instante de chegada da guarda, algo escapa ao foco da captura e extrapola a cena: um som fora da marcação do ritmo se destaca dos demais. Ao contrário do instante histórico previsto, o som de patangome preenche os vazios da banda em harmonia na visita, quebrando a repetição no ar. Fora do centro de atenção da câmera, enquanto os Reinados se saúdam, encontramos quem ousa o som: uma criança balançava o patangome em outro tempo, até que um mais velho toma o instrumento de sua mão.
II) Mistério da Entrega
”Moçambiqueiro
— Cântico do Moçambique
É hora
É hora de viajá
É céu
É terra
É mar
Moçambiqueiro na beira do mar”
Assumo esta conta do rosário para compartilhar que já estive em dois ritos de entrega em cerimônias outras do catolicismo afrobrasileiro4, situadas em territórios distantes de Minas Gerais. O apego com o meu olhar a partir da presença nesses momentos vem de um laço com o momento de Entrega da Rainha-mãe Isabel. A dor da entrega de um posto, de um reinado, de uma coroa, ou de um rosário é a dor do fim de uma época, de uma estação, de um tempo comunitário em torno de uma Rainha que ali se entrega — é a soma de vários lutos. Quando uma Rainha é entregue os fundamentos não se encerram, mas a forma de tecer e reger os rituais ganham outra direção. A câmera, entre o aperto de uma sala cheia, direciona-se aos objetos de entrega, como um gesto de desesquecimento5. O registro de uma Entrega é um gesto ambivalente na medida que uma das motivações da captura é o grande volume de tempo que leva para o rito acontecer, no sentido de fixar o instante histórico. Por outro lado, desesquecer é um movimento que lembra a imagem das santas metamorfoseadas de Nossa Senhora do Rosário, como uma estratégia de reverter a ação erosiva do tempo sobre a memória.
III) Mistério do Acaso
”Essa noite nós andemo
— Cântico do Congo
À procura de um luar
Encontrei Senhora do Rosário
Hoje só que eu pude encontrá
Dim dim rim dim
Eu quero ver
Dim dim rim dim
Eu quero ver”
A História está andando uma vez que a Rainha-filha Isabel é a palavra viva que caminha pelas calçadas de Luanda. ‘’O que tem aqui tem lá, e o que tem lá tem aqui’’. A ação, com desejo espontâneo, do casal viajante que vai de encontro ao canteiro de Lágrimas de Nossa Senhora (ao mesmo tempo que a câmera recua como se previsse a aproximação) mistura o momento direto com o movimento dos companheiros de viagem, dando origem ao reencontro com a raiz das sementes.

IV) Mistério glorioso
‘’Palácio do rei
— Cântico do Congo
De longe avistei
Palácio do rei
De longe avistei
Rainha coroada
Coroa do rei’’
A câmera registra a Rainha-filha rezando diante do mar: ali é o território da realeza, e a câmera não ultrapassa o limite de seu sagrado — posicionando-se atrás de Isabel. As experiências do retorno às origens vivenciadas pela Rainha-filha remetem a direção compartilhada do documentário. Não é apenas um filme sobre as gerações de Rainhas do Reinado do Treze de Maio. É um filme da Rainha: a experiência de sua viagem é reinscrita no filme através de seu direcionamento compartilhado com Junia Torres. Os acontecimentos protagonizados pela Rainha-filha borram a perspectiva de um visionamento desencantado que lê as cenas como forçadas.
V) Mistério do mar
‘’Queira Deus
— Cântico do Congo
Queira Deus
Ô, povo do mar.
Queira Deus
Queira Deus
É hora de navegar’’
A água infinita se move em dois planos que dobram os tempos do documentário. Nas ruas de Concórdia a Guarda de Moçambique Treze de Maio preenche o ar anunciando que “é céu, é terra, é mar” após a entrega da Rainha-mãe Isabel ao rito de vida-morte. A mão sobre o som da Guarda reordena o tempo do filme nos deslocando para o outro lado da água infinita. De Luanda, o que tem lá tem aqui — e o que tem aqui tem lá. A continuidade sonora do Reinado Treze de Maio sobre o plano do mar de Luanda faz o canto deslizar no oceano, ao mesmo tempo que a voz da Guarda se apresenta como um portal entre-mundos. O plano do mar, como força matricial, retorna no final da viagem junto ao filme — como quem nos busca de volta para apanhar o que ficou para trás.
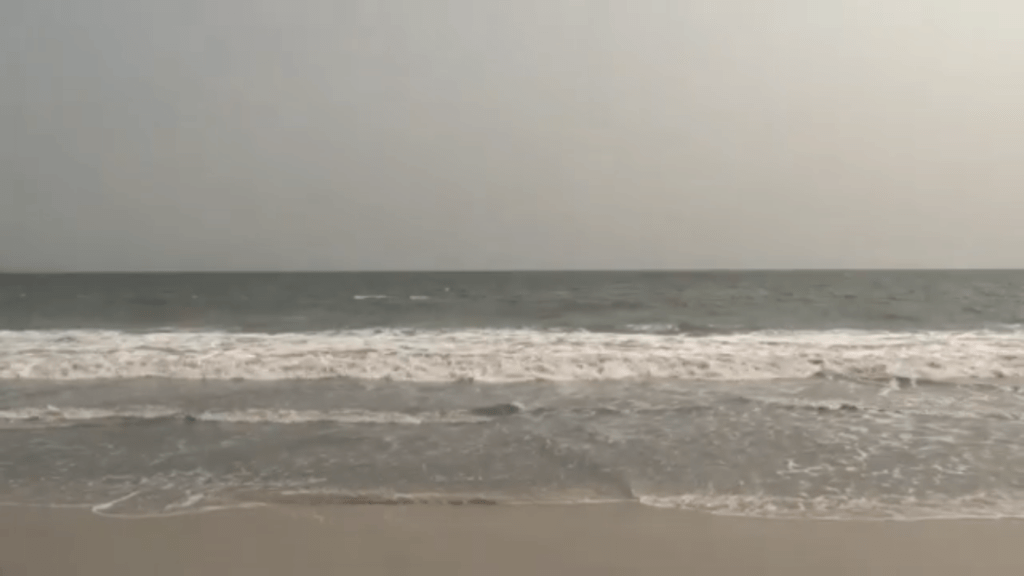
Observação: todos os cânticos que estão presentes no texto foram encontrados em Afrografias da memória: o Reinado do Rosário no Jatobá (1997), de Leda Maria Martins.
“INFERNO SÓ COM MACHO, PARA MIM, NÃO DÁ PÉ!”: TRAJETÓRIAS DE MULHERES FLAMEJANTES NAS PORNOCHANCHADAS
Nos últimos anos, tenho me aventurado no caminho dos estudos históricos sobre as sociedades. Fazer o exercício de recuperar fragmentos de um passado, focando nos campos da sexualidade e produções culturais, me fez encontrar e imergir nos estudos sobre o nosso popular. No Brasil em tempos ditatoriais sobre o qual me debruço, essa cultura pop se inscreveu em produções que seguiam o swing do corpo e o calor da carne, ora se aproximando, ora se distanciando dos regimes de segurança nacional cuja travessia fazíamos junto a outros povos de “contexto sudaca, pobre de aspirações e terceiro-mundista”, usando os termos da artista chilena Hija de Perra (2014).
É neste contexto caótico que algumas flamas da pornografia nacional se acendem e, juntamente às telas de cinema, esquentam o debate aqui proposto: surgem as pornochanchadas — filmes que se popularizam no final dos anos 1960, com crescimento na década seguinte e recrudescimento em meados de 1980. Enquanto um conjunto de obras cinematográficas caracterizadas pelas cotidianices e temáticas sexuais, estas atraíam grande público aos cinemas brasileiros, tornando-se um dos nossos maiores fenômenos de bilheteria.
A produção destas foi associada à influência do cinema libertário europeu, especialmente às comédias italianas divididas em episódios, assim como à exploração das práticas sexuais nos filmes em alta naquele período no cenário mundial — conhecido como sexploitation — e a uma atualização das chanchadas, gênero paródico e musical que obteve sucesso no país em décadas anteriores. Independentemente das correlações, é preciso dizer: as narrativas, as estéticas, a forma com que estas circulam e adentram ao imaginário coletivo só são possíveis graças às nossas próprias complexidades enquanto sociedade e ao contexto de produção-exibição-distribuição. Em linhas gerais, a pornochanchada se autodefine.
Tal título, que une pornografia à chanchada, torna-se uma pecha aos filmes produzidos, largamente, nas capitais paulista e carioca no período ditatorial —homogeneizando o horror, a comédia, o drama e outros subgêneros ali — graças às atuações de cineastas cinemanovistas ou nacional-populares, junto a críticos e jornalistas que tocavam o debate midiático não apenas como mediadores e comentaristas, mas como guerrilheiros.
E por qual razão se inicia este atrito? Ora, as trincheiras aí se travavam no embate público sobre uma “verdadeira” identidade cultural brasileira. Elas eram disputadas pelos setores da classe média/alta, branca e intelectualizada, incorporada especialmente por homens cisgêneros e heterossexuais brancos durante o período ditatorial, remetendo à própria crise de uma elite — ainda colonial, falsamente moderna —, seu desejo sobre o domínio da produção cinematográfica e do investimento estatal. Para se afirmarem enquanto um cinema engajado e institucionalizado (ou pretenso a tornar-se), seja rumando à esquerda ou se acomodando à direita, tal grupo foi responsável por deslegitimar a pornochanchada e toda uma gama de profissionais autônomos e ‘self-made’ nestas atuantes.
Entre as publicações jornalísticas e de críticos que também eram cineastas surgem as primeiras classificações e nomeações sobre esta. Em minha dissertação6, exponho que esta diferença é criada por meio de falas racistas, classistas e sexistas amplamente veiculadas na mídia tradicional golpista e especializada, às vezes, sem sequer problematizá-las enquanto uma obra fílmica, mas automaticamente atribuindo um juízo de valor a estas e ao seu público. Ainda que perpetuando visões estereotipadas e narrativas conservadoras, enquanto um fenômeno cinematográfico e histórico, as pornochanchadas construíram um saber sobre o sexo ainda atual, impregnado em nosso imaginário acerca da sacanagem e filmes brasileiros mal ditos. Afinal, quem nunca ouviu dizer que a nossa produção é formada tão só por sexo e palavrão?
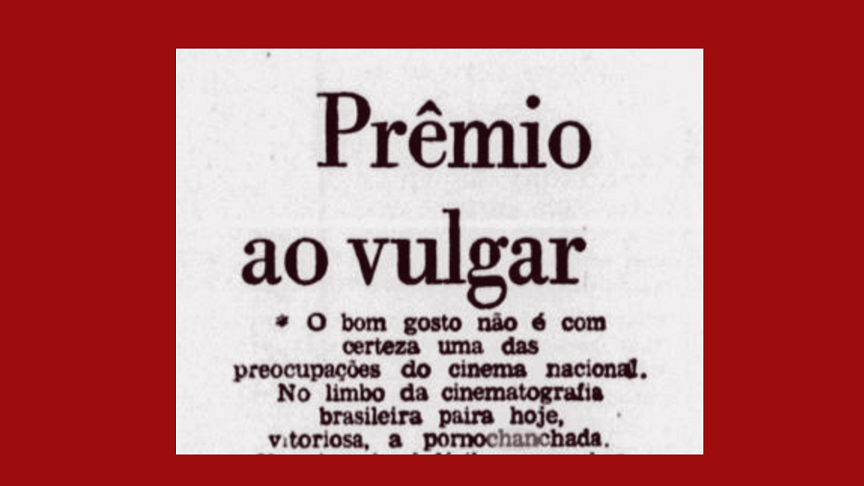
Pornochanchadas em Recife. (Diário de Pernambuco, 28/02/1975)
Me interessa saber, então, dentre o que escorre como lava do discurso midiático sobre as pornochanchadas, o que delas se sedimentou nas bases do que hoje pensamos enquanto cinema brasileiro. Títulos como Neochanchadas e Moneychanchadas7 nos chegam em trabalhos acadêmicos e jornalísticos sobre filmes de classe média emergentes com grande público, a exemplo de Vai que cola (César Rodrigues, 2015) e De pernas para o ar (Roberto Santucci, 2010); paralelamente, também observamos outras maneiras de se falar sobre a sexualidade, entendendo-a enquanto potência — sobretudo espaço — de construções individuais e coletivas escaldantes em mostras e festivais não brancos e não heteronormativos. Traçam-se paralelos, inclusive, com a Pós-pornografia, que reconhece nas pornochanchadas um fio condutor na tríade sexo-gênero-sexualidade enquanto poética e modo de fazer cinemas experimentais localizando rastros de subversão em enredos aparentemente conservadores8.
A continuidade desse ciclo, para mim, se manifesta para além das narrativas fílmicas, residindo na inventividade e nos imaginários cinematográficos e sexuais brasileiros que são, também, históricos. Há um intenso debate entre a politização e a despolitização desse gênero que ignora como a pornochanchada é o ponto final de um arranjo: se interliga à vida noturna e a seus profissionais que passam a ter funções dentro das realizações (atuar, maquiar, produzir, etc), aos acordos feitos com pequenos empresários locais para seu financiamento (já que não tinham investimento estatal, no caso paulista), às filmagens curtíssimas e inúmeras permutas, e, a uma gramática da sacanagem que é quase inteligível/intraduzível para aqueles que insistem na moralização do sexo. Ou melhor, na moralização deste no cinema brasileiro realizado por e para as classes populares.
O gozo das pornochanchadas é apreendido pelas classes C e D junto com seus cacoetes, corporalidades, exageros e ocupação dos cinemas, graças a uma carnavalização que não dura 5 dias de folia, mas algumas horas possíveis dentro de uma ditadura nefasta. Da mesma forma foram as sexi-comedias argentinas e o destape espanhol. Esse entendimento nos faz deslocar o espectador como uma mera figura passiva, situando também que não só a atuação da censura federal ou das leis de obrigatoriedade criadas no período justificam a ascensão dessas obras.
Essa complexidade é também inerente ao pornochanchar quando pensamos nas disputas entre os núcleos cinematográficos do Rio de Janeiro e São Paulo: apenas o primeiro consegue financiamento entre bancos e da estatal-mista, a Empresa Brasileira de Filmes S.A (Embrafilme), alçando maior projeção nacional e internacional com apoio ditatorial e de figuras como Gustavo Dahl. No entanto, evidencio que é sobre a Boca do Lixo, em São Paulo, que tenha recaído primeiro o título de pornochanchada justamente por desenvolver, desde o final dos anos 1960 e início de 1970, produções mais artesanais, com baixo orçamento, desvinculadas de produtores tradicionais e sem apoio estatal/municipal. Falarei sobre cada pólo, respectivamente, trazendo alguns apontamentos a seguir.
Sob o calor carioca e com o apoio da Embrafilme observamos surgir uma versão mais glamourizada do sexploitation brasileiro: os pornôs-chics, segundo o historiador Alberto da Silva (2016), mergulham em obras ufanistas e nas discussões psicanalíticas — posso citar o Toda nudez será castigada (Arnaldo Jabor, 1972), A dama do lotação (Neville D’Almeida, 1978), As aventuras amorosas de um padeiro (Waldyr Onofre, 1975) e Mar de Rosas (Ana Carolina, 1977).
Simultaneamente, se inscreve uma faceta também presente em algumas obras “revolucionárias” ou “chics” do período: a do racismo. Outra historiadora, também cineasta, poeta e escritora, a célebre Beatriz Nascimento, chama de “delirantes” as representações criadas nesta esteira por Carlos Diegues, Glauber Rocha e Nelson Pereira dos Santos de figuras nordestinas e não brancas, especialmente, a de mulheres negras como ela, a exemplo de Xica da Silva (Carlos Diegues, 1976).
Dentre as obras consideradas pornochanchadas, observamos uma continuação dessa tônica. Num período no qual a disputa por uma identidade nacional se acirra, ressurge com ainda mais fôlego ideias de democracia racial que se intercalam, também, à tentativa do governo ditatorial de imprimir uma imagem brasileira miscigenada e de permissividade sexual. No RJ, não demorou para que a figura mítica da “mulata”, mais uma das chagas coloniais brasileiras, fosse rememorada nos filmes e até nas campanhas da Empresa Brasileira de Turismo (Embratur) veiculadas massivamente ao exterior com o apoio da própria Embrafilme.
Na fileira de diretores que produziram acerca desta temática e algumas das “musas” que elegeram, elenco: Carlos Mossy dirigindo Adele Fátima (Com as calças na mão, 1975) e Lucia Legrand (Bonitas e gostosas, 1979), Roberto Machado e a sua parceira de equipe, Julciléa Telles (Uma mulata para todos, 1975), o diretor Victor di Mello que fez também trabalhos com Julciléa e Gloria Cristal (ambas em A mulata que queria pecar, 1977).
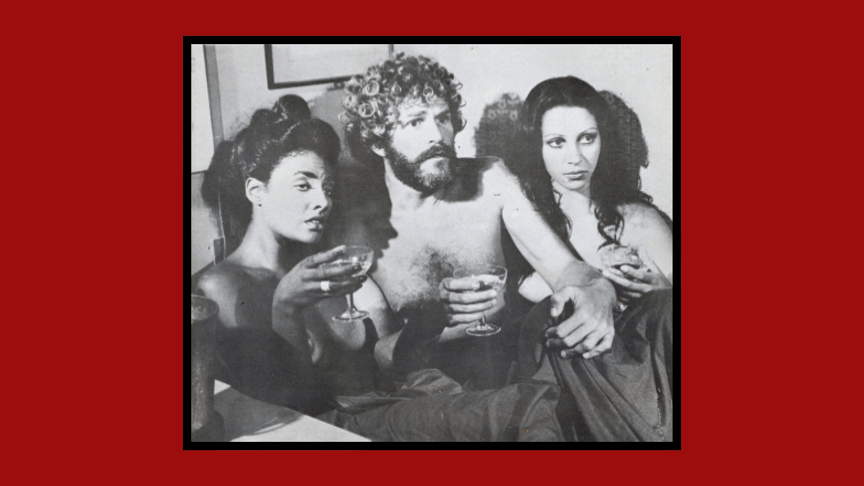
em foto de divulgação do filme A mulata que queria pecar (Victor di Mello, 1977)
Para além de ocupar um lugar no hall de estrelas fundamentais às pornochanchadas, observo entre as documentações da Cinemateca Brasileira e outros arquivos que mulheres cis e transgêneras colaboraram ativamente para o desenvolver deste gênero.
Julciléa Telles, por exemplo, não foi só atriz: coproduziu com Roberto Machado os filmes Essa Freira É Uma Parada (1977) e A Gostosa Da Gafieira (1980), seu primeiro roteiro e obra na qual também trabalhou na direção de arte; foi figurinista em Deu A Louca Nas Mulheres (1977) e na guinada ao pornô que Machado dá nos anos 1980 com os filmes A Sonâmbula (1982), Tabu da Virgindade (1982) e Piranha de Véu e Grinalda (1982), nos quais igualmente interpreta personagens.
Ainda nestas veredas cariocas, outra participação deve ser rememorada: é no filme A mulata que queria pecar (Victor Di Mello, 1977), já citado, que Cláudia Wonder faz a sua estreia nas telas se identificando enquanto uma mulher trans. Wonder já havia trabalhado, anteriormente, na maquiagem de algumas obras, reflexo de sua atuação e vínculo ao underground paulistano. Na década seguinte, em São Paulo, ela dá vida à personagem Jéssica no filme Sexo dos Anormais (Alfredo Sternheim, 1984), interpretando uma travesti que interpela o essencialismo sobre o seu corpo e desejos.
Essa última obra se ambienta na região conhecida como Boca do Lixo, onde estava o quadrilátero do cinema — ponto de encontro das Ruas Timbiras, Andradas, Vitória e Triunfo, no bairro da Luz (SP). Nela, se encontravam diversos/as realizadores/as, “roteiristas de suvaco” que zanzavam pelas produtoras, profissionais autônomos/as que já trabalhavam com o cinema ou não, porém, enxergavam-o como possibilidade de remuneração e sustento entre o dito milagre econômico, o consumo interno de obras nacionais e o ritmo frenético de produções lá observados. Entre 1970-1980, a Boca realizava em média 90 filmes por ano e ocupava 40% dos espaços cinematográficos no país, rivalizando nos circuitos comerciais com o cinema estrangeiro e o do Rio de Janeiro.9

(Diário de Pernambuco, 19/03/1973, autoria desconhecida).
É no interior desse contexto paulistano que surgem personagens monstruosas de horror/terror que subjugam o jogo de poder generificado utilizando a violência como estratégia nas pornochanchadas — podemos observar as personagens principais do luso-brasileiro Jean Garrett nas obras Karina — objeto de prazer (1982) e Excitação (1976). Em seu filme A ilha do desejo (1974), Jean integra o subgênero policial da Boca tornando a pernambucana Fátima Antunes (oriunda de Vitória de Santo Antão, eleita Miss na mesma cidade, em 1972) protagonista junto a David Cardoso, mato-grossense popularmente conhecido como o Rei das pornochanchadas e dono da produtora Dacar, responsável pela obra.
Em 1972, Antunes tinha sido Miss Objetiva Brasil, perdendo o título na competição internacional para a peruana Susana Grundel. Neste e nos anos seguintes, ocupou as colunas sociais de Recife e atuou em outras produções paulistas — Caçada Sangrenta (1974), de Ozualdo Candeias, foi uma destas. Sua participação revela que alguns fluxos e cartografias podem ser feitas para compreendermos as dinâmicas geográficas que envolvem as pornochanchadas, principalmente tendo a Boca como um chamariz, agente.

Outra figura de destaque entre os vestígios das pornochanchadas da Boca é Rosângela Maldonado; esta já possuía um robusto currículo — nos anos 1950 havia interpretado papéis em filmes como Milagres de amor (Moacyr Fenelon, 1951) e Almas em conflito (Rafael Mancini, 1954), participava de programas televisivos, era locutora da Rádio Tupi, vedete nos teatros e nas noites cariocas. Tais ocupações lhe renderam o título de Rainha do Carnaval, em 1954, pela Associação de Cronistas Carnavalescos (ACC) e Rainha do Cinema Brasileiro, em 1962.
Nos anos 1970, em São Paulo, ela participou dos filmes Mágoas de caboclo (Ary Fernandes, 1970), Finis Hominis (José Mojica Marins, 1971) e O incrível seguro da castidade (Roberto Mauro, 1976). Entre os dados da Cinemateca e os pareceres da Censura, alguns choques fazem despontar Maldonado como realizadora: ela atua, produz, roteiriza e dirige os filmes de terror A mulher que põe a pomba no ar (1978) e A deusa de mármore escrava do Diabo (1978). Ambos enredos giram em torno de temáticas sobrenaturais como pano de fundo à uma insurgência de mulheres iradas contra a dominação masculina, cisheteronormativa, monogâmica e cristã — já que os “ataques” envolvem traições e outras disputas.
Tais produções suscitam uma disputa em torno de autoria com José Mojica Marins (o Zé do Caixão), que interpretou papéis nestes e afirmava ter codirigido as obras (sob o pseudônimo J. Avelar) e não ter recebido os devidos créditos. Em especial à Folha de São Paulo sobre filmes trash, recupero uma passagem sua sobre tal causo:
Pelo país, outros amantes da sétima arte aventuram-se a realizar filmes baratos, mas muito originais. Nunca admiti que meus filmes fosse [sic] rotulados como ‘lixo’. Ao longo de minha carreira, sempre me esforcei ao máximo para realizar obras de qualidade sem um centavo no bolso. Levando-se em conta o sucesso e a popularidade dos filmes de Zé do Caixão, acredito que tenha me saído bem. Trash mesmo só fiz quando me aventurei pelo cinema erótico. ‘24 Horas de Sexo Explícito’ foi rodado em uma semana, gastando o mínimo possível. No final dos anos 70, me vi envolvido com outra autêntica bomba: ‘A Deusa de Mármore’, que ultrapassou o limite aceitável do trash e descambou para o lixão puro e simples. Quando percebi o abacaxi que me esperava, tratei de saltar da cadeira de diretor e participei discretamente apenas como ator, só para não contrariar a estrela da fita, Rosângela Maldonado, que assumiu pessoalmente a direção. Briguei muito para que a vaidosa coroa Rosângela aceitasse que meu personagem, o capeta em pessoa, tivesse ao lado algumas diabinhas formosas. Inferno só com macho, para mim, não dá pé! Seria muito trash para cabeça! (MARINS, José Mojica. Efeito ‘Ed Wood’: a síndrome do trash movie. São Paulo, Folha de São Paulo Ilustrada, 18/09/1998, grifos meus).
Maldonado e Mojica já tinham contracenado juntos na Boca em anos anteriores, entretanto, é justamente em 1978 que ela cria a sua produtora Panorama Filmes do Brasil, feito inédito no período, e sob esta lança os dois filmes comentados. Maldonado também é responsável pela direção criativa destes, encarregando-se ademais pelo figurino e maquiagem, elementos fundamentais ao cinema fantasioso. Porém, como vemos na passagem supracitada, seu cinema era “muito trash para cabeça”, ou será que causava incômodo maior alguns dos seus deslocamentos dentro da Boca? Já não era tão jovem quanto outras colegas de profissão, cuja beleza e sensualidade — dentro do sexploitation — eram sim dimensionadas através da geração, mas é justamente aos 50 anos que confronta outros pares com a sua escrita e proposições, chegando alada — em suas asas de pombas — até nós e eles.
As dinâmicas de narrativas, corporalidades, territórios, autorias, tal qual as disputas em torno de representar o “povo brasileiro” de uma forma fidedigna ainda nos movimenta. Entre as fagulhas daqui lançadas percebo que as pornochanchadas também inflamam este debate há mais de 50 anos interpelando não apenas mulheres brancas e não brancas, mas toda uma estrutura, inclusive no que diz respeito ao que a prática sexual ocupa em nossos horizontes imaginativos impactados e dialogados na cultura pop. Nas últimas duas décadas é que temos nos voltado à sua análise, acessando seus contextos e espectatorialidade, traçando outros contornos ou pontos de partida. O exercício aqui exposto é de salvaguarda, quase um compromisso por e pelas frestas fílmicas longe de se encerrar e, talvez por isso, tão dialógico, coparticipativo e inflamável quanto elas. Quanto é possível dessacralizar essas e outras tantas ‘diabinhas’? Quantas Cinematecas podem surgir no meio deste inflamar?
(PARA BARBARA)
Em meados de 2004, Joan Didion daria início a uma das suas obras mais densas e conhecidas, O ano do pensamento mágico, uma recapitulação do período que se sucedeu após a morte do marido enquanto a filha era mantida internada em estado grave de doença. As primeiras frases de Didion no livro falam do abalo provocado por uma morte súbita: “A vida muda rapidamente. / A vida muda em um instante./ Você se senta para jantar, e a vida que você conhecia termina. / A questão da autopiedade.”. John Dunne, com quem era casada há quase 40 anos, havia padecido de um ataque cardíaco sentado à mesa esperando pelo jantar, e esses versos ficariam em suspensão até que a escritora conseguisse retomar meses mais tarde a empreitada de mergulhar na dor e nas angústias que permeavam sua recente condição de viuvez.
“Essa é minha tentativa de entender o período que se seguiu, as semanas e então os meses que levaram com eles qualquer ideia fixa que eu pudesse ter sobre a morte, sobre a doença, sobre probabilidade e sorte, sobre boa e má fortuna, sobre casamento, filhos e memória, sobre a dor, sobre a maneira como as pessoas lidam ou não com o fato de que a vida acaba, sobre como a sanidade é frágil, sobre a própria vida. Fui escritora a vida inteira. Assim, mesmo ainda criança, muito antes de as coisas que escrevia começarem a ser publicadas, desenvolvi a percepção de que o significado em si residia no ritmo das palavras, das frases e dos parágrafos, uma técnica para reter o que eu pensava e acreditava por trás de um verniz cada vez mais impenetrável. A forma como escrevo é o que sou, ou o que me tornei; entretanto, neste caso, gostaria de ter, em vez das palavras e de seus ritmos, uma sala de edição equipada com um Avid, um sistema de edição digital no qual pudesse pressionar um botão e desmontar a sequência do tempo, mostrar a você, ao mesmo tempo, todos os fotogramas da memória que me vêm à mente agora, e deixar que escolha as sequências, as expressões ligeiramente distintas, as leituras variantes das mesmas falas. Neste caso, as palavras não me bastam para encontrar um significado. Neste caso, preciso que o que penso e acredito seja penetrável, ao menos para mim mesma.”
Ao mencionar o desejo por uma sala de edição na qual pudesse demonstrar e desmontar as memórias, em oposição à aparente afasia que lhe tomou de assalto quando as palavras já não bastavam para dar vazão ao luto, Didion deixa pairar um tipo de indagação preciosa: e se, frente à morte, pudéssemos acessar através de imagens o legado de uma vida? Barbara Hammer, cineasta com 50 anos de carreira cuja obra ressoa, entre tantas outras coisas, a vivacidade dos corpos e das vozes femininas em contato direto com o mundo, vai chegar bem perto de responder essa questão.
Hammer morreu em 16 de março de 2019, aos 79 anos de idade, tendo convivido nos últimos 13 com um câncer de ovário com metástase nos pulmões. Em uma entrevista realizada à New Yorker cerca de um mês antes de sua morte (sua “Exit Interview”), vai falar abertamente sobre a opção pela prática de assistência aos pacientes terminais que prioriza o alívio da dor diante da impossibilidade de recuperação — popularmente conhecida como tratamento paliativo — e sobre como a experiência passou a atravessar seu trabalho e seus instantes finais ao lado da companheira de longa data, Florie Burke.
Em 2018, a realizadora vai apresentar em pelo menos quatro ocasiões diferentes a leitura/performance “The Art of Dying or (Palliative Art Making in the Age of Anxiety)”, idealizada a partir das Cartas para um jovem poeta, de Rainer Maria Rilke, e da sua relação com o paliativismo. Contando com a exibição de alguns de seus filmes (Dyketactics, 1974; Sync Touch, 1981; Sanctus,1990), Barbara Hammer faz uma retrospectiva da sua trajetória artística assumindo uma postura generosa de conselheira para as novas gerações de artistas, enquanto advoga por mais abertura para as discussões em torno de um assunto que julga tão desprezado no meio: a inevitabilidade da morte.
“Há um medo geral de falar sobre a morte no mundo ocidental. É como se, ao não mencioná-la e discuti-la, ela desaparecesse. Nós mesmos prestamos um desserviço ao não nos engajarmos em ruminações sobre esta força vital tão poderosa. Pois não estamos vivos até nosso último suspiro? E isto não é um direito de passagem que desejamos abordar em nossa arte? Em nossos seminários? E em nossas exposições no museu? Ao hesitarmos em enfrentar a última fase da vida, damos uma mensagem para nos calarmos. (…) Em vez disso, eu tenho discutido sobre a doença terminal. Nós, no mundo da arte, todos nós: artistas, curadores, administradores, amantes da arte também, estamos evitando um dos assuntos mais potentes que podemos abordar.”
No fim da leitura, as convencionais “perguntas e respostas” (Q&A) são convertidas no que a diretora vai chamar de “respostas e perguntas” (A&Q), momento no qual se aproxima de alguns indivíduos da plateia e busca saber sobre as suas impressões — um diálogo sem hierarquias que vai caracterizar grande parte da sua filmografia. Essa despedida, que toma contornos de compartilhamento e de conversa sincera, é um elemento indissociável do caminho que traça para que outros possam continuar acompanhando seus passos, ainda que não esteja mais presente. Numa operação semelhante, com o apoio de uma bolsa do Wexner Center, Hammer vai convidar quatro cineastas com os quais possuía afinidades criativas — Lynne Sachs, Deborah Stratman, Mark Street and Dan Veltri — para concretizar cinco(1) filmes inteiramente novos tendo como ponto de partida um gesto de apropriação de seus arquivos e seus projetos inacabados.
Até agora, somente duas obras já puderam ser finalizadas e circular livremente por festivais e canais de streaming (incluindo uma pequena mostra no Mubi chamada “Ways of seeing with Barbara Hammer”). A seguir, algumas notas sobre dois curta-metragens, A Month of Single Frames (for Barbara Hammer) (2019), de Lynne Sachs, e Vever (for Barbara) (2019), de Deborah Stratman:
A Month of Single Frames
(for Barbara Hammer)
Realizado a partir de imagens e notas que Barbara Hammer fez durante uma residência artística em Duneshack, na região da costa marítima de Cape Cod, Massachusetts, em 1998, A Month of Single Frames é a revisitação de um momento de criação solitária da diretora e sua relação com a paisagem que se desdobra como tema cinematográfico possível. Assumindo o próprio tom arquivístico, o curta vai ser guiado por uma conversa gravada entre Lynne Sachs (responsável por sua concretização) e Hammer, que inicialmente dá as coordenadas temporais e espaciais da narração: agosto de 2018, em seu estúdio em Westbeth, complexo habitacional para artistas em Nova York.
A voz já envelhecida reverbera no espaço, e, por um segundo, na escuridão total da tela de abertura, intuímos alguma coisa do ambiente no qual as duas realizadoras e amigas se encontram, e da proximidade ali concebida. Essa voz do agora, enquanto lê passagens do diário de 98, vai acessar um estágio primordial da criação artística (o nada, o ponto de partida, o experimento), ao passo que é entrecortada por intervalos de silêncio absoluto e imagens de uma natureza animista que ora se agita ora adormece. Insetos gigantes, o corpo nu da diretora eriçado com um jato de água gelada ao ar livre, a junção do céu e das dunas em tons incomuns. Somos introduzidos a um território de intimidade e descobrimento constante, guiados pela câmera 16mm que acaricia os elementos desse cenário recluso, explorando suas texturas, cores e formatos.

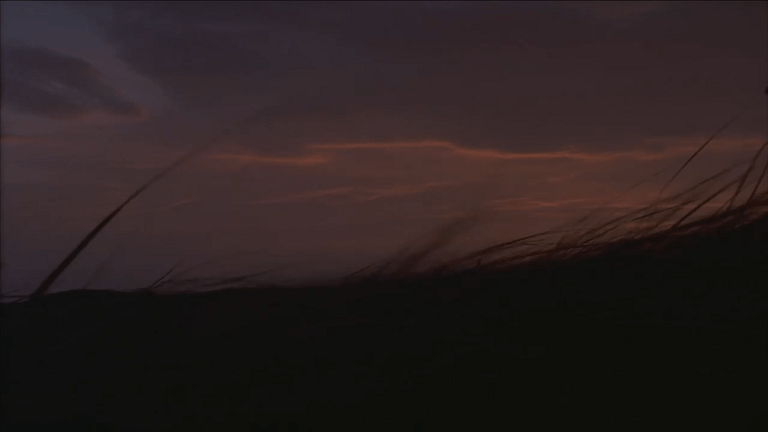

Os primeiros vislumbres do conjunto da obra de Sachs revelam a sintonia que se conserva entre as duas diretoras: artista multimídia, poeta, escritora de ficção, performer e cineasta, ela vai também, à sua maneira, conceber um cinema que muitas vezes articula o universo entendido como o das grandes causas (o ativismo, os movimentos pacifistas, o estudo da representação e condição femininas) e as questões que perpassam o familiar (os retratos da filha, do pai, as colaborações com o irmão, Ira Sachs) e o íntimo. O método composicional e o reaproveitamento de arquivos, a câmera que se porta como extensão do braço, dos dedos, da mão, numa cadência de familiaridade com o objeto filmado, tudo isso vai se avizinhar da proposta e das próprias práticas de Barbara Hammer, que dá início ao seu relato falando sobre o aspecto de “folha em branco” que os dias na residência em Duneshack lhe reservaram:
“Eu me senti obrigada a não fazer absolutamente nada. Não há absolutamente nada a fazer. Tudo espera ansiosamente pela descoberta. Esta manhã, eu comecei o filme. Eu não o filmei — eu o vi. A sombra triangular escura do barracão pela janela oeste no quarto do andar de cima encolhe e desaparece de sua formidável presença pelo sol que se levantava constantemente no céu. Enquanto eu permanecia sentada, transpirando, pacientemente emoldurando segundo por segundo.”
Em seu livro Hammer! Making Movies out of Life and Sex, Hammer vai listar e estruturar uma série de fatores que acredita estarem diretamente relacionados ao seu processo criativo. Entre “intuição”, “confiança pessoal” e “espontaneidade e fluxo”, o tópico “lembre-se da solidão da criatividade” sobressai como um canal de ligação direta para o que vemos em A Month of Single Frames. A “solidão da criatividade” da qual fala é materializada no plano deslocado, decomposto opticamente no seu filme não filmado, mas visto, e na imagem persistente da cabana sem eletricidade ou água corrente que habitaria por um mês. Observada à distância, sob as nuvens aceleradas e desaceleradas das inúmeras tentativas de time-lapse, a cabana ocupa um ponto central e isolado na paisagem e em seus procedimentos experimentais.
“o que eu realmente quero fazer aqui é projetar luzes coloridas nas dunas, usando o sol como projetor”
Em determinado momento, a leitura do diário leva a uma descrição detalhada de experiências feitas com filtros e diferentes proposições para operar o fluxo de captação da câmera, a grama comprida e fina que cresce entre as dunas é tomada por pequenos pedaços retangulares de plástico colorido, e uma série de planos de sombras multicor na areia é exibida com um texto, que, segundo Sachs, teria sido lhe revelado em um sonho durante a edição: você está sozinha/ estou aqui com você neste filme/ há outras aqui conosco/ estamos todas juntas. Pouco depois, um grupo de mulheres segurando folhas de papel celofane amarelas, verdes, azuis e cor de rosa é visto se movimentando de forma a dar prosseguimento com as projeções luminosas de Barbara Hammer. Lynne Sachs faz observações sobre as anotações que até agora, nostalgicamente, guiaram nossas impressões. Ela tenta retomar uma coisa ou outra, pede a Hammer que comente um tópico, as duas se atrapalham e se entendem logo em seguida.
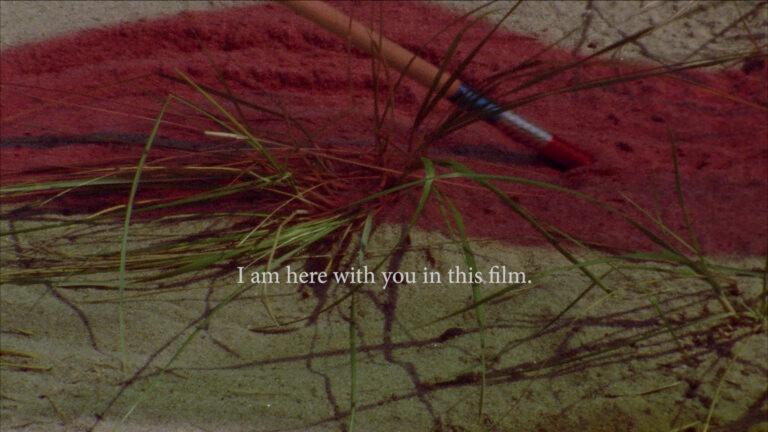
A partir do exercício colaborativo que desloca do tempo e de seus propósitos iniciais (Barbara Hammer diria que nunca usou tais imagens porque eram “bonitas demais”) os arquivos pessoais de Hammer, Sachs vai estabelecer um vínculo que respeita ainda a introspecção e o afastamento como momentos essenciais do desenvolvimento de um fazer artístico. A colaboração entre duas mulheres de gerações diferentes se confunde com o próprio exercício de montagem, de uma composição que depende de cada single frame, em toda a sua complexidade. Por fim, entre comentários sobre o envelhecimento e a constatação da própria Lynne Sachs de que fará 60 anos em breve, a mensagem singela revelada na tela se materializa como contato de algum lugar no futuro, e é clara e apaziguadora: não há nada o que temer, você sempre será vista e ouvida.
Vever (for Barbara)
Barbara Hammer contava que ainda vivia com o marido “numa casa no bosque” na Califórnia quando certo dia, ouvindo o rádio, se descobriria feminista aos 30 anos de idade (mais ou menos por aí se “descobriria” lésbica também). Um ano depois, abandonou o casamento, decidiu partir em seu Volkswagen para Berkeley, foi presenteada com uma câmera super-8 e desde então não pararia de fazer filmes até sua morte, somando mais de 60 obras. Acompanhou manifestações nas quais perguntava despudoradamente detalhes íntimos sobre a vida sexual dos participantes, se envolveu de maneira fervorosa com as discussões de gênero, tratou da sexualidade e desejo femininos com a atenção que merecem (filmando mais de uma vez o enlace dos corpos e o frenesi) e se tornou um ícone inestimável do dito cinema queer. O tipo de trajetória extraordinária cujos detalhes se acumulam numa relação simbiótica entre arte e vida.
Acrescentando mais uma camada à narrativa, em 1975 Hammer iria sozinha numa motocicleta BMW para a Guatemala, no intuito de investigar os processos culturais por trás das vestimentas dos indígenas e como o modelo de mercado ocidentalizado afetava seus mecanismos de troca e comércio. Com as imagens realizadas ali e deixadas de lado posteriormente, Deborah Stratman vai tecer um olhar que se apoia não só nos ecos antropológicos de Barbara Hammer, mas vai exercer um papel fundamental na elaboração de encadeamentos entre a diretora e Maya Deren, cineasta associada ao movimento surrealista e independente novaiorquino cujas anotações sobre mito e história no Haiti nos anos 50 vão servir de fio condutor para se pensar o papel do artista enquanto observador ativo de culturas dissonantes.

Conhecida por sua abordagem ensaística na reapropriação de arquivos tendo o som como elemento de destaque, Stratman vai desenvolver a paisagem sonora de Vever partindo de um telefonema como voz over, e se em A Month of Single Frames a voz de Hammer já carregava titubeante a idade avançada, aqui ela é quase irreconhecível, rouca, suspirante. Na ligação, a realizadora explica os motivos que a levaram a abandonar o projeto: nunca conseguiu encontrar um contexto pessoal ou um sentido político para aquelas imagens, e a falta de dinheiro (na época vivia num “porão sem água corrente ou banheiro, com apenas 100 dólares na conta”) também não contribuiu para que pudesse empreender tempo e energia tentando encontrá-los.
Através da concatenação do texto de Deren — cujas frases em destaque refletem, entre outras coisas, sobre as dificuldades encontradas quando a realidade do material não corresponde ao que foi idealizado inicialmente — e do depoimento de Hammer, o filme vai tratar também de um sentimento compartilhado por ambas: a frustração com a imprevisibilidade que percorre certos estágios da criação. Nesse sentido, tanto a obra de Deborah Stratman quanto a de Lynne Sachs oferecem uma perspectiva interna do processo criativo de Hammer, se abrindo ainda para a universalidade de temas como solidão e insatisfação na arte.
Quanto às imagens, vemos guatemaltecos olhando diretamente para a câmera como se posassem para um retrato de família, envolvidos em tecidos de cores quentes e estampas que simulam criaturas e vegetação. Os mercados repletos de frutas e legumes, as trocas e interações intermediadas por cestos em movimentação acima das cabeças e vendedores de Pepsi com uniformes brancos contrastando com o cenário. Tudo isso aglutinado pelas palavras de Maya Deren corridas na tela, pela trilha sóbria que seu marido, Teiji Ito, compôs para seu primeiro filme, Meshes of the Afternoon (1943), e por cartelas com símbolos de invocação de entidades do Vodu (os chamados “vever”), também feitos por Ito no período de imersão do casal nas crenças haitianas.
Ainda que Vever se caracterize por um tipo de curiosidade cultural que dispersa a câmera entre rostos desconhecidos e pela profusão de símbolos, referências e citações aparentemente distantes, o que sobressai das correlações trabalhadas na montagem de Deborah Stratman é um movimento convocatório e acima de tudo celebratório de visões femininas complementares, que exemplificam a colaboração não só como possibilidade de conclusão de uma obra, mas também como possibilidade de encontro para além da existência física. E quem poderia dizer que seria possível um dia ver Maya Deren e Barbara Hammer compartilhando o mesmo espaço nos créditos finais?


(Para Barbara e com Barbara)
“Morrer é uma arte como tudo o mais/ nisso sou excepcional”, diria Sylvia Plath um tanto amargamente em “Lady Lazarus”. É sabido que provavelmente referenciava suas inúmeras tentativas de suicídio, mas se existe de fato a autoridade de uma licença poética, ela é evocada aqui para permitir a contemplação de um outro quadro: em mais de uma ocasião, Barbara Hammer diria que ler biografias de artistas se tornaria para ela uma forma de estabelecer conexões e de descobrir por si mesma “como ser uma artista”. Buscar na vida de quem se admira pontos de intercessão para compreender a própria vida como parte de algo maior foi um dos tantos conselhos deixados pela diretora, e agora, após sua partida, resta a nós o mesmo gesto: a admiração e a compreensão de que viveu e morreu excepcionalmente, fez da despedida uma obra viva, que se abre ainda hoje num movimento contínuo de criação. Ao final de seu livro, Hammer vai afirmar que gostaria de ter seu trabalho lembrado nem que fosse por meio de seus escritos (“um filme precisa ser projetado, um livro só precisa ser aberto”), e de certa forma é reconfortante pensar que, ao contrário do que imaginava, sua memória vai perdurar por tantas vias possíveis.
GESTO DE AMOR EM FILME: RETRATOS DE HIDEKO E HIA SÁ SÁ — HAI YAH!
I
Notas sobre Olga Futemma, cineasta
Acredito que seria errado começar esse texto dizendo que os anos 1970 e 1980 ficaram marcados por uma alta produção de filmes (curtos) realizados por mulheres no Brasil, nunca antes vista na história do cinema. Não por ser uma inverdade, mas porque dificilmente esses anos ficaram marcados por isso. Pouco se conhece sobre essa produção e pouco se conhece sobre as diretoras que atuaram nesse período. Olga Futemma é uma delas.
Como muitas outras realizadoras da sua época, Olga dirigiu apenas alguns filmes através do parco financiamento das políticas públicas. Seis, no total. Nenhum longa-metragem. Também como muitas outras realizadoras da sua época, Olga se afastou do fazer cinematográfico ainda nos anos 1980, interrompendo sua carreira como diretora. Não se afastou, entretanto, do cinema. Imersa na cultura cinematográfica japonesa do bairro da Liberdade desde criança e passando pelo curso de Cinema da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, Olga realizou um extenso trabalho na Cinemateca Brasileira, que perdurou por mais de trinta anos.
As obras de Olga são infectadas por essa proximidade corpo a corpo com o cinema. São filmes que se desdobram sobre a representação, sobre a tela, sobre a performance e sobre o cinema como lugar de memória e preservação. São filmes também sobre a espectatorialidade, sobre o sentimento infantil, o deslumbramento mágico de assistir à tela. Nada mais cinematográfico que isso e também nada mais pessoal. Antes mesmo de Um passaporte húngaro (Sandra Kogut, 2001) e 33 (Kiko Goifman, 2002), Olga já discutia as relações do “eu” e, sobretudo, do “nós” em seus filmes, quando pouquíssimas narrativas no cinema brasileiro se voltavam para uma esfera autobiográfica.
O “nós” também está colocado nesse ponto de encontro com o cinema. Filha de imigrantes okinawanos, Olga dedicou a maioria das suas obras às questões da imigração japonesa, da experiência de ser e estar entre culturas e do convívio das gerações, a partir de um caminho que navega constantemente entre o singular e o plural, entre Olga e a comunidade da qual participa. O cinema estaria aí, portanto, como lugar de vínculo, um espaço em que é possível conectar as várias gerações e as diferentes culturas.
A epítome dessas relações aparece em dois dos seus filmes com maior força, Retratos de Hideko (1981) e Hia sá sá — hai yah! (1985). O primeiro aborda quatro gerações de mulheres japonesas a partir de uma perspectiva identitária e cultural, em que a ocidentalização e a manutenção da tradição surgem como grandes temas. Para tanto, Olga usa da própria voz para organizar o filme, que conta com entrevistas, performances e registros do cotidiano do bairro da Liberdade, em São Paulo. Já a narrativa de Hia sá sá — hai yah! é atravessada pela figura de Nobu-chan, uma menina de mais ou menos sete anos de idade. Sua imagem é constante e a voz over de Olga é dedicada a ela, em uma espécie de filme-carta. Aqui, as questões debatidas se tornam mais complexas, já que a experiência entre culturas se intensifica ao lidar com uma identidade que é tripla: a brasileira, a japonesa e a okinawana.
II
Desenho e memória
Vemos um primeiro plano de uma mulher adulta, talvez com pouco mais de trinta anos. Seu traje, sua maquiagem e seus adornos remetem à figura tradicional da gueixa. A primeira voz que ouvimos, entretanto, é a de Olga atrás da câmera. Como entrevistadora, ela pergunta para a mulher se nasceu no Brasil, ao que ela responde que sim. Logo depois, Olga pergunta como se sente vestida daquele jeito. “Um pouco de medo e feliz ao mesmo tempo”, responde. A imagem então congela, e a tela é recortada em um pequeno retângulo, emoldurando o rosto da entrevistada. Junto a essa imagem, ouvimos Olga novamente, mas dessa vez em voz over. Não mais na posição de entrevistadora, ela agora fala diretamente conosco, espectadores, sobre a sua vontade enquanto diretora naquele filme: “Eu não quis fazer um filme sobre a mulher japonesa, suas filhas, suas netas. Eu quis apenas desenhar seus retratos. Este é um filme de retratos.”
Assim se inicia Retratos de Hideko, através de uma ruptura, não só internamente no filme, como também com o que se estava fazendo em termos de documentário na época. Se o jogo simples de perguntas e respostas define o tom para uma estrutura tradicional do documentário, Olga imediatamente rompe com essa estrutura. A imagem congelada, o recorte dentro do plano e a voz over afirmam: este não é um documentário tradicional, não é um filme sobre a mulher japonesa e suas diferentes gerações, mas um filme no qual Olga irá “desenhar” retratos. Desenhar. Não registrar, captar, mostrar, mas desenhar. Desenhar envolve certa elaboração criativa, a produção de uma imagem que pode ser muito similar ao que é real, mas nunca de fato o é. Não seria essa também a principal característica do documentário? A impossibilidade da representação? É impossível representar a mulher japonesa como ela realmente é, mas é possível construir a mulher japonesa a partir da subjetividade de Olga. É possível desenhá-las. Como ela vê, sente e relembra as mulheres japonesas de seu convívio? Como ela, sendo de uma segunda geração de imigrantes japoneses, se vê, se sente e se relembra? Está aí posta a dimensão pessoal do filme, que permeia não apenas aquilo que é próprio da trajetória privada de Olga, mas também a sua visão de mundo enquanto indivíduo, enquanto em suas características mais próprias. Nesse caso, não há espaço para generalizações. Não há espaço para o sociológico.

Não é apenas Retratos de Hideko que segue essa lógica. Em Hia sá sá — hai yah!, a proposta de Olga é, dentre uma variedade de questões, recontar de forma bastante subjetiva a história migratória dos seus antepassados. Para iniciar essa narrativa, Olga apresenta as mulheres da primeira geração de imigrantes okinawanos. Na imagem, enquanto elas se pintam e colocam seus quimonos, Olga se pergunta em voz over: “Aquarela, nanquim, óleo, guache. Quem são elas?”, para depois responder, “Mais fácil dizer o que lembram. Aventais azuis de mercado e feira, rachaduras irreversíveis nos pés, mas as pernas em meias de seda.” Cada elemento presente na fala é uma reelaboração das características dessas mulheres a partir da intimidade familiar de Olga. A manutenção das tradições representada na aquarela, no nanquim, no óleo e na guache; o trabalho como traço marcante dessa geração nos aventais azuis e nas rachaduras nos pés; a graciosidade que persevera mesmo em tempos difíceis nas pernas vestidas em meias de seda. Assim, o interesse de Olga não está em uma imagem exata de quem e como essas mulheres são, e se apresentam, mas em como elas habitam seu imaginário e sua memória afetiva.
III
Duas imagens
Em Retratos de Hideko, duas imagens são recorrentes. Na primeira, em um palco de fundo preto, a câmera acompanha a mulher entrevistada por Olga no início do filme. Com a mesma vestimenta e pintura, ela performa uma dança de movimentos bastante sutis e contidos ao som de uma delicada música tradicional japonesa. Na outra imagem, temos o mesmo palco. Porém, quem agora dança é uma outra mulher, talvez alguns poucos anos mais jovem. Diferente da primeira dançarina, que usava o cabelo preso e arrumado, além das vestimentas tradicionais que cobriam seu corpo inteiro, a segunda usa apenas um vestido simples e transparente, os cabelos soltos e bagunçados. Ela performa uma dança moderna, de movimentos bruscos, expansivos e frenéticos. Cria-se um contraste, uma dicotomia entre o tradicional e o moderno, entre o recato e a maior liberdade com o corpo, como se as duas gerações, cada qual representada em uma dança, se opusessem. Entretanto, há algo que as conecta, algo que está presente no próprio princípio do gesto que é bastante similar. Não há, portanto, uma separação pautada pela diferença, mas um vínculo que sobrevive através da tradição e da expressão artística, repassada de geração em geração.

IV
Retratos de Olga
Diz a voz over de Olga em Retratos de Hideko:
Hideko, Ivonice, Miriam, Akiri. Falar sobre vocês é falar em mudanças que ainda se processam. O que vejo são rugas, medo e uma vontade de compreender o que nossas mães, nossas avós não podiam, e ao mesmo tempo não perder tudo o que elas sabiam.
Quem é Hideko? Em nenhum momento Hideko é apresentada em imagem e nome. Em nenhum momento se diz, “essa é Hideko”. Ainda assim, nós conhecemos Hideko, nós conhecemos seus retratos. Olga também é Hideko e também é Ivonice, Miriam e Akiri, mulheres de uma mesma geração, criadas pela mesma geração de mães e avós japonesas. Mas Olga desenha muitos outros retratos, retratos da tia-avó, de uma criança no colo de seus pais, de mulheres idosas na feira, de jovens adultas tentando dominar a arte da ikebana, de uma adolescente no rinque de patinação. Retratos de Hideko, as várias gerações contidas em uma só. Hideko e Olga são, ao mesmo tempo e de uma vez só, as mudanças que se manifestam e as tradições que perduram.
V
Coração okinawano
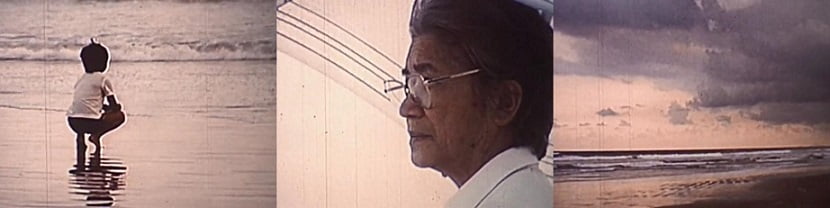
Em Hia sá sá — hai yah!, o mar é o início. Na areia, uma mulher idosa está sentada debaixo de um guarda-sol. Ela olha para a paisagem, mas também para a criança que caminha na orla, com os pés na água. A trilha sonora é bastante melancólica e, ao fundo, ouvimos o som das ondas e do vento, enquanto a câmera acompanha a caminhada do menino. Após um movimento de zoom in, ele se agacha e encara o horizonte. Em primeiro plano, a imagem da mulher retorna e cria-se uma relação de olhares complementada pela imagem seguinte, onde vemos apenas o mar. Avó e neto (uma relação subentendida) olham, portanto, para a mesma direção, para a mesma cena. Sobre esse último plano, surge o texto:
Okinawa, arquipélago a 600 km do Japão. Okinawa é o Japão. Mas seu coração sempre foi okinawano. Nós, brasileiros, descendentes de okinawanos, herdamos esta primeira ambiguidade. Até que nossos corações escaparam desta dualidade e ficou o grito.
Olga, nesse momento, não narra com a voz, opta pelo texto escrito. Também não usa a primeira pessoa do singular ou afirma sua posição como diretora (“eu quis fazer um filme…”), mas assume diretamente o “nós”. Nós, brasileiros, descendentes de okinawanos. Se Hia sá sá — hai yah! tem início nas águas do oceano, é porque são nelas que essa história começa. Foi através do mar que os primeiros imigrantes okinawanos chegaram ao Brasil e é, portanto, o mar que se constitui como o vínculo entre o passado e o presente no filme. Ao mostrar avó e neto olhando para o mesmo horizonte, como se olhassem na verdade para Okinawa, Olga estabelece uma relação de origem compartilhada entre as gerações, origem essa que transborda na forma como os laços familiares, afetivos e culturais são organizados e constituídos.
VI
Gesto de amor
O mar é o início, mas a continuidade reside na figura feminina. As mulheres são colocadas, em ambos os filmes, como portadoras da cultura japonesa e okinawana, presenças fundamentais para a manutenção das tradições não apenas no espaço artístico do palco, mas também no cotidiano do dia a dia. Assim, são as mulheres mais velhas que ensinam ikebana para as mais jovens, que repassam os gestos da dança, as técnicas do canto e o aprendizado da língua. Também elas são os pilares do vínculo geracional, em que a arte, a cultura e a figura feminina se mesclam em uma só.
O fim de Hia sá sá — hai yah! sintetiza essas questões. Em uma última voz over que recai sobre Nobu-chan adormecida, Olga manifesta um desejo:
Duvido que os seus sonhos sejam o mar, Nobu-chan. Mais provável que a sua busca seja de estrelas. O certo é que quando se debruçar sob as ondas de Okinawa, você o faça apenas num gesto de amor.
A imagem que encerra o filme, entretanto, é a imagem de sua mãe dançando na areia da praia, de costas para a água. Ali, invisível para além do horizonte do oceano, está Okinawa. É, portanto, em terra firme e através dessa figura materna que performa no próprio corpo a cultura de origem, que é possível a conexão entre os dois lados do oceano. Mais uma vez, emerge a ideia da expressão artística e cultural como elo que mantém Japão e Okinawa vivos entre as gerações. Olga, que se expressa por intermédio do cinema, conecta ela também os dois lados do oceano em uma coisa só. Hia sá sá — hai yah!, esse é o seu gesto de amor.

Filmografia de Olga Futemma
Sob as pedras do chão (1973) | 35mm, 23 min, documentário
Trabalhadoras metalúrgicas (codireção Renato Tapajós, 1978) | 16mm, 15 min, documentário
Retratos de Hideko (1981) | 35mm, 10 min, documentário
Hia sá sá – hai yah! (1985) | U-matic, 27 min, documentário
Caminho da memória (1988) | sem informação disponívelChá verde e arroz (1989) | 35mm, 12min, ficção
O AUDIOVISUAL AUTORREFERENCIAL DA DIÁSPORA NEGRA
“É importante saber que o que eu estou vivendo agora é o futuro que alguém sonhou para mim há muito tempo, e por isso que eu peço a benção dessas pessoas mais velhas”
Trecho inicial de NoirBLUE – les déplacements d’une danse, de Ana Pi.
A autorreferência artística ou o que se vem chamando de arte autorreferencial, como a própria etimologia da palavra explica, remete ao processo de falar de ou referir-se a si mesmo. É a capacidade de refletir o “eu-autor” que envolve questões de metalinguagem, identidade e memória. Já existem alguns estudos que percebem uma tendência a essa prática nas artes contemporâneas, principalmente no audiovisual, com obras cada vez mais em primeira pessoa, autorreferenciais, autorreflexivas, autotélicas. Autorretratos, filmes-ensaio, filmes-diário são alguns dos processos que revelam uma tendência que vai desde um resgate da memória familiar, através dos arquivos — como álbuns de fotografias e vídeos caseiros — a pesquisas sobre ancestralidade e origens familiares, que envolvem rituais de reimigração, pesquisas sobre identidade e história.
Se por um lado temos alguns trabalhos e autores já bem consagrados dentro do arcabouço temático, como o diretor Jonas Mekas, que ao longo dos seus mais de cinquenta anos de carreira construiu uma obra em torno do filme-diário, tornando-se um precursor do gênero e contribuindo para se pensar a autorrepresentação na esfera do audiovisual; ou Andrea Tonacci em Já Visto Jamais Visto (2013), em que utiliza de filmes e fotografias de seu acervo para investigar a passagem dos anos e o seu processo de amadurecimento enquanto pessoa e também enquanto diretor; ou ainda outros movimentos importantes, intimamente ligados aos documentários autobiográficos, herdeiros da tradição do cinema direto, como Miriam Weinstein, Kiko Goifman com 33 (2002), e Um Passaporte Húngaro (2001), de Sandra Kogut.
Por outro lado, quando se pensa em memórias afrodiaspóricas, em corpos pretos e afrodescendentes, os exemplos se tornam mais escassos, e mais recentes. Eu, autora, eu, mulher negra, fiz meu caminho ao autorreferencial em 2019 quando participei de um curso na Escola de Cine e TV de Cuba (EICTV). Apesar desse estilo altamente filosófico e reflexivo, que ajudou muito a me reconhecer e assumir como cineasta (e também que tipo de cineasta eu sou), por outro lado faltavam referências mais próximas a mim: onde estavam os trabalhos autorreferenciais de pessoas negras e indígenas?
Muitos desses trabalhos partem justamente de dois conceitos praticamente opostos: ausência e registro. Ausência que gera uma busca, uma busca por um passado, por uma identidade, por sua própria história. Ausência de registros, de arquivos, de memória, ou o apagamento e esquecimento de uma história. O registro de um cotidiano, um diário. Nos primórdios do cinema, muitos dos filmes tinham essa característica, de serem registros da realidade, do cotidiano, do dia a dia, da cidade. O registro está intrinsecamente ligado à representação, ou seja, estamos falando de representatividade (ou a falta dela).
“Representatividade, vem do ato de sentir-se representado, por alguém ou movimento mais influente, geralmente nas grandes mídias. Representatividade é, também, a qualidade de nos sentirmos representados por um grupo, indivíduo ou expressão humana, em nossas características, sejam elas físicas, comportamentais ou socioculturais. É por meio desta qualidade que nos sentimos parte de um grupo, pertencentes a ele, compartilhando experiências, impressões, sentimentos e pensamentos com seus membros” (FARIAS).
A representatividade está, como se pode constatar, fortemente vinculada à noção de identidade, mas apesar das conquistas recentes, como o dia da Consciência Negra no Brasil e o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, existe toda uma luta que é inesgotável, pois parte de um processo de desconstrução da estrutura. No caso do audiovisual, se busca não só essa representatividade como também parte-se de um processo de rememoração e revisionamento da história. O curta-metragem Something Good — Negro Kiss (1898)hoje talvez seja um dos principais exemplos de como esse debate sobre a falta de registros e de representatividade negra está em pauta. A obra foiredescoberta somente em 2017 e adicionada ao American National Film Registry em 2018, e acredita-se seja a primeira representação cinematográfica da afeição entre um casal afro-americano. Um gesto tão simples e representativo, assim como são as histórias familiares. Por que quando falamos de amor, algo tão universal, sempre mostramos os mesmo tipos de pessoas, os mesmo tipos de imagens? Se tomamos como base pessoas negras e suas histórias, a ausência se torna mais presente e a necessidade de um registro ainda mais necessário. Como podem cineastas negros autorepresentarem-se e refletir sobre seus trabalhos se por muito tempo fomos literalmente ignorados e apagados?

Por isso, quando escrevo audiovisual autorreferencial da diáspora negra, estou falando de formas mais contemporâneas, pois só recentemente tomamos os meios para conseguir refletir sobre nossa existência e falta dela nos meios de comunicação na arte. Não à toa grandes partes das nossas produções nesse sentido são curta-metragens, vídeos, performances, ensaios. Alguns exemplos que tratam do registro desse cotidiano que corporificam autores e famílias negras em tela são Filme de Família Preta (2019), de Flávio Rocha, Dádiva (2020), de Evelyn Santos, e os filmes da diretora negra americana Camille Billops, que inclusive falam sobre essa busca por sua história e traumas. Esses filmes e o curta-metragem Travessia (2017), da brasileira Safira Moreira, usam do formato como metalinguagem crítica a essa falta de memória e de registro de pessoas negras. O uso de câmeras analógicas aqui tem um sentido de registrar aquilo que esteve ausente na maioria das famílias negras.
No caso de Travessia, Safira se motivou a fazer esse filme ao perceber a escassez de fotografias antigas de negros no Brasil, principalmente após tentar, sem sucesso, encontrar fotos de suas bisavó e avó maternas. Se é por meio da memória que histórias, pessoas e culturas sobrevivem à inevitável passagem do tempo, deixando para as futuras gerações legados e aprendizados, no filme há uma crítica às imagens antigas em que aparecem pessoas negras (como escravizadas, babás, etc.) e por isso se propõe a criar outras. Novas fotografias, novos registros, uma metalinguagem potente, que concretiza uma certa reparação histórica, afirmando que nós negros estamos aqui para sermos vistos e lembrados.

O cinema acaba por se tornar um lugar de memória. De acordo com Pierre Nora (1993), a midiatização modificou o modo de transmissão e conservação de valores — os usos da memória. Os “lugares de memória”, em sua análise, se constituem da necessidade de criação de arquivos, como suportes externos, pois constata a impossibilidade de existência de uma memória espontânea. Assim, sendo o audiovisual esse agente externo (ainda mais contemporaneamente com o celular e câmeras portáteis) que “constrói narrativas visuais e sonoras que se revelam importantes disseminadoras de conteúdos que estabelecem formas de dominação, os quais representam e constituem o imaginário simbólico da sociedade, ou seja, existe nessas produções uma ʽvontade de memóriaʼ e, assim, ʽa necessidade de criar arquivosʼ”.
A questão da memória e do apagamento, como visto, não é algo novo. As comumente chamadas “autobiografias” ou filmes em primeira pessoa têm relação muito íntima com o documentário. Falam de uma busca por identidade, por uma história, mas quando trazemos o recorte de filmes de pessoas da diáspora, esse sentimento se torna ainda mais complicado. Por exemplo, um dos temas tratados pela maioria das produções é o exílio, a morte e apagamento de uma memória familiar, ancestral. Nós não sabemos nem exatamente de onde viemos, pois vivemos o processo de escravização, em que nossos antepassados foram tirados da África. Não se trata de uma busca pessoal, mas sim de uma busca por toda uma história política, cultural que nos constitui hoje enquanto povos.
Assim trago os exemplos dos dois curtas da diretora britânica Onyeka Igwe, Sitting on a Man (2018) e Specialised Technique (2018); NoirBLUE — les déplacements d’une danse (BR 2018), de Ana Pi, e os documentários da diretora pernambucana Tila Chitunda, FotogrÁFICA (2016), e Nome de batismo — Alice (2017, melhor curta do Festival É Tudo Verdade), que falam sobre lugares de memória, deslocamento, performances e corporificação.

Sitting on a Man (2018) e Specialised Technique (2018) têm em comum a temática da dança e a apropriação de imagens da África dos arquivos do Império Britânico. Eles integram, junto com Her Name in My Mouth (2017), o tríptico No dance, no Parlaver. Onyeka nesse projeto se propõe a tratar do poder das mulheres, a resistência ao colonialismo e o problema da relação entre a comunicação e o uso da força. Sitting on a Man refere-se a uma maneira tradicional das mulheres do povo Igbo na Nigéria expressarem seu descontentamento com o mau comportamento de um homem. Elas cercam sua casa, dançam e cantam para protestar, e muitas vezes usam até da violência.


Esse tipo de ação ganhou importância histórica devido à Guerra das Mulheres de Aba (guerra liderada por mulheres nas províncias de Calabar e Owerri, no sudeste da Nigéria, em novembro e dezembro de 1929). Deveu-se à organização do sistema de administração colonial segundo o critério patriarcal europeu, com a consequente exclusão das mulheres do poder. Portanto, além do protesto contra os homens, era uma forma africana de desobediência civil e de luta sem armas, embora não inteiramente pacífica. Duas dançarinas e duas vozes confrontam o registro dos colonizadores nas três telas de Sitting on a Man. A montagem do som e os movimentos corporais jogam essa “imagem de África” e protesto. O Specialised Technique segue na linha do questionamento e protesto contra as regras estabelecidas pela Colonial Film Unit (instituição de propaganda e filmes educacionais do governo britânico) para representar os nigerianos nativos. As legendas apresentam um diálogo utópico (que não pôde nunca ocorrer) entre os personagens do filme e quem o dirige, os realizadores do Colonial Film Unit — e, por extensão, o espectador. A diretora faz perguntas a si mesma e questiona os personagens sobre como foram filmados e como gostariam que o filme tivesse sido feito. Também interage com o cartório, intervindo nele de várias maneiras.

A utopia do diálogo com esse cinema “científico”, e também a voz que “fala” ao passado desde o presente do poder colonial, respondem à irrupção de um corpo, presumivelmente o da realizadora. Ela entra no filme passando pelo feixe do projetor e filmando-o em seu colo.
Este último detalhe conecta ambas as peças, no que diz respeito ao corpo, e à falta de solução de continuidade entre a comunicação e o uso da força. Nos filmes colonialistas citados existe um poder exercido sobre quem foi filmado, contra o qual recorrer à palavra é uma ilusão. Em vez disso, os rebeldes nigerianos puderam usar a dança para impedir o funcionamento das instituições coloniais e responder à sua violência. Os curtas servem como uma tentativa de usar a proximidade crítica, estando perto ou entre o trauma visual do arquivo colonial para transformar a maneira como encontramos as pessoas que ele contém.

Tila Chitunda é diretora e produtora audiovisual em cinema e TV e é filha de refugiados angolanos. Ela transforma as histórias da sua família em documentários, investigando a memória e a relação entre as identidades dos povos brasileiro e angolano.
“Vem Tila, quem está falando é um Orixá muito próximo do orixá que lhe rege, e ele está dizendo que os caminhos estão abertos. Quando a gente busca nossa ancestralidade, a gente busca o início da nossa história, até encontrar nossa raiz e saber de que árvore nós viemos.”
Assim começa o curta FotogrÁFRICA, com essa fala de yalorixá Beth de Oxum enquanto joga búzios para Tila, que está começando esse trabalho de busca por sua história. O documentário é uma conversa com dona Amélia, sua mãe, para saber de seu passado numa Angola que ela desconhece, mas que influencia muito em toda sua formação enquanto pessoa, sendo a diretora a única filha da família que nasceu no Brasil. Montando um mural da matriarca cheio de imagens e fotografias da família, mãe e filha reconstroem a trajetória da família até a vinda desta para o Brasil. Um detalhe que logo chama atenção é sobre a questão da perda da identidade já em Angola, quando Amélia e seu marido tiveram que abdicar de seus costumes, de sua religião, romper com suas origens para virarem católicos e assim se “civilizaram”, ascenderam socialmente. Uma história que tem muita relação com esses rituais de deslocamentos, exílio, fuga. Como citado, esse tipo de narrativa sobre pessoas em busca de suas histórias familiares é muito comum, mas a história de Amélia e Tila ajuda a nos compreender enquanto povo. Um outro exemplo é quando Amélia conta que saiu de uma casa grande em Angola e foi obrigada a morar em um bairro pobre com toda família grande em casa de taipa aqui no Brasil ou que aqui as pessoas não tinham referências de africanos, então muitas tinham medo. O filme é um retrato dos conflitos e adaptações que falam muito sobre a relação entre África e Brasil.
Já em Nome de Batismo — Alice a diretora vai até Angola saber mais sobre sua história. Aqui a relação com o deslocamento, a desterritorialização e reterritorialização fica mais explícita. Esse curta começa com uma carta da avó de Tila (lida na sua língua original) falando da felicidade de saber que sua nova neta levaria seu nome. A partir daí acompanhamos a viagem de Tila em Angola, como forma de cartas a essa avó, ela nos conta suas experiências no país dos seus pais, no encontro com seus familiares até então desconhecidos, nas paisagens, do seu encontro com sua história e ancestralidade. Acompanhamos também suas reflexões, seu medo pelo que vai encontrar, por conta perda dos referentes espaciais, e de se sentir um pessoa desenraizada. Nas imagens mais diretas escutamos sua mãe, que a acompanha nessa jornada e em alguns momentos se apresenta como uma guia turística, dizendo “essa aqui é minha terra”, em outros já não sabe ou não se lembra.

Se FotogrÁFRICA funciona o estilo “falar do outro para falar de si mesmo”, como fez Maria Clara Escobar com Os Dias com Ele (2012), aqui é o próprio ritual de descolamento, o encontro proporcionado pela viagem que é motivador do filme. Nessa mesma linha segue o curta-metragem documentário de Ana Pi, bailarina, artista brasileira que trabalha com imagem e coreografia, com pedagogia contemporânea. Menos documental e mais performática, Ana trata desse deslocamento, dessa ida e encontro com África, como forma de reconectar-se com suas origens por meio do gesto coreográfico, engajando-se em uma experiência espaço-temporal que combina movimentos tradicionais e contemporâneos. NoirBLUE – les déplacements d’une danse não traz arquivos, fotos; se centra numa dança, pois na dança (e na música) nos conectamos com a nossa ancestralidade africana. Uma dança de fertilidade e cura, afinal África é o berço da humanidade. Mãe África. A pele negra sob o véu azul passa a fazer parte do espaço, produzindo assim novas formas e cores que evocam a ancestralidade, o pertencimento, a resistência e a sensação de liberdade.

As interpretações deste estudo revelam uma espécie de “corpografias negras” de resistência no uso da linguagem audiovisual, afinal estamos vendo a reapropriação de nossas imagens, um protesto contra o uso indevido delas e a busca pela história que foi apagada. Assim como essas diretoras e artistas muitas outras estão reconfigurando suas memórias afrodiaspóricas, elaborando uma conexão com a construção da identidade e a reivindicação da autorrepresentação simbólica. Nunca poderemos reaver tudo que nos foi tirado, é uma busca incessante que muitas vezes nos leva a lugar nenhum. Mas o que esses projetos mostram, e que uso para terminar esse texto (agora falando enquanto pesquisadora e cineasta que também trabalha com essas questões) é que nós temos o poder, aprendemos como usar dos mecanismos que criaram para nos explorar, nos matar e apagar nossa memória. Ninguém vai falar da gente, sem a gente; que continuemos assim, nos autorreferenciando.
Referências
FANON, Frantz. Black Skin, White Masks. New York: Grove Press, 1967.
HALL, Stuart. A identidade na cultura pós-modernidade. Tradução: Tomaz Tadeus da Silva, Guaracira Lopes Louro. 10ª ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2005.
NORA, Pierre. Entre memória e história: a problemática dos lugares. Revista do Programa de Estudos Pós-graduação em História e do Departamento de História da PUC-SP, n.10. São Paulo, dez. 1993.
FARIAS, Jordão. Representatividade negra como meio de auto afirmação: usos e sentidos. 2018. <Disponível em http://medium.com/@fariasjordao>
QUANTO MAIS PERSONAGENS NEGROS EU CRIAR E ATRIBUIR SUBJETIVIDADE MELHOR: ENTREVISTA COM RENATA MARTINS
Encerrando este ciclo de publicações10, compartilhamos com vocês a entrevista “Quanto mais personagens negros eu criar e atribuir subjetividade melhor” com a diretora e roteirista Renata Martins. A última das entrevistadas é a caçula dos quatro filhos de Maria do Rosário Martins e José Elói Martins. Com dois Emmys na carreira, Renata é fundadora da Mahin Produções e idealizadora do projeto “Empoderadas”, além de diretora e roteirista dos premiados filmes Sem Asas (2019) e Aquém das Nuvens (2010). Nossa conversa aconteceu de forma online, em junho de 2020, no início da pandemia da COVID-19.
Em seu fazer cinematográfico é notável a centralidade da família, não apenas como disparador narrativo, mas também como forma coletiva de expansão espiritual e desenvolvimento emocional. Pensando nas famílias pretas, a construção dessas imagens/discursos é especialmente poderosa, principalmente quando consideramos que a desorganização de núcleos familiares pretos é fruto de políticas racistas atualizadas desde a colonização.
Quando pensamos em histórias cujos pilares narrativos estão no amor, no respeito e no cuidado familiar, temos poucas referências de famílias pretas na produção audiovisual brasileira. Nos filmes Sem Asas (2019) e Aquém das Nuvens (2010), Renata conta histórias de famílias pretas que vivenciam o afeto, o riso, a dor, a perda, o amor e a superação. Com um cinema fortemente ambientado na periferia paulistana, local onde cresceu e vive até hoje. Renata parte de experiências comuns do dia a dia para criar seus filmes e como resultado produz imagens que atualizam nosso imaginário sobre as vivências negras e periféricas a partir de uma perspectiva radicalmente oposta às imagens hegemônicas.
Assim, partindo da ancestralidade como continuidade do corpo e da vida negra em trânsito, Renata Martins compõe o quadro de cineastas negras contemporâneas que vem estabelecendo novas políticas no campo do imaginário e da nossa sensibilidade como um todo. Um movimento pujante, que dispara novas formas de representação do que somos, do que podemos ser e do nosso entendimento enquanto coletividade negra. Boa leitura!

Lygia: Sempre gosto de começar pela trajetória das pessoas. Você pode nos contar sobre quem é você, de onde você vem e como chegou ao cinema? Como era sua relação com o cinema e o audiovisual durante a infância e adolescência?
Renata: Meu nome é Renata Cilene Martins, filha de Maria do Rosário Martins e José Elói Martins. Neta paterna de Natividade Procópio Martins e de Antonio Afonso Martins e neta materna de Geralda da Silva e José Altivo do Silva. Eu sou a mais nova de quatro irmãos. Nascida no carrão, e criada em Itaquera, Zona Leste de São Paulo, onde resido até hoje.
Eu sempre gostei muito do universo das artes. Me lembro de que gostava de brincar com tintas, lápis de cores, ouvir e contar histórias. A gente tinha o LP do “Jonathan e a Gaivota” e ouvíamos sempre com as luzes apagadas, era uma de nossas brincadeiras preferidas.
Na infância, Tatida, minha falecida tia e madrinha, fazia questão de nos levar ao cinema sempre que tinha um lançamento. Era um ritual atravessar a cidade de transporte público para ir ao cinema e depois ao McDonald’s. Acho que vi todos os filmes da Xuxa e Trapalhões nas salas de cinema do centro de São Paulo. Sem dúvidas esses passeios na infância povoaram meu imaginário e influenciaram no meu gosto por cinema. Já na adolescência eu gostava muito de assistir aos filmes que passavam na Sessão da Tarde, mas também alugava muita coisa em VHS.
O cinema como profissão entrou na minha vida junto com as políticas afirmativas, em 2005 na gestão Lula, pois eu fiz parte da primeira turma de estudantes que foram beneficiados pelo Prouni.
L: Quais caminhos a levaram a criação dos filmes Aquém das Nuvens e Sem Asas?
R: O Aquém das Nuvens foi desenvolvido ao longo da universidade, num contexto de adoecimento de minha mãe. Ela estava com câncer e meu pai cuidou dela durante toda doença. Minha casa sempre foi cheia de amigos, familiares e festa. Meus pais eram muito afetivos e companheiros. Mesmo sem estar conectada com as discussões do movimento negro eu queria levar para a tela um pouco do cotidiano rodeado de afeto em que eu nasci e cresci. Foi a partir dessa premissa e do desejo de contar essa história que eu iniciei a escrita do roteiro e, posteriormente, o inscrevi no “Prêmio Estímulo”, edital de produção de curtas-metragens do Estado de São Paulo.

Já o Sem Asas é o resultado de meu processo de reflexão sobre o extermínio da juventude negra e periférica. Eu cresci vendo mães negras e periféricas mostrando a carteira de trabalho de seus filhos assassinados para provar que eles não eram bandidos, nos programas sensacionalistas de TV. Mas o caso do adolescente Douglas Martins, que foi assassinado num domingo à tarde quando saiu para comprar pão na zona norte de São Paulo, tomou proporção nacional e se conectou com casos de jovens e homens negros que foram assassinados nos Estados Unidos, por conta de terem dito frases impactantes antes de morrer: “Por que o senhor atirou em mim?” e “Eu não consigo respirar”.
Ano após ano o Estado genocida assassina nossos jovens e usa os autos de resistência ou qualquer outra justificativa “legal” para legitimar esse extermínio. O Sem Asas é a tentativa de humanizar a relação afetiva dessas famílias negras e periféricas e expor a política de morte do Estado Brasileiro, amparada pelo racismo institucional, que se figura nos policiais, que são em sua maioria homens negros e periféricos. Foi a partir desse incômodo que o discurso se transformou em filme.
L: No curta Sem Asas, há uma preocupação dos pais em ensinar o filho a como enfrentar o racismo, sobretudo a violência policial, mas também aparece a palavra Sankofa (que simboliza a volta ao passado para imaginar o futuro) em um cartaz acompanhada da imagem de um super-herói negro com asas. Tenho observado no cinema feito por pessoas negras uma preocupação com a transmissão de mitologias, valores e modos de viver com raízes nas experiências da diáspora africana. Você poderia comentar essa questão?
R: Não sei se há uma preocupação dos pais em ensinar o Zu como enfrentar o racismo, visto que não há um manual de preparação, pois o racismo é sorrateiro, ele encontra várias e várias formas para se apresentar. Mas há o desejo de dizer que o mundo lá fora não é fácil para pessoas como eles, seja por conta da classe, raça e gênero. E Zu aprende essa dura lição na prática.
A mitologia do Sankofa foi trazida pelos diretores de arte. Eu disse a eles que queria um super herói alado e eles me trouxeram a lenda de Sankofa. Eu já conhecia, mas não foi uma indicação minha, foi uma sugestão deles e eu achei que tinha tudo a ver com história dos personagens. Akins e Jussara se lembram de seus pais e Zu também se lembrou da voz de seus pais quando estava em perigo. É uma releitura de que não podemos seguir sem olhar para trás, sem reverenciar os nossos ancestrais.
Não posso afirmar que seja uma característica fundante de um cinema negro contemporâneo. Mas acho que todos nós estamos dispostos a experimentar e trazer nossa ancestralidade para as telas.

L: Em Aquém das Nuvens e Sem Asas vejo a predominância do gênero realista e de uma estrutura dramática no roteiro. Mas chama a atenção em ambos os trabalhos, sobretudo no Sem Asas, os momentos em que os personagens olham a câmera de frente e ainda assim estabelecem um diálogo com a narrativa. Como você vê as potências e desafios no uso de recursos da linguagem cinematográfica em seu trabalho? E sobretudo, como vê a interlocução dos olhares — diegese, câmera, público — em suas narrativas?
R: O Sem asas flerta com o realismo fantástico, e sua estrutura é melodramática. Assim como o Aquém, que talvez flerte um pouco com a estrutura da tragédia, visto que o final é negativo.
Em Sem Asas o arco de Zu se assemelha ao rito de passagem da infância para adolescência. Dentro de casa ele é uma criança, mas ao sair para a rua ele é visto com um adolescente, um homem negro, e essa mudança é interna. O personagem nunca mais será o mesmo de antes.
Eu vejo o cinema como um campo infinito de possibilidades criativa e discursiva. A cada produção eu trago elementos novos e ressignifico elementos antigos. O uso do travelling in no Aquém das Nuvens é diferente do uso no Sem Asas. Em Aquém ele serve para trazer um presságio de que aconteceu algo com sua amada. Em Sem Asas ele potencializa o medo de algo que está prestes a acontecer com o protagonista. A quebra da quarta parede também tem significado diferente nos dois filmes. Em Aquém, seu Nenê se confronta com seu próprio medo. Em Sem Asas o Zu compartilha sua impotência e indignação com o público. É como se ele dissesse: Vocês estão vendo isso? Até quando seu silêncio vai te manter estático tal qual um espectador numa sala de cinema? Nós, jovens negros estamos sendo exterminados! – Há um caminhão de discurso nessa quebra, que poderiam ser ditas com frases, mas escolhi quebrar a parede invisível que separa a realidade da ficção e o público da situação vivida por Zu.
L: E enquanto roteirista e diretora de ambos os filmes, como sente que imprime seu olhar sobre o mundo e sua subjetividade na direção cinematográfica? Você vê a sua trajetória pessoal naquilo que produz?
R: Sim, eu costumo dizer que meus curtas e produtos audiovisuais são crônicas cotidianas potencializadas pela linguagem cinematográfica. É através da linguagem que eu dou forma às questões que me tocam e tento compartilhar com um público maior.
L: Em ambos os filmes, todos os personagens principais são pretos. Na obra de Beatriz Nascimento ela diz ver o corpo negro da diáspora como um território que carrega uma história individual e coletiva. Como você pensa a possibilidade de trabalhar no audiovisual uma vasta complexidade e variedade de imaginários negros?
R: Eu faço cinema em primeira pessoa. Ele passa por histórias vividas por mim e pelos meus semelhantes. Quanto mais personagens negros eu puder criar e atribuir subjetividade melhor. É desafiador criar e conseguir produzir histórias que destoam do imaginário racista e coletivo fomentado pela dramaturgia hegemônica.

L: Numa interpretação particular, a cena da mãe e do banho, no Sem Asas, remete a um ritual de ancestralidade e de sagrado. Como você lida com a questão da ancestralidade em seus filmes?
R: Essa cena é a mãe soprando a vida mais uma vez para sua cria. É um processo de reconexão e afeto. É o cuidado com a pele, é água como símbolo da vida. É o processo de cura. Pra mim o ancestral tem várias dimensões, seja os meus mais velhos; pais, avós e tias, ou a história que nos foi negada, às pessoas em diáspora que não conheci. Ancestralidade tem a ver com sensibilidade, respeito, escuta, ensinamento e coletividade. Acho que trago um pouco disso nas minhas produções, seja diante das telas, ou atrás dela.
L: Você ganhou dois prêmios Emmy Internacional, como parte da equipe de roteiristas. Você acha que seu trabalho é mais reconhecido e mais bem pago, em função disso?
R: Não, tenho certeza que não! Sinto que alguns autores brancos não me reconhecem como boa roteirista ou autora, mas como alguém que serve para alimentar suas narrativas e evitar que elas sejam racistas e sexistas. Porém, meu trabalho autoral, como a Websérie Empoderadas, Sem Asas e Aquém das Nuvens, todos premiados e celebrados por onde passam, escancaram o racismo nosso de cada dia que postergou minha ascensão econômica. Conheço poucos roteiristas brancos que tenham uma produção tão ampla como a minha, mas conheço muitos que ganham até dez vezes mais do que eu ganho. No entanto, acredito que meu trabalho tem inspirado uma geração de novos autores e diretores negres pelo Brasil afora, e isso é muito maravilhoso e dinheiro nenhum paga.

AS MULHERES QUILOMBOLAS VÃO SE (NOS) LEMBRAR
Talvez a história da humanidade, digo aquela que não ocupa as páginas dos livros, possa ser contada a partir da luta pela terra e pelo território ou a partir das formas de relação que as pessoas têm estabelecido com a natureza ao longo dos anos. Há um verso na canção O sol mais quente, de Baco Exu do Blues, que diz: Cê quer ouvir a voz de Deus? Então vá ao Nordeste e escute o povo. Bote o ouvido na terra e escute o mundo.
Botar o ouvido na terra e escutar o mundo. Acredito que essas palavras se aproximam da experiência de escuta que tenho vivenciado junto de filmes feitos nos territórios quilombolas, obras marcadas por uma linha de força: os gestos de rememoração articulados a partir das presenças e narrativas das mulheres quilombolas em relação com a terra e o território. Ouvidos atentos ao que essas contadoras de memórias se lembram — e nos lembram — dos quilombos, essa estrutura social e ideia-força11 que enfrenta o sistema vigente, inaugurando liberdades em meio ao Brasil Colônia.
A ideia de memória me interessa aqui, sobretudo, como força motriz de vida, que se ergue contra a morte estruturada pelo esquecimento, pelo apagamento, pelo sufocamento de vozes promovidos pela colonização, como nos ensina Abdias Nascimento. A oralidade, que possibilitou a existência e permanência dos povos de junto da terra — povos originários e povos quilombolas — com o conhecimento passado das pessoas mais velhas para as mais jovens, se desenrola pelos fios da memória. Assim, se esquecer é uma forma de matar, lembrar é caminho para fazer prevalecer a vida. A transmissão da ciência desses povos se dá pela palavra, pelo segredo, mas também pelo gesto do corpo, como nos dizem as lições da pesquisadora, poeta e ensaísta Leda Maria Martins.
Ainda sobre as políticas do esquecimento, a pesquisadora Beatriz Nascimento já reivindicava, em fala na conferência Historiografia do Quilombo12, realizada em 1977, durante a Quinzena do Negro na Universidade de São Paulo: “A lembrança, lembrar para mim mesma, lembrar para os negros de que eles têm um passado de homens capazes de empreender uma estrutura que foi muito forte, que assustou sempre, que assustou tanto que passou para a amnésia nacional.”
A intelectual reforçava ainda a insistência do campo formal de estudos da História em dedicar imensa atenção para a pesquisa sobre o negro nas condições de escravização e pouco espaço para os estudos junto dos quilombos. Para ela, essa engrenagem move também a construção de um imaginário do povo negro em diáspora.
Como Beatriz Nascimento nos disse em Ôrí (1989, Raquel Gerber): “É preciso a imagem para recuperar a identidade, tem que tornar-se visível, porque o rosto de um é o reflexo do outro, o corpo de um é o reflexo do outro e em cada um o reflexo de todos os corpos.” Com essa reflexão ela já nos convocava a empreender caminhos para a discussão das questões raciais a partir do campo da imagem.
Pelos entrelaces memória e imagem chegamos a quatro mulheres. As duas primeiras são D. Olinda Oliveira e D. Maria Oliveira, mulheres quilombolas da Comunidade do Quilombo Rio dos Macacos, localizada em Simões Filho, na Bahia. Suas narrativas e suas presenças aparecem como fios condutores do longa Quilombo Rio dos Macacos (2017, Josias Pires). Chegamos também a Lucicleide Santos, de Santiago do Iguape, comunidade situada na Bacia do Iguape, município de Cachoeira, no Recôncavo da Bahia. Ela é diretora-personagem no curta-metragem Pra se contar uma história (2013, Elen Linth, Lucicleide Santos, Diego Jesus e Leandro Rodrigues), e por seus passos encontramos outras mulheres moradoras da comunidade remanescente de quilombos Calembá. E na Comunidade Quilombola Mato do Tição em Jaboticatubas, Minas Gerais, encontramos Tança, a ancestral do quilombo, por meio da rememoração de seus descendentes no filme Tança (2014, Irmandade dos Atores da Pândega e Associação Quilombola Mato do Tição).
A memória como arma de uma luta em curso
“Nós não somos invasor não, moço, quando eles chegaram acharam a gente”. Com essa frase, Dona Maria Oliveira começa a rememorar e testemunhar sua história. Com suas lembranças ela se defende das acusações que aqueles que a violentam lançam contra ela e contra sua comunidade. São 84 anos de uma vida vivida no território, acompanhando a chegada da Marinha do Brasil, a construção da Base Naval de Aratu, vivenciando incontáveis violências e ameaças. Ela está sentada ao lado de sua filha Olinda Oliveira, que também se vale de sua memória para enfrentar a luta que está em curso, a defesa do direito de viver no Quilombo Rio dos Macacos.
No filme Quilombo Rio dos Macacos é pela força da palavra dita, repetida à exaustão, que talvez seja possível causar alguma ruptura, abrir alguma fresta, mover alguma vírgula das expressões grafadas na historiografia oficial, que não acolheu as narrativas dos quilombos brasileiros.

Eu nasci e me criei aqui, eu tenho direito na terra, eu não vou sair daqui por nada.

Minha mãe nasceu e se criou na barragem dos macacos, o senhor disse que não existia pessoas lá, minha mãe tem 84 anos de idade. Minha vó morreu com 95 anos, o enterro saiu de dentro da barragem. Meu pai morreu com 84 anos também o enterro saiu pela frente da vila naval da barragem. Essa aqui é minha mãe. [erguendo uma fotografia]

Esse caminho que minha mãe fazia quando era pequena mais minha vó, minha vó saía da fazenda meia noite, o galo já cantando, elas desciam por aqui pra vir pra casa. Minha mãe nasceu aqui, perto do Rio do Barroso, no Areial. Minha vó plantava tudo isso aqui, certo?
Nós fomos criados, minha mãe pescando piaba, levando pra casa e a gente comendo.
Enquanto vemos os prédios e as construções na vila naval, ouvimos as vozes de Dona Maria e Dona Olinda reivindicarem, com seu testemunho e sua memória, os nomes daqueles que moravam na terra e cultivavam suas roças. Mariinha, Valdemar, Anísio, Antônio do Carvão, Dona Morena, Dona Luzia, João, Maria Pequena. Todas essas pessoas moravam por ali. Suas palavras se impondo sobre a cena em que vemos as construções continuarem. É preciso dizer, como quem escava para extrair da paisagem aquilo que ela teima em soterrar com o concreto dos apartamentos: tudo ali era quilombo.
cavando, cavando torrões de terra,
até lá, onde os homens enterram
a esperança roubada de outros homens13
Suas falas se espraiam para as pessoas que não puderam falar, que deixaram suas terras pelas ameaças da violência. Jacques Rancière afirmou que “a testemunha é aquele ou aquela que não escolheu ser testemunha. É assim considerada apenas pelo que passou”14. A palavra dita emerge para romper as máscaras do silenciamento, como disse Grada Kilomba. 15 Pois, mesmo que não existam papéis que comprovem a posse da terra, há essas mulheres, suas palavras, seus modos de vida forjados no território.
Lembrar é movência
O filme Pra se contar uma história foi realizado no âmbito do projeto “Registro da história e da memória familiar de comunidades negras tradicionais do vale do Iguape”, sob orientação das professoras Amaranta César, Ana Rosa Marques e Isabel Cristina Reis. O título vem de uma frase dita pela diretora-personagem, Lucleide Santos, ao ser questionada como é viver no Iguape:
Maravilhoso. Me sinto no paraíso. Aqui tem coisas onde grande cidade não tem, aqui tem coisa que pretendo sentir pra amanhã depois, guardar recordação pra contar pros meus filhos, meus netos, meus bisnetos. Quero viver o que todos meus parentes, avós que não conheci, parte de mãe, o que minha mãe está vivendo hoje, o que ela viveu antes, quero sentir tudo, nem tudo, mas um pouco, pra se contar uma história.

No filme, Lucicleide Santos nos guia por três movimentos. Primeiro, ela está em cena, sendo filmada, vemos sua família, seu cotidiano, a vemos transitando com os equipamentos que são utilizados para o filme. Depois, vemos que ela inicia sua deriva e seu caminhar, que permitem que ela se encontre com as mulheres da comunidade Calembá. Em seguida, Lucicleide se vê diante das fotos que tirou desses encontros, e é questionada sobre a experiência de suas movências.
Reivindico para o seu mover-se não apenas a característica norteadora do filme, da montagem e da narrativa construída, mas também um movimento de memória, um gesto de rememoração, de busca da lembrança. Diante da vida de trabalho árduo das mulheres do Calembá, a diretora-personagem reencontra-se também com a recordação daqueles de sua cor que ergueram o país. Lucicleide Santos, a Neguinha, toma a palavra para si, para narrar uma história quilombola a contrapelo (nos termos benjaminianos). Um “livro da terra”, ela diz (em off), a voz sobreposta às imagens da mãe e dos pescadores, que chegam com o seu pescado:

Santiago já passou por muitas e muitas coisas que poderiam ser relembradas, no contar. Quem viveu já antes e sabe, tem que contar, para mostrar a cultura… como antes já passou muitas coisas aqui…aqui teve… tem dez engenhos, várias culturas… coisas que aconteceu antes, que aqui era o maior produtor de cana de açúcar, que aqui já teve muitas coisas (…) e que ninguém procura levantar isso, pra pelo menos escrever um livro da terra (…) pra escrever o que os brancos faziam antes com os negros, faziam carregar pedra nas costas…atravessava o mar para trazer pedra para fazer a igreja que hoje está ali…não foi feita por branco…então, não vou escrever um livro contando a história de branco (….) Não foi branco que fez essa vila, não foi…foi construída por nós, por gente de minha cor.
Os fios da memória são o amor
O filme Tança (2014) integra a Coletânea Imagens da Memória, é fruto de um edital da Fundação Cultural Palmares, por meio do extinto Ministério da Cultura. Assim como alguns vídeos feitos nas comunidades quilombolas num contexto mais recente, Tança tem sua construção a partir de processos de formação com oficinas de audiovisual junto aos jovens da comunidade. É importante mencionar um aspecto que singulariza essa obra, ainda que a rememoração seja um forte elemento constituinte da filmografia dos quilombos, aqui as lembranças e a ancestral são vivificados pela memória a partir de uma perspectiva muito amorosa. É o amor que faz emergir as lembranças.
Tança chamava suas sobrinhas de nenêga. “Ô nenega!” É Dona Bina quem repete o chamado no filme. Ela gostava de rapé, que ela mesmo preparava com a ajuda de seus sobrinhos, como Dona Nilse nos mostra refazendo os gestos de Tança. Ela também tinha o hábito de dormir no chão, comer com as mãos e gostava de sua cachaça. E Tança celebrava e dançava o Candombe, tradição que segue viva com seus descendentes. Tudo isso sabemos pela rememoração dos familiares de Tança, são eles e elas que partilham suas memórias conosco, não apenas pela palavra dita: é no corpo, pela escrita do corpo, que as lembranças vêm à tona.



Na cena vemos Dona Nilse na casa de Tança, ela pega uma saia azul e desfaz o nó na fita branca que ajusta a cintura da roupa, e veste primeiro a saia, e depois uma blusa da mesma cor. Ela comenta: “Tantos anos e eu não esqueci das vestes dela.” Ela veste em seguida um casaco de tom claro e amarra um lenço, que tem a mesma cor da saia e da blusa na cabeça. “Tança era muito alegre, ela dançava Candombe e quando ela ia dançar Candombe ela rodava assim”, e gira.
O gesto de lembrar se vale do corpo; Tança, que já é ancestre, surge vivificada e presentificada pela força da memória dos seus. É sua existência que guia a narrativa do filme. O modo como sua trajetória é contada se entrelaça com a própria história do Quilombo Mato do Tição, como corpo território, nas palavras da pesquisadora Célia Xakriabá.
Algumas considerações
Dona Maria, Dona Olinda, Lucicleide, Tança, Dona Nilse, Dona Bina, por meio da inscrição de suas presenças e narrativas nos filmes, nos permitem vislumbrar questões que mobilizam as lutas dos movimentos negros e as lutas das mulheres, que, no caso das quilombolas, ganham nuances preciosas, pela ligação com o território, a ideia de comunidade e a luta empreendida com e pela memória.
A pesquisadora e mulher quilombola de Conceição das Crioulas, no Salgueiro, em Pernambuco, Givânia Maria da Silva, afirma que “as mulheres quilombolas atuam como um acervo da memória coletiva; com elas estão registradas as estratégias de luta e resistência nos quilombos, os conhecimentos guardados e repassados de geração em geração”16, daí a fresta que a escuta de suas palavras abre para pensar as lutas que vêm sendo empreendidas por essas mulheres ao longo dos anos.
Esse movimento de luta comunitária, erguido por Zeferina, de Aqualtune e Dandara, em Palmares; de Tereza, do quilombo Quariterê, no Mato Grosso; de Maria Crioula, no Rio de Janeiro; de Felipa Maria Aranha, no Pará, segue vivo pela luta, amor e memória de muitas mulheres. Os quilombos resistiram a guerras e a ataques por todo o período colonial e também durante a república, afirmando seu direito aos seus territórios e seus modos de vida.
As mulheres quilombolas se lembram e elas também vão nos lembrar.
CADA ŪHEX [MULHER, MENINA] TEM A YÃMIYHEX [MULHER-ESPÍRITO] QUE A ACOMPANHA
Conversa em torno ao filme Yãmiyhex17, as mulheres-espírito
(direção: Sueli Maxakali, Isael Maxakali, 2019).
Esta entrevista com Sueli Maxakali foi realizada pela documentarista e pesquisadora Júnia Torres, integrante da Associação Filmes de Quintal. Especialmente gravada para a revista Verberenas, foi integralmente transcrita e os termos usados originalmente em língua tikmun’un foram mantidos. Entre colchetes [ ] seguem traduções e algumas contextualizações.
Júnia Torres é também a pesquisadora convidada para o debate sobre Yãmiyhex, as mulheres-espírito (Sueli Maxakali, Isael Maxakali, 2019), filme exibido na Sessão Verberenas de dezembro de 2021.
Tikmun’un é como se autodenominam as pessoas historicamente conhecidas como povo Maxakali, hoje habitantes de quatro aldeias e uma área de retomada localizadas no Vale do Mucuri, na região norte de Minas Gerais, em áreas exíguas, em nada comparáveis às terras e aos territórios em que tradicional e originariamente habitavam e percorriam. Com a voz, Sueli Maxakali18:
Como a gente fez esse filme foi assim: quando morre um kitôko [criança] sentimos que elas, as Yãmiyhex [espíritos femininos] ficam perto de nós, mulheres e mães. Sempre a gente dando comida, sempre a gente fazendo os vestidos para elas. Cada uma daquelas meninas [que nos aparecem nas sequências iniciais do filme] elas têm sua Yãmiyhex. Por isso a gente escolheu filmar elas perto de nós, filmar esse ritual de presença delas. Porque as Yãmiyhex são muito importantes na nossa vida, quando a gente tem algum problema.
Se acontecer alguma coisa, é yãmiy-kitoko [espírito-criança] quem avisa primeiro para nós. Aí vem, bate na porta e avisa. Antigamente, era esse yãmiy-kitoko quem avisava o pajé para fugir do não índio que ia vir para matar todo tihik [povo maxakali e demais parentes indígenas]. Aí explicavam e eles saíam fugindo assim, porque os filhos das Yãmiyhex-espírito, os kitôko que também são espíritos, avisavam os pajés. Por isso que Yãmiyhex é tão importante. Aí a gente escolheu para mostrar as Yãmiyhex e seus filhos. Porque antigamente não tinha filme, a gente não tinha oportunidade de mostrar nossos yãmiy [espíritos, encantados] e nem as Yãmiyhex [mulheres-espírito].
“Cineastas Maxakali tem outra visão”
Como as pessoas têm muito preconceito por nós, muita violência também, aí elas vão ver com o cinema, com o nosso cinema, que não é assim, não precisa dessa violência, desse preconceito. Então, para nós, foi muito importante para ver, mostrar que cineastas Maxakali tem outra visão. Eles fazem filmes diferentes sobre nossa própria vida, nossos rituais, nós vemos de outro jeito e nós nos vemos de outro jeito.
“Temos que respeitar, saber como filmar à distância. Não devemos chegar pertinho e filmar, filmar o rosto. Somos tihik, fazemos treinamento e respeitamos o pajé. Nós sabemos filmar com os pajés, aprendendo o que pode e o que não pode mostrar. Nós temos leis diferentes dos ãyuhuk [não-indígenas]. Por isso, somos cineastas indígenas. Sobre os rituais, a gente não vai contar tudo. Antigamente, tinha muito mato e os yãmĩy se escondiam dentro do mato. Hoje não, só há um pouquinho de mato e eles estão no nosso cabelo, nos acompanhando. Se disser alguma coisa errada, yãmĩy está me ouvindo. As Yãmĩyhex aguardam os vestidos em silêncio no interior do kuxex [casa tradicional de rituais]. Nem os homens nem as mulheres podem filmar ali. É um segredo nosso, um segredo que mantemos. Ele também faz parte da cura. Porque se vier um tempo em que não tem mais segredo, acaba nossa cura”19.

“Eu queria falar como é minha visão. Como Ūhex [mulher], eu tenho uma visão diferente”
Como eu sou Ūhex [mulher] eu tenho uma visão diferente do que um homem. O “cineasto” homem, ele vai filmar diferente. A minha visão como Ūhex, ela é diferente, é fora do kuxex [casa de rituais onde as mulheres não entram]. Eu vejo o ritual de outro lugar, de um outro ponto de vista, eu tenho uma visão diferente de filmar, de respeitar meu ritual, essa que é a minha visão. Eles [seu povo] têm muita confiança em mim, porque pelo nosso ritual, eu tenho muito respeito, sei que é um segredo para nós, sei que é o respeito pelas nossas filhas-Yãmiyhex. Era isso que eu queria falar, Júnia. E, tem uma base, que você sabe, que a gente tem o limite de responder, tem nossos segredos. E que nós não mostramos e nem queremos mostrar e nem falar, não é para todos. Isso é o nosso cinema. É assim.
“Como sou cineasta mulher, realizadora, as Yãmiyhex me deram muito essa força”
E também eu acho que eu como cineasta, realizadora Ūhex [mulher] para contar as histórias das Yãmiyhex que são mulheres também, então eu acho que elas, as Yãmiyhex me deram muito essa força, me levantou. Toda vez que a gente fica triste, eu sei que eu tenho um filme, Yãmiyhex, e isso me dá uma força maior e o meu povo também sabe que o filme das Yãmiyhex foi muito importante pra nós, assim, do mundo inteiro vendo. Eu acho que o Brasil tem assim, essa violência contra nós… Eu não quero citar nomes, mas o Brasil tem muita violência contra criança, contra os filhos, contra a diferença. Não aceita assim a diferença do outro, essa classe média, classe alta… Acho que as Yãmiyhex é a diferença, elas são a diferença de nós, elas são do outro mundo, elas são diferentes e nós as respeitamos, então eu quero citar isso pra você: ba’y [expressão Maxakali com sentido de conclusão do pensamento, entre outros significados, como bom ou bonito].
“Por isso que aconteceu dessa encenação: porque antigamente foi assim”
A encenação [procedimento fílmico que compõe as sequências iniciais], ela foi muito importante nesse filme porque mostramos que as Yãmiyhex [no tempo ancestral] se transformaram em Yãmiyhex [mulheres-espírito] por conta da violência machista dos homens, não é? Que antigamente, quando os homens foram caçar e não queriam dividir a caça, as mulheres comeram sucuri, e aí, eles não gostaram e mataram uma das Ūhex (mulheres). O espírito da mandioca [Kotkuphi] flechou essa mulher e então, elas foram descontar, se vingar dos homens.
E aí pra nós podermos mostrar esse filme e contar essa história, foram as próprias mulheres [Ūhex] que se transformaram. Nós falamos com as mulheres que agora elas iriam se transformar em Yiãmihex, porque antigamente foi assim que aconteceu, embora hoje não seja mais. Por isso que foi escolhido assim, de elas virarem Yãmihex no filme também. Por isso que aconteceu dessa encenação, porque antigamente foi assim. Porque quando elas foram nas batateiras [na roça], elas comeram a sucuri. Elas comeram e os ūpit [homens] que eram machistas, não gostaram que elas tenham matado a sucuri. E então, os homens mataram uma das mulheres e queimaram. Foi assim que eles descontaram. Um deles matou e foi assim que ela se transformou nas primeiras Yãmihex. Foi assim.
“Então é isso que é o meu sonho”
É muito importante o nosso filme circular dentro do Brasil, pra todos conhecerem. E jovens, fora do Brasil também, eu acho, Júnia, que tem que circular sim, pro mundo inteiro saber que o povo maxakali precisa ter uma terra, ter um rio saudável para nós podermos praticar nosso ritual, que nosso ritual, ele precisa. Meu povo virou Yãmiyhex, no rio. E meu povo são donos do rio, a nossa mãe água, que é também onde nós transformamos em Yãmiyhex. Por isso é importante os não indígenas reconhecerem que nós precisamos da nossa terra, do nosso rio, nós precisamos. O Isael [Maxakali] fala: “Sem a terra, não tem cinema”. Porque sem terra, sem água, não tem ritual, sem ritual não tem filmagem. O que nós iremos filmar?
Sonho com uma casa para nós estarmos mostrando nossos filmes, nós termos um lugar, não só fazer os filmes, mas também mostrar as filmagens. Ter um espaço como Yãy Hã Mĩy — Aldeia Escola Floresta, no nosso novo lugar, para nós termos uma casa agora, para nós fazermos só cinema, com computador, mostrar cinema a noite pras nossas crianças, para todos. Ter uma sala, espaço, só para fazer e mostrar cinema, então é isso que é o meu sonho: um dia a gente ver nosso espaço dentro de uma mata, nossa escola e uma sala de cinema.

Fotos de Roberto Romero.
Editorial
Há quase três anos, nós — Letícia, Glênis e Amanda — sentávamos no chão de um pequeno apartamento em Brasília para tentar decidir as estruturas de nosso projeto de 12 meses. Não sabíamos que o projeto só viria a acontecer em 2021. Enquanto propúnhamos que o filme do terceiro ciclo das Sessões Verberenas poderia ser um filme dirigido por uma mulher do século XX no Brasil, não sabíamos que, quando esse momento finalmente chegasse, viveríamos um presente em que a Cinemateca Brasileira seria vítima de um incêndio causado por negligência ativa dos responsáveis por essa instituição pública. Não sabíamos. Naquele momento, há três anos, a faísca para nossa curadoria era apontar para o que veio antes e possibilita o caminho construído até aqui.
“Primeiro, a gente ama a pessoa. Depois, quer se apossar do presente dela. Depois, quer se apossar do futuro dela”, escreve a protagonista Pity em Os homens que eu tive, de Tereza Trautman — o filme escolhido para esta Sessão Verberenas. Quando sua amiga chega e lê o texto, Pity o completa escrevendo: “E fica angustiada por não poder se apossar do passado”. Por sua estrutura interna, que é leal aos processos próprios de Pity, o filme remete à integridade do tempo. Por suas condições extrafílmicas, o filme remete à continuidade de um desenvolvimento histórico de construção de narrativas que escapavam à lógica hegemônica da ditadura militar. Por sua situação de exibição no momento atual, o filme estimula uma espectatorialidade que remete às ameaças constantes de destruição da memória no Brasil em nome de um ideal de progresso traidor. Trata-se do progresso que, próximo ao destino do anjo da história de Walter Benjamin e do anjo da geohistória de Bruno Latour, nos tornará ainda mais horrorizados quando virarmos as costas e dermos de cara com o lugar ao qual chegamos.
Em outra chave, os textos desta edição da revista Verberenas desestabilizam noções de passado, presente e futuro. Neles, o tempo não se satisfaz com essas três categorias isoladas. Não são olhares que encaram fixamente uma única direção. Pelo contrário, seus corpos livres, ouvidos abertos, olhos em busca se movimentam por essas três noções em um esforço, procurando uma aposta.
Escrever, ver um filme, fazer um filme, fazer planos e tomar quaisquer ações de construção: tudo isso é sempre uma aposta. No ato do gesto, do risco, naquele segundo se reúnem os três tempos da vida. Neste movimento, o texto de Waleska Antunes, sobre a obra Surname Viet Given Name Nam (1989), de Trinh T. Minh-ha, chama atenção ao permanecer no tempo do entre e, nesse limiar, abranger múltiplas vozes que tornam impossível uma verdade única sobre a mulher vietnamita. Já Ana Júlia Silvino escreve sobre fabulações que vibram através de ruídos, imagens que existem em função das temporalidades sonoras e sensoriais presentes nos filmes de Paula Gaitán.
A pesquisadora Isabella Poppe traz cenas da autobiografia da cineasta Marilu Mallet no exílio após a deflagração da ditadura militar chilena, e apresenta um isolamento histórico capaz de alienar uma pessoa do presente e da ideia de futuro, ao separá-la da construção coletiva de seu país. Trazemos ainda mais uma entrevista de Lygia Pereira, dessa vez com a cineasta Viviane Ferreira — em que a artista pensa o tempo como uma energia que a orienta, e o cinema que produz como meio para transmitir “modos de viver”. O texto conta com ilustração de Hana Luzia. Nesta edição, trazemos também os trabalhos visuais das artistas Isabella Pina, ilustradora, e Ana Luíza Meneses, fotógrafa que idealizou e produziu a capa da revista e do editorial.
Em uma carta a Juliano Gomes — e a todas que porventura quiserem tomar parte na conversa, Lorenna Rocha se posiciona como pensadora de um cinema negro em infindável processo de invenção, e propõe um olhar que contemple o abismo. Letícia Marotta entrevista a cineasta Anita Leandro, diretora de Retratos de Identificação (2013), que fala do processo de trazer arquivos à vida, em um tempo em que as ruínas da ditadura militar brasileira ainda estão à espera de ressignificação. A memória, no entanto, é feita também do presente cotidiano, e Camilla Shinoda compartilha em seu texto como as trocas de ideias e referências entre uma professora e seus alunos de audiovisual podem dar continuidade à produção das imagens que formarão o amanhã.
Também a fabulação pode ser um ato de subversão do tempo. Ao escrever sobre Os homens que eu tive, Roberta Veiga aponta que o filme de Trautman abre “uma fenda para uma vida possível” ao proporcionar imagens de gozo e autonomia no Brasil de 1973. Os homens que eu tive é o filme do terceiro ciclo das Sessões Verberenas, exibido de 24 a 26 de setembro e tendo seu debate com a pesquisadora convidada Roberta Veiga às 18h do dia 26.
Quando pensamos em Os homens que eu tive como marco histórico — considerado o primeiro longa-metragem moderno dirigido por uma mulher no Brasil — somos obrigadas a pensar também no que significa pensar nos filmes em termos de “primeiros”. Mais de quarenta anos separam Os homens que eu tive de O mistério do dominó preto, de Cléo de Verberena, de 1931, aquele que é considerado o primeiro longa-metragem clássico brasileiro dirigido por uma mulher. Em ambos os casos, o risco e a realidade do apagamento assombram: o filme de Verberena foi perdido, não se sabe de uma cópia que reste; o de Trautman foi censurado semanas depois da sua estreia em 1973. Face a esse constante perigo, não podemos evitar pensar na concretização desse medo e nos perguntamos: quantos filmes foram perdidos nesses quarenta anos? Quantos foram perdidos antes de 1931?
Resgatar as materialidades, os vestígios, agir e tecer um fio é uma decisão consciente. E, ao mesmo tempo que a continuidade é uma construção e um esforço, ela é também inevitável. Resta compreender o que levar conosco nesse processo e o que pode nos auxiliar a desvendar os desafios que o tempo determina. Esperamos que os textos publicados aqui, junto com a escolha curatorial, possam caminhar nessa direção.
Letícia Bispo, Amanda Devulsky e Glênis Cardoso
